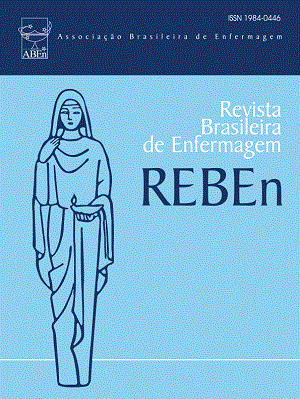Municipalização da saúde - os caminhos do labirinto* * Notas elaboradas a partir do Seminário sobre municipalização, organizado pela autora e pela professora Ligia M. Vieira da Silva, no núcleo de estudos dos Serviços de Saúde, DMP. FAMEB. UFBA, Salvador - BA. maio de 1991 Este estudo subsidiou as oficinas de trabalho da Comissão de Serviço da ABEn - Nacional nos Estados AIS - Ações Integradas de Saúde SUDS - Sistema Único e Descentralizado de Saúde FAS - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social PIASS - Programa de Interiorização das Ações de Saiíde e Saneamento * RSB - Revolução Socialista Brasileira * UCA - Unidade de Cobertura Ambulatorial ** AIH - Autorização para Internação Hospitar
Carmen Fontes Teixeira
Professora adjunta DMP. FAMEB. UFBA
INTRODUÇÃO
O objetivo deste texto é sistematizar alguns elementos de discussão acerca da proposta e do processo de MUNICIPALIZAÇÃO dos serviços de satíde. Enquanto proposta que tem uma base conceituai, buscamos fazer uma breve aproximação teórica que, essencialmente, permita a compreensão do significado da Municipalização por referência a outros termos e noções comumente usadas no discurso institucional em saúde, e na literatura existente como regionalização, privatização, democratização. Enquanto processo político-institucional, isto é, que se passa no interior das instituições que compõem o chamado "Sistema da Saúde", a partir da decisão política referentes a organização da gestão1 desse sistema, buscamos caracterizá-lo recuperando basicamente seus antecedentes históricos, as formas como tem sido desenvolvido na conjuntura mais recente, dos anos 80 para cá, e principalmente, buscando identificar a configuração do debate e das posições atuais em torno dele.
Essa dupla perspectiva se justifica, em primeiro lugar, pela intensa "contaminação ideológica", do debate atual, expressa no fato de que o termo Municipalização vem sendo usado indiscriminadamente por diversas forças políticas e atores institucionais no campo de saúde, com significados provavelmente distintos. Dada a diversidade de interesses e projetos políticos de curto e médio prazo sustentados por estes diversos atores, suspeitamos que o termo "Municipalização" tem adquirido o caráter de "palavra-valise", melhor dizendo, uma "mala preta" que carrega oculta, como a "caixa de Pandora" múltiplos sentidos.
Em segundo lugar, a decodificação ideológica do termo "Municipalização" e o mapeamento, ainda que aproximado, das posições políticas dos atores institucionais e sociais no cenário político da Saúde hoje, é importante devido ao conteúdo "estratégico" que tem sido dado a esse processo pelas autoridades do Governo Federal, a ponto de considerá-lo como tema central da 9ª Conferência Nacional de Saúde, entendendo-o como o eixo em torno do qual devem se articular os processos de implementação do Sistema Único de Saúde-SUS2.
REVISÃO CONCEITUAL
A Municipalização pode ser entendida como parte do processo de Descentralização da gestão do sistema de saúde3, e é nessa perspectiva, que trataremos de diferenciá-la de outras propostas.
Os estudos sobre Descentralização apontam a existência de duas vertentes principais na literatura especializada: uma vertente anglo-saxã (Inglaterra e Estados Unidos) e uma vertente francesa.
Na Inglaterra e Estados Unidos, se emprega o termo descentralização de um modo genérico. Nesse sentido RONDINELLI4 define descentralização como: "a tranferência de responsabilidade em matéria de planificação, gestão e alocação de recursos desde o governo central e suas agências para: a) as unidades de campo destes organismos do governo central; b) as unidades de níveis governamentais subordinados; c) as autoridades regionais ou funcionais com alcance geográfico e d) as organizações privadas ou voluntárias não governamentais" (tradução nossa).
Nessa definição percebe-se que descentralização abarca fenômenos como desconcentração de recursos e atividades, delegação de resposabilidades e tarefas e até privatização por transferência de responsabilidade do governo a entidades privadas (de caráter lucrativo ou filantrópico).
Na vertente francesa, a descentralização supõe a tranferência de poderes desde o nível central a uma autoridade de uma área ou de uma função especializada, com distinta personalidade jurídica. Na literatura francesa se destingue descentralização da desconcentração, que é o equivalente francês do que habitualmente se entende por descentralização administrativa, quer dizer, a transferência de atribuições ou responsabilidades de execução a níveis inferiores dentro do governo central e de suas agências. A desconcentração pode ser geográfica ou funcional e, segundo RONDINELLI4 tem sido a forma mais usual de organização da relação entre os níveis centrais e os locais dos países em desenvolvimento durante a década de 70.
É importante enfatizar que, a diferença entre a descentralização e desconcentração não é uma questão de grau. Não existe uma continuidade entre a desconcentração ou mera descentralização administrativa e a descentralização real de decisões políticas. Nesse sentido, BOISIER5 assinala que a descentralização implica no estabelecimento de órgãos com personalidades jurídicas, patrimônio e formas de funcionamento próprias. Em troca, os órgãos desconcentrados operam com a personalidade jurídica que corresponde ao respectivo órgão central.
Revisando o enfoque proposto no recente texto produzido pela OPS, do qual participaram CAPOTE, R, VILAÇA MENDES e PAGANNI, J.M.C., cuja redação esteve a cargo do grupo coordenado por OSZLAK, O6 aparece: "consideramos que a descentralização efetiva dos recursos de saúde impõe o deslocamento do fluxo de poder político, administrativo e tecnológico, desde certas unidades centrais e níveis periféricos, intermediários e locais. A descentralização é assim um instrumento de reestruturação do poder, aproximando os problemas a instituições de nível intermediário e local e transferindo-lhes a capacidade para tomar decisões, dado que não há descentralização efetiva sem capacidade normativa a cada nível. Se deve diferenciar então a delegação de poderes para decidir sobre os fins e/ou os meios que supõe o processo de descentralização e o que constitui uma mera transferência de atribuição sem o correspondente poder decisório (tradução nossa).
Além disso, se chama a atenção ao fato que, ainda que se possa considerar a centralização e a descentralização como modelos polares, "praticamente nenhum sistema real se ajusta a essas características extremas, senão que, em sua maioria, apresentam traços de um e outro modelos". Parece ter mais sentido, portanto, considerar que existe um contínuo que vai da centralização à descentralização, é que qualquer sistema existente exibe normalmente uma combinação de aspectos centralizados e descentralizados, seja na fixação de políticas ou na gestão das instituições e programas.
Postos esses elementos de referência, podemos retomar o estudo da MUNICIPALIZAÇÃO, considerando a possibilidade do termo trazer embutido os múltiplos significados revisados acima. Daí pensamos que é necessário que se identifique, antes de mais nada, qual é o referencial que orienta a proposta de MUNICIPALIZAÇÃO, ou melhor, qual a concepção de descentralização que está "por trás" da proposta de municipalização, no discurso de vários atores em cena.
Pelo exposto, fica claro que é preciso situar-se em um determinado ponto, para então poder-se destinguir a visão dos demais atores. Entendendo que a Muncipalização é parte de um processo de descentralização política, técnica e administrativa do sistema de saúde, que supõe uma reestruturação do poder no contínuo centraHzação-descentralização, parece-nos que o norte a orientar o desenvolvimento do processo é exatamente a discussão em torno da configuração desejada do Sistema de Saúde, enfim, a imagem7 ou "Situação Objetivo8" que se tenha do futuro a ser alcançado.
Explico melhor: em primeiro lugar, localizar os elementos de referência serve para diferenciar a visão dos atores. Assim, se para nós, por exemplo, Municipalização é parte de um processo de descentralização política, técnica e administrativa do sistema de saúde, que no limite, inverte a relação nível central (federal) e nível local (municipal), no que diz respeito a formulação e implementação de políticas, organização e gestão dos processos de trabalho e manejo de recursos (financeiros, humanos, fiscais, materiais), isto implica em uma reestruturação ampla, tanto das estruturas e práticas de cada nível de governo do sistema de saúde (federal, estadual e municipal) quanto das relações (políticas e administrativas, mediadas pela reacionalidade técnica)9.
Ora, nessa perspectiva, a municipalização não se confunde, em primeiro lugar, com a desconcentração (do qual o exemplo histórico não conhecido em nossa realidade foram as propostas de regionalização de recursos nos anos 70), nem tampouco com a delegação de responsabilidades e atribuições (da qual o exemplo mais conhecido foram os convênios AIS e SUDS nos anos 80), nem com a privatização (desde que se trata de uma reestruturação de poder no âmbito do sistema de governo, do estado, do aparato governamental público embora, como veremos adiante, possa vir a favorècê-la, nem tampouco com a democratização (que implica em amplicação da participação de atores sociais anteriormente excluído, do processo decisório, quer por não contar com mecanismo de participação indireta quer por ter obstruído possívei canais de participação direta10.
Municipalização nessa paerspectiva é apenas um processo de reestruturação interna ao aparelho do estado em saúde, que supõe a transferência de poder (cedida/conquistada) dos níveis centrais de governo aos níveis periféricos. Não é, entretanto, como qualquer processo social e político, neutro.
A restruturação do aparato de estado em geral e em saúde em particular, obedece a própria dinâmica das forças em confronto e o significado histórico concreto que venha a apresentar depende da correlação dessas forças em cada momento. Daí, a necessidade de superar a revisão conceituai e partir para a análise histórica do processo político em saúde, para identificar o lugar ocupado pela municipalização no jogo atual das forças sociais presentes no processo.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A proposta da municipalização de saúde foi aventada no Brasil, já nos anos 60, no contexto da discussão em torno das chamadas "Reformas de base", sendo inclusive objeto de debate na 3- Conferência Nacional de Saúde de 1963".
Com a implantação do regime autoritário, o processo que se fortaleceu caminhou em direção frontalmente oposta, de centralização política e concentração de recursos no âmbito do governo federal, como já analisado por vários autores. Isto favoreceu no campo de saúde, a toda uma política de privatização do sistema, através da transferência de recursos públicos geridos pela Previdência Social (INPS, depois INAMPS), ao setor privado e pela atuação de órgãos de nível central encarregados do "apoio ao desenvolvimento social" como o FAS12.
Em meados dos anos 70, no contexto da "abertura social" iniciada no governo Geisel, o Ministério da Saúde desencadei a implantação dos chamados Programas de Extensão de Cobertura (PECs), dos quais o PIASS, para a região Nordeste, implicou em desconcentração de recursos (físicos, pela construção de postos e centros de saúde, humanos pela capacitação de pessoal principalmente de nível auxiliar e materiais, equipamentos básicos da chamada "medicina simplificada" trazendo embutidos as propostas de regionalização e hierarquização dos serviços de saúde pública vinculadas às Secretarias Estaduais de Saúde13.
Já nos anos 80, no contexto da eclosão da crise previdenciária (financeira e política institucional), o Ministério de Previdência foi o desencadeador das reformas parciais através de estratégias como as AIS, posteriormente o SUDS, que implicaram em delegação de responsabilidades, através de convênios com governos estaduais e termos de adesão dos municípios ao(s) SUDS(s). Paralelamente, crescia o chamado "Movimento Sanitário", que desde 1978/79 já havia colocado a discussão da Saúde como parte da conquista da democracia e proposto a criação do Sistema único de Saúde.
O debate em torno da configuração institucional desse sistema não passou de formulações genéricas em termos de princípios como unificação, descentralização e democratização, no que se referia à gestão político-administrativa, e aos princípios da universalidade, integralidade e eqüidade no que se referia a relação da oferta-demanda por serviços à população.
Mesmo no âmbito da Comissão Nacional da Reforma Sanitárias15, criada após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que amalgamou o consenso de um amplo leque de forças políticas em torno da "bandeira" da Reforma Sanitaria Brasileira, não se avançou muito no debate sobre a organização e o exercício do poder político-institucional em saúde, até porque, "os ventos já não sopravam tanto" na direção da consolidação das amplas mudanças propugnadas no discurso da reforma.
Sem muita clareza estratégica e sem condições de estabelecer o consenso político em bases sólidas, o movimento sanitário quase se dividiu por ocasião da formulação e implementação do SUDS, visto que, enquanto uma corrente o entendia como "estratégiaponte" para o SUS, permitindo a acumulação de experiências de gestão "estadualizadas" e abrindo espaços à ampliação do movimento e acumulação de poder, outros o entendiam como "um passo atrás" que dificultava a unificação "pelo alto" que vinha sendo construída nos embates travados na Assembléia Nacioonal Constituinte e posteriormente em torno da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde16.
Divisões e conflitos internos do "movimento sanitário" à parte, que a meu ver ultrapassam a discussão em torno de estratégicas conjunturais e refletem cisões mais profundas em relação aos projetos políticos das forças que momentaneamente o constituiram, o importante é dar-se conta que, nessa conjuntura (86-89) não se avançou substancialmente em detalhar a "Imagem Objetivo" em torno do qual se deveriam fortalecer os esforços tanto no plano jurídico-parlamentar quanto político-institucional e no plano dos chamados "movimentos sociais" supostos aliados da RSB*, porém com uma série de problemas de origem e condução não superados neste momento.
De fato, já em 87/88, um estudo da FUNDAP17 apontava as possíveis "Imagens-Objetivos" decorrentes da implementação do SUDS nos Estados, chamando a atenção de que o SUS desejado aparecia no horizonte das alternativas com, pelo menos, 3 configurações: um SUS em que o nível federal unificado, deteria o controle sobre o processo de formulação e implementação de políticas: um SUS composto pelos SUDS(s) estaduais, em que o poder estaria concentra do nos governos estaduais, cabendo ao nível federal a coordenação e a eventual correção de desigualdades extremas nas distribuições de recursos, e em SUS interrogado em que não ficava claro o resultado que se alcançaria com o avanço do processo de delegação de responsabilidades aos municípios.
Se a heterogeneidade das situações políticas, econômicas, de infraestrutura dos sistemas estaduais, de organização dos serviços e da gestão, do próprio perfil epidemiológico da população já indicavam a complexidade que resultaria na condução de um conjunto de SUDS(s) sem que se perdesse a unidade direcional necessária ao Sistema Nacional de Saúde, imagine-se a criação de mais de 4.000 sistemas cuja heterogeneidade vai de um extremo, como o município de São Paulo, a um pequeno município com uma densidade populacional mínima e grande extensão territorial, como na região Amazônica ou Centro-Oeste.
Enfim, a meu ver, ainda não se conseguiu passar das generalizações, quer sobre processo de descentralização da gestão, quer, até uma lacuna mais grave, sobre processos de reorganização de serviços que contemplem esta heterogeneidade de situações sem perder a unidade da condução da política de saúde a nível nacional18.
Nesse sentido, como é que se está colocando atualmente a proposta e o processo de municipalização? Sem pretender esgotar a discussão, interessame apenas mapear alguns elementos do contexto e algumas tendências possíveis que podem auxiliar a superação do debate ideológfico e permitir tomada de posição mais conseqüente.
Em primeiro lugar, o enfrentamento no plano geral, entre um projeto neo-liberal que defende a redução do papel do Estado no direcionamento do processo de reprodução sócio-econômica, e um projeto "reformador", construído penosamente ao longo dos anos de luta contra o regime autoritário, vem se inclinando decididamente para a direita ou seja, para a rearticulação das forças políticas conservadoras, que usam a bandeira do neo-Hberalismo, da concepção de "Estado Mínimo" de privatização das estatais, de redução dos gastos públicos, etc, etc, para garantir a sobrevivência e até uma sonhada recuperação do "desenvolvimento econômico" em bases renovadas do ponto de vista da estrutura de propriedade e da relação entre o capital-trabalho13.
No campo da saúde, a vitória da ideologia neo-liberal tem duas implicações correlatas: a desresponsabilização progressiva do Estado sobre as políticas sociais e da saúde em particular, contrariando-se na prática, o disposto na Constituições Federal, e a reprivatização radical do sistema de saúde, pelos menos de uma parcela dos recursos de alta tecnologia, e setores mais "rentáveis" da assistência ambulatorial e hospitalar.
O projeto de descentralização, através da municipalização da saúde proposta pelo governo federal, ao tempo em que obedece a esses determinantes de ordem econômica-financeira e política, tem um outro componente de natureza conjuntural, isto é, a possibilidade de transferência de recursos ao municípios servir de alavanca ou ajudar a consolidar uma estratégia política de apropriação e esvaziamento do discurso descentralizador "municipalista" de um determinado setor da oposição, no que está chamando recentemente de frente "anti-quercista". Isto é, pode ser um pouso d'água no moinho das estratégias da "frente antiquercista", ajudando a cooptação de numerosas forças políticas, pricipalmente nos municípios do interior do país, ampliando as bases de sustentação da coligação partidária que se encontra no governo.
Por outro lado, essa cooptação é plausível, na medida em que, a maior parte dos municípios vivem as agruras da recessão econômica e, pragmanticamente, se mobilizam pela obtenção dos recursos financeiros acenados pelo governo federal. Nesse contexto, os governadores de estados e seus secretários de saúde apresentam tendências diversas, de acordo com o mapa político estadual, alguns, como o da Bahia, sendo momentaneamente contrários à municipalização, a espera das mudanças no quadro político a partir das próximas eleições municipais.
Enfim, entre o pragmatismo econômico-financeiros e o clientelismo político-partidário, desenvolveuse a maior parte dos movimentos no seio dos órgãos dirigentes e burocracia do Estado no plano federal, estadual e municipal.
O que se oculta nesse processo? As implicações substantivas das opções e dos mecanismos de transferência de recursos que estão sendo elaborados, divulgados e colocados em prática:
a) a lógica da "privatização" do aparato de produção de serviços, tanto pela ampliação do mercado, a partir da desresponsabilização do Estado (governo federal), quanto pela provável opção pela compra de serviços do setor privado, opções que muitas prefeituras podem fazer, devido aos vínculos entre o poder político local e a corporação médica, e ainda a própria "privatização" da produção de serviços no âmbito das instituições públicas, gerada pela subordinação real dos processos de trabalho à lógica da produtividade induzida pelos mecanismos de repasses de recursos (UCA*, AIH** pública);
b) o fortalecimento decorrente de um modelo de organização da produção de serviços que se afasta cada vez mais das necessidades de saúde e das necessidades de serviços de saúde da população, em função do seu padrão epidemiológico e sanitário, reforçando-se as demandas por serviços de consumo individual, baseado no paradigma clínico20, sabidamente insuficiente e ineficaz para dar conta dos complexos problemas de saúde da população, em tempo de cólera, dengue, malária, tuberculose, mas também violência, "stress", doenças cárdio-vasculares e outras crónicas-degenerativas21.
c) a "(des)politização" da saúde, arduamente conquistada nos anos de crescimento do movimento sanitário, em que se tentou politizar as condições de vida e trabalho como condicionantes e determinantes das condições de saúde, agora remetida a contabilidade de serviços e à ideologia neo-liberal do consumismo, sob o lema de 'acabar com as filas", enquanto se faz vista grossa a deterioração da qualidade de vida, à miséria urbana e rural, ao acréscimo das desigualdades e da injustiça social.
TENDÊNCIAS POSSÍVEIS
Pelo exposto, entende-se que descentralização e por conseguinte a municipalização como uma das formas possíveis daquela, é um processo político cujo conteúdo, alcance e implicações, depende do jogo político entre as forças políticas-institucionais e sociais mais amplas que o promovem, implementam, obstaculizan! ou reforçam. Essa dinâmica política, é movida pelas expectativa de ganhos e/ou perdas, mediatos e imediatos que tais forças tenham no processo. Não é portanto suficiente colocar-se contra ou a favor da municipalização, ou até mesmo contra ou a favor de aspectos parciais do processo de municipalização.
É necessário, ao nosso ver, recolocar algumas questões que têm sido postas de lado pela ênfase democrática em torno dos mecanismos de repasse de recursos, critérios para distribuição dos mesmos etc. É necessário "repolitizar" o debate sobre Municipalização, denunciando os propósitos subjacentes e identificando as implicações possíveis das opções que vem sendo adotadas.
Nesse sentido, é preciso perguntar, qual é o Sistema Único de Saúde que se pretende implementar através da Municipalização? Aquele cujas linhas gerais encontram-se no texto constitucional ou o que se desenha na Lei Orgânica? Ou o que está sendo construído na prática dos atores que se movimentam nessa conjuntura (as autoridades políticas a nível federal, estadual, municipal, as organizações representativas das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, os burocratas que elaboram os instrumentos de implementação do processo, ou os organismos que aglutinam profissionais e técnicos da saúde ou ainda os representantes do esvaziado "movimento sanitário")?
Enfim, sem pretender fechar o debate, pelo contrário buscando reabri-lo operando um deslocamento do campo técnico-administrativo para o político, é importante ressaltar que, as principais tendências que se insinuam no momento, parecem ser a de uma municipalização restrita, com transferência de recursos financeiros aos municípios, com possibilidades de fortalecimento do modelo assistencialista, inclusive com reprivatização radical em municípios que comportem investimentos por parte da iniciativa privada, que venha a se beneficiar de convênios e contratos com as prefeituras.
Por outro lado, em alguns estados, pode-se antever como tendência a manutenção da situação atual, na medida do bloqueio através de medidas protelatórias adotadas pelos governos estaduais.
E, finalmente, em alguns municípios geridos por forças políticas sociais "progressistas" há a possibilidade de buscar-se aprofundar a municipalização dos serviços, que pode vir a adotar, em alguns casos, a proposta de implantação dos Distritos Sanitários, entendidos com espaços de transformação das práticas de saúde23. A matriz abaixo tenta sistematizar essas tendências, considerando a articulação possível de dois processos não necessariamente interligados: a descentralização da gestão através da transferência do controle sobre os recursos, inclusive recursos de poder (político, técnico e administrativo, ou seja, capacidade de decisão sobre as políticas de saúde a nível local, a forma de sua implementação e os recursos para operacionalizá-la), e, por outro lado, a reorganização dos serviços como parte dessas políticas a nível local ou não.
MATRIZ DE TENDÊNCIAS PROVÁVEIS DA MUNICIPALIZAÇÃO
Clique para ampliar

Evidentemente esta matriz é um esforço de sistematização ainda preliminar, entendemos que cada opção destas (a, b e d) comportam "variantes" de acordo com a concepção e prática prevalente a nível do aparato institucional de Saúde em cada município e da própria situação de partida, onde se insere o processo de Muncipalização.
Um ponto crítico, por exemplo, é se o controle gerencial permanece restrito ao setor público ou se abarcará, em determinados municípios, o controle sobre o setor privado contratado ou credenciado, questão que só se coloca, evidentemente, em municípios de médio e grande porte em que exista essa forma de relacionamento público-privado para a produção compra/venda de serviço de saúde.
Do mesmo modo, a Distritalização comporta pelo menos duas variantes: uma que vem sendo chamada de "concepção topográfica-burocrática", e outra que entende o Distrito Sanitário como espaço de processos sociais de transformação de práticas de saúde22.
O detalhamento dessa variante, entretanto, extrapola os limites desse trabalho e exige um acompanhamento mais rigoroso das experiências em processo e os rumos que virão a tomar com o desenvolvimento da Municipalização, principalmente a partir dos debates que se travarão na 9ª Conferência Nacional de Saúde.
NOTAS EXPLICATIVAS
1 Sobre o conceito de GESTÃO em saúde ver OMS,Processo de Gestion para el Desarollo Nacional de 1ª Salud. Série SPT 2.000 no 5, Genebra, 1981. Uma revisão interessante das concepções contemporâneas sobre gestão, encontra-se em MOTA, P.R. A Ciência e a Arte de Ser Dirigente, Record, Rio de Janeiro, 1991,256 p.
Uma pequena contribuição pessoal foi tentada com texto "A Questão Gerencial como Comprometimento Estratégico da Implantação do SUDS " apresentado no Seminário "Novas Concepções em Administração e Desafios do SUS: em busca de estratégia para o desenvolvimento gerenciaT. ENSP/FIOCRUZ, 15-19 de outubro , 1990. Rio de Janeiro.
2 Ver proposta preliminar do Seminário da 9ª CNS, em discussão no Conselho Nacional de Sadde e as entrevistas concedidas pelo Ministério da Saúde e revistas e jornais.
3 Há vários textos sobre o tema na literatura especializada. Recomendamos especialmente o recente documento OPS/OMS, Descentralização de Servidos de Salud. Tema El Estado y los Servidos de Salud, Serie Desarollo de Servicio de Salud, no 17, BS Aires 15 de junho de 1987.
4 RONDINELLI, D. et alie, Aprial OPS/OMS. Descentralización de Servicio de Salud, op. cit p. 12 e seguintes.
5 BOISIER, S. apud OPS/OMS, op. cit. pag. 13.
6 OPS/OMS, op. ver especialmente item III e IV.
7 CPPS, Formulcion de Políticas de Salud, Ver OPS CENDES, Venezuela, 1975.
8 MATUS, C. Política, Planificación y Gobierno Ver OPS, Washington, 1988.
9 Sobre a questão da estrutura de poder en Saúde ver TESTA, M. "Estructura de poder em el sector salud" UCV, 1979 (mimeo), em que o autor distingue o poder político (capacidade de mobilizar vontades), do poder técnico (manejo de informações, conhecimento e tecnologia) e poder administrativo (manejo de recursos no sentido mais tradicional: recursos físicos, financeiros, humanos e materiais).
10 Existe vasta literatura sobre o processo histórico de desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil. Ver especialmente OLIVEIRA, J. do A & TEIXEIRA, S.M.F. (In) Previdência no Brasil, Vozes, Petropoles, 1985, 360 p. e PAIM, J.S, Saúde, Crise e Reforma. Salvador, UFBA, 1986, 254 p. Uma reflexão crítica recente, sobre novos conceitos ou estudos neste campo, encontrase em POSSAS, C. Estado, Movimentos Sociais e Reformas na América Latina: uma reflexão sobre a crise contemporânea, trabalho apresentado ao I Congresso Latino-Americano de Medicina Social e II Taller, Caracas, Venezuela, 16-23 março de 1991.
11 Ver LUZ, M.T. Instituições Médicas no Brasil, Graal, Brasil, R.J. 1977.
12 Ver BRAGA, J.C. & GOES DE PAULA S. Saúde e Previdência: estudo de política social HUCITEC, São Paulo, 1978.
13 ROSAS, E J. A extensão de cobertura dos serviços de saúde Diss. Mestrado, ENSP, FIOCRUZ, 1979.
14 Sobre as AIS e o SUDS há vários artigos, publicados em revistas como a Sadde em Debate. Sobre o movimento sanitário especialmente ver ESCOREL, S. Reviravolta na Saúde, Diss. de Mestrado ENSP/FIOCRUZ, 1987.
15 Ver especialmente CNRS, Doc. III, Rio de Janeiro, 1987.
16 C/polêmica expressa nos artigos de PAIM, J.S. E FLEURY, S.M. publicados na revista Saúde em Debate em 1986.
17 FUNDAP, Perspectivas institucionais da Descentralização na Saúde, D T/24 São Paulo, março de 1988. Leitura a partir do Diagrama da pág. 6.
18 Em que pesem os esforços feitos por alguns grupos em torno do chamado "modelo assistencial no SUS", conforme documentos institucionais como o de SILVEIRA, r.R. et alli. Distrito Sanitário contribuição para um novo tipo de atendimento dos serviços de saúde, INAMPS, Rio de Janeiro, 1987 ou MS. SESUS. Modelos Assitenciais no SUS, Brasília, D.F. 1990.
19 Ver, por exemplo, o texto de NOGUEIRA, M.A. e LAHUERTA, M. "O governo Collor, o Estado e a democracia no Brasa", apresentado no Seminário "Novas Concepções em Administração e desaños do SUS "ENSP/FIOCRUZ/FUNDAP/SP. Rio de Janeiro, 15-19 de outubro de 1990.
20 Ver textos de PAIM, J.S. Práticas de Saúde e Distritos Sanitários (mimeo) 1990.
21 A complexidade do perfil ou padrão epidemiológico da nossa população é discutida em POSSAS, C. Epidemiologia e Sociedade: heterogenidade estrutural e saúde no Brasil, Hucitec, São Paulo, 1989.
22 MENDES, E.V. O Concenso do Discurso e o Dissenso da Prática Social: notas sobre a municipalização da saúde no Brasil. São Paulo, maio de 1991, mimeo.
23 Ver MENDES, E.V., TEIXEIRA, C.F., ARAÚJO, E.C. e CARDOSO, M.R. Implantação de Distritos Sanitários. Conceitos-chaves (mimeo), 1991.
-
3Há vários textos sobre o tema na literatura especializada. Recomendamos especialmente o recente documento OPS/OMS, Descentralização de Servidos de Salud. Tema El Estado y los Servidos de Salud, Serie Desarollo de Servicio de Salud, no 17, BS Aires 15 de junho de 1987.
- 7 CPPS, Formulcion de Políticas de Salud, Ver OPS CENDES, Venezuela, 1975.
- 8 MATUS, C. Política, Planificación y Gobierno Ver OPS, Washington, 1988.
- 9 Sobre a questão da estrutura de poder en Saúde ver TESTA, M. "Estructura de poder em el sector salud" UCV, 1979 (mimeo), em que o autor distingue o poder político (capacidade de mobilizar vontades), do poder técnico (manejo de informações, conhecimento e tecnologia) e poder administrativo (manejo de recursos no sentido mais tradicional: recursos físicos, financeiros, humanos e materiais).
- 10 Existe vasta literatura sobre o processo histórico de desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil. Ver especialmente OLIVEIRA, J. do A & TEIXEIRA, S.M.F. (In) Previdência no Brasil, Vozes, Petropoles, 1985, 360 p.
- e PAIM, J.S, Saúde, Crise e Reforma. Salvador, UFBA, 1986, 254 p.
- Uma reflexão crítica recente, sobre novos conceitos ou estudos neste campo, encontrase em POSSAS, C. Estado, Movimentos Sociais e Reformas na América Latina: uma reflexão sobre a crise contemporânea, trabalho apresentado ao I Congresso Latino-Americano de Medicina Social e II Taller, Caracas, Venezuela, 16-23 março de 1991.
- 11 Ver LUZ, M.T. Instituições Médicas no Brasil, Graal, Brasil, R.J. 1977.
- 12 Ver BRAGA, J.C. & GOES DE PAULA S. Saúde e Previdência: estudo de política social HUCITEC, São Paulo, 1978.
- 13 ROSAS, E J. A extensão de cobertura dos serviços de saúde Diss. Mestrado, ENSP, FIOCRUZ, 1979.
- 14 Sobre as AIS e o SUDS há vários artigos, publicados em revistas como a Sadde em Debate. Sobre o movimento sanitário especialmente ver ESCOREL, S. Reviravolta na Saúde, Diss. de Mestrado ENSP/FIOCRUZ, 1987.
- 15 Ver especialmente CNRS, Doc. III, Rio de Janeiro, 1987.
- 16 C/polêmica expressa nos artigos de PAIM, J.S. E FLEURY, S.M. publicados na revista Saúde em Debate em 1986.
- 17 FUNDAP, Perspectivas institucionais da Descentralização na Saúde, D T/24 São Paulo, março de 1988. Leitura a partir do Diagrama da pág. 6.
- 18 Em que pesem os esforços feitos por alguns grupos em torno do chamado "modelo assistencial no SUS", conforme documentos institucionais como o de SILVEIRA, r.R. et alli. Distrito Sanitário contribuição para um novo tipo de atendimento dos serviços de saúde, INAMPS, Rio de Janeiro, 1987 ou MS. SESUS. Modelos Assitenciais no SUS, Brasília, D.F. 1990.
- 19 Ver, por exemplo, o texto de NOGUEIRA, M.A. e LAHUERTA, M. "O governo Collor, o Estado e a democracia no Brasa", apresentado no Seminário "Novas Concepções em Administração e desaños do SUS "ENSP/FIOCRUZ/FUNDAP/SP. Rio de Janeiro, 15-19 de outubro de 1990.
- 20 Ver textos de PAIM, J.S. Práticas de Saúde e Distritos Sanitários (mimeo) 1990.
- 21 A complexidade do perfil ou padrão epidemiológico da nossa população é discutida em POSSAS, C. Epidemiologia e Sociedade: heterogenidade estrutural e saúde no Brasil, Hucitec, São Paulo, 1989.
- 22 MENDES, E.V. O Concenso do Discurso e o Dissenso da Prática Social: notas sobre a municipalização da saúde no Brasil. São Paulo, maio de 1991, mimeo.
- 23 Ver MENDES, E.V., TEIXEIRA, C.F., ARAÚJO, E.C. e CARDOSO, M.R. Implantação de Distritos Sanitários. Conceitos-chaves (mimeo), 1991.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
27 Fev 2015 -
Data do Fascículo
Mar 1991