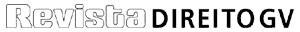Resumo
O presente artigo aborda o modo pelo qual a relação entre as obras de Augusto Teixeira de Freitas e Friedrich Carl von Savigny é retratada pela literatura de viés jurídico-historiográfico no Brasil. Parte-se da hipótese de que os mencionados juristas participam da dimensão histórica do paradigma contemporâneo da civilística brasileira, configurando, dessa maneira, parte da anatomia da tradição jurídica nacional. O desenvolvimento da investigação demonstra que a relação entre Freitas e Savigny é propagada como um lugar-comum literário que, além de exercer funções retóricas, sugere uma relativa independência entre o conhecimento científico-historiográfico e a articulação da memória no campo jurídico. Tal lugar-comum serviria como suporte para a demonstração da aproximação entre o direito civil brasileiro e o alemão - significando, com isso, o afastamento em relação ao direito português e ao modelo francês de codificação civil -, além de medida da originalidade e qualidade da obra de Teixeira de Freitas, bem como da própria civilística nacional.
Palavras-chave
Codificação civil; Brasil Império; direito civil; historiografia; memória
Abstract
The present paper approaches how the relation between the body of work of the Brazilian jurist Augusto Teixeira de Freitas and the German Friedrich Carl von Savigny is portraited in the Brazilian legal-historiographic literature. The initial hypothesis is that both jurists are part of the historical dimension of the Brazilian civil law’s paradigm, setting, therefore, a portion of its legal tradition’s anatomy. The development of the research has shown that the relation Freitas-Savigny is propagated as a literary commonplace with not only rhetorical purposes, but also suggestive of a relative independence between scientific historical knowledge and the articulation of memory in the legal field. This commonplace would then serve as a medium to demonstrate the convergence between the Brazilian and German civil law - meaning, on the Brazilian side, the departure from the Portuguese law and the refusal of the French model of civil law codification -, as well as an evidence of the originality and quality of Teixeira de Freitas’ work and of the Brazilian civil law itself.
Keywords
Civil law codification; Brazilian Empire; civil law; historiography; memory
Introdução
Dois eixos temáticos principais podem ser detectados nas narrativas acerca da história da primeira codificação civil brasileira: no primeiro deles, destacam-se a ininterrupta vigência das Ordenações Filipinas entre 1603 e 1916 e a rejeição ao modelo francês de codificação. A partir disso, a história do direito privado brasileiro teria tomado um rumo marcadamente diverso daquele seguido por Portugal, observando-se entre os brasileiros a conservação da tradição lusitana, que não teria ocorrido entre os próprios portugueses.1 1 Exemplos que compõem esse eixo encontram-se em Braga da Cruz (1955), Couto e Silva (1988), Gomes (2003), Moreira Alves (1993, 2009) e Pousada (2006).
O segundo eixo revela que o resultado do distanciamento em relação ao modelo francês sugeriria a aproximação em direção à ciência jurídica alemã. Com efeito, o “atraso” da codificação civil, o estabelecimento da parte geral como fórmula sistemática de estilo tanto na legislação quanto na organização do ensino jurídico, além da manutenção de uma separação rígida entre os planos do direito obrigacional e das coisas, sugerem compatibilidades entre os sistemas que não poderiam ser explicadas pelo mero acaso, indicando a existência de uma base comum de desenvolvimento.2 2 Nesse sentido, Couto e Silva (1988, p. 163) insere, como tarefa central para conhecimento da atual situação de um sistema jurídico, a aferição de sua posição com relação aos códigos mais influentes, não havendo dúvida, segundo o autor, “de que a questão é a de saber em que medida o direito privado brasileiro, especialmente o Código Civil Brasileiro, sofreu a influência do Código Napoleônico, ou do Código Civil Germânico, de 1900 [...]”. Nesse contexto, teria o direito civil brasileiro se mantido “imune à influência do Código Napoleônico”. Tullio Ascarelli (1947, p. 24), por sua vez, aduz que a passagem do sistema de direito comum para a codificação, sem que, no intermédio, se observasse um movimento de renovação legislativa decorrente da própria revolução francesa, aproximava a história jurídica brasileira e alemã, ainda que não se observassem, no Brasil, ao contrário do que houve na Alemanha, o surgimento de codificações territoriais particulares, como o Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten, de 1794. Nesse mesmo sentido, ver Couto e Silva (2004, p. 307-308). Para uma avaliação da posição de Ascarelli, consultar Fonseca (2006a, p. 61-62).
A formação da escola do Recife aponta para uma explícita inclinação da ciência jurídica brasileira à alemã na segunda metade do século XIX.3 3 Sobre a escola do Recife e o influxo germanófilo no direito brasileiro, ver Losano (1974, 1992) e Chacon (1969). Em Portugal, por sua vez, vê-se desabrochar a tese germanista da origem do direito lusitano, em antítese à tese romanista e em paralelo ao movimento de renovação cultural e literária de inspiração germanista no seio da chamada Escola de Coimbra, ao longo da década de 1860. Conferir Vera-Cruz Pinto (1996). Entretanto, a historiografia recolhe elementos sugestivos do influxo de ideias jurídicas gestadas na Alemanha desde o período anterior ao da atuação da escola. Nesse contexto, assume protagonismo na literatura a obra de Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883): com ele, não apenas se inicia oficialmente o processo de codificação do direito civil brasileiro,4 4 Como cediço, Augusto Teixeira de Freitas foi incumbido pelo governo imperial, por intermédio do contrato celebrado em 15 de fevereiro de 1855, de levar a efeito a “última parte dos trabalhos preparatorios” para a codificação do direito civil brasileiro. Isso significaria, segundo o programa estipulado, consolidar “toda a Legislação Civil Patria”, com o propósito de “mostrar o ultimo estado da Legislação” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1876, p. XXX-XXXI). Em 1858, ao ter seu trabalho de consolidação aprovado, Freitas foi contratado em 10 de janeiro de 1859 para a redação do projeto do código civil do império, tarefa que deu origem ao Esboço do código civil. O contrato foi aprovado pelo Decreto n. 2.337, de 11 de janeiro de 1859. Sobre a vida e obra de Teixeira de Freitas, consultar Meira (1979). Para René David (2005, p. 78), acompanhado posteriormente por Jan Peter Schmidt, Freitas teria sido não apenas o pioneiro da codificação civil, como também a “pedra angular do direito e da doutrina brasileira”, assumindo o papel que tiveram juristas como Acúrsio, Bártolo, Domat, Pothier, Bracton, Coke, Blackstone e Stair: antes de Freitas, não haveria ciência jurídica no Brasil. Schmidt (2009, p. 24), por sua vez, nomeia Freitas o fundador da ciência jurídica nacional, argumentando que nenhum outro jurista brasileiro teria marcado tão fortemente com suas ideias as gerações que o sucederam. como também se forma um dos topoi para a historiografia e dogmática civilista interessada na história, qual seja, a recepção, por meio de sua obra, do pensamento de Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) e a introdução do jurista alemão na história do direito privado brasileiro (REIS, 2015aREIS, Thiago. Savigny-Leser in Brasilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015a. p. 1-40., p. 4 e 6).5 5 Como observado anteriormente (nota de rodapé n. 3), surge em Portugal, entre as décadas de 1850 e 1860, um movimento de valorização da cultura germânica que busca, a partir de modelos alemães, renovar a literatura portuguesa. No campo jurídico, paralelamente, desenvolve-se o argumento pela preponderância de elementos germânicos sobre os romanos na formação do direito português, como articula Teófilo Braga (1843-1924) na esteira dos achados de Tomás Muñoz y Romero (1814-1867) e Levy Maria Jordão (1831-1875), mas seguindo, em sua juventude, sobretudo Jules Michelet (1798-1874) como modelo, ainda que posteriormente o abandone em nome do positivismo comteano. A esse respeito, conferir Vera-Cruz Pinto (1996, p. 63-82 e 190-191). Tal ideia encontra eco também entre os brasileiros ao longo do século XX. Pontes de Miranda (1973), com efeito, parte da premissa de que o termo “influência” seria desacertado para tratar da relação entre o direito luso-brasileiro e o alemão, pois dever-se-ia “aludir, primeiramente, à herança, porque muito do que recebemos nos meados do primeiro milênio e no começo do segundo, se mantém no que nos rege e, às vezes, há como se fossem raios que apontassem as regras jurídicas brasileiras de hoje, mais germânicas do que o direito alemão moderno. [...] O direito luso-brasileiro foi e continuou de ser, no Brasil, mistura e evolução do direito romano e do germânico” (PONTES DE MIRANDA, 1973, p. 5). Mais adiante, prossegue o autor esclarecendo que, em função da recepção do direito romano, “tanto se romanizou o sistema jurídico [alemão] que, em alguns pontos, o Brasil tem traços do direito germânico, que desapareceram do direito alemão de hoje e de séculos passados, como de Portugal, com a influência da legislação francesa. [...] Há, devido à herança que o Brasil recebeu, certa predileção pela cultura alemã. [...] Muito se deve à Filosofia, à Sociologia e à Ciência do Direito que se elevou explendentemente, no século passado [séc. XIX] e neste século [XX], mas sejamos justos em frisar que o Brasil é a maior continuação extraeuropeia da vida cultural da Alemanha” (PONTES DE MIRANDA, 1973, p. 28). Passando em revista histórico-comparatista diversas figuras jurídicas de direito público e privado alemão e brasileiro, Pontes de Miranda passa ao largo de Teixeira de Freitas e Savigny em sua análise.
Teixeira de Freitas não foi o primeiro brasileiro a se ocupar com Savigny (REIS, 2015aREIS, Thiago. Savigny-Leser in Brasilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015a. p. 1-40., p. 15-17). Entretanto, é seu o protagonismo quando se trata do uso do pensamento savignyano no Brasil. No que se refere a esse tema, acumulam-se artigos, conferências, referências em manuais em volume diretamente proporcional à importância geralmente atribuída às obras de ambos os autores. Isso não impede, todavia, que, acerca deles, persistam a se multiplicarem dúvidas e lacunas. Esses dois processos, aparentemente contraditórios, de cumulação, em que, de um lado, determinado argumento é reiteradamente articulado na literatura, e, de outro lado, problemas de pesquisa a ele associados continuam sem resposta - ou, pelo menos, sem resposta satisfatória -, estão intimamente relacionados.
Verifica-se que recentes abordagens desbravam a recepção de Savigny no Brasil a partir de novas perspectivas e preceitos metodológicos com base da obra não apenas de Freitas, mas também de outros juristas oitocentistas.6 6 Destacam-se, nessa perspectiva, os seguintes textos: Schmidt (2009 e 2013), Herzog (2014 e 2016) e Reis (2015a e 2015b). No entanto, a questão do aproveitamento da recepção para composição do autorretrato jurídico nacional - ou seja, se e como Savigny é inserto na história do direito privado brasileiro para acrescentar ou realçar suas cores - permanece em aberto.
O presente texto investiga, assim, a existência de padrões narrativos para as representações de Savigny na composição do quadro da história jurídica brasileira, especialmente quanto ao seu posicionamento relativo a Teixeira de Freitas. Busca-se, com auxílio de ferramentas tomadas por empréstimo da ciência da cultura e da história, esclarecer o mencionado acúmulo contraditório a partir da hipótese de que a relação entre Freitas e Savigny propaga-se na literatura seguindo o modelo de um lugar-comum retórico, que cumpre a função de orientar a narrativa histórica, promovendo, simultaneamente, uma economia cognitiva para o conhecimento da história do direito privado brasileiro.7 7 A respeito da função do lugar-comum ou estereótipo como recurso de economia cognitiva, ver infra, seção 2.1.
Em torno desse lugar-comum, criar-se-ia uma genealogia da civilística brasileira que reconduz suas origens, por intermédio de Teixeira de Freitas, até Savigny.8 8 O próprio Savigny, por sua vez, como indica Inge Kroppenberg, seguindo Hans Wrobel, constituiria uma “figura ancestral” e “pedra fundamental” da memória coletiva dos civilistas alemães. Conferir Kroppenberg (2008, p. 905) e Wrobel (1975). Mais recentemente, no mesmo sentido, Benjamin Lahusen (2013, p. 11) aduz, em tradução livre, que “seu nome [o nome de Savigny] representa o primeiro passo de uma autofundamentação do direito, que, em si própria, tornar-se-ia símbolo da moderna ciência jurídica”. Poder-se-ia, portanto, argumentar que a narrativa da recepção do pensamento de Savigny por Teixeira de Freitas serviria à historiografia para o estabelecimento, entre os juristas brasileiros, do arquétipo savignyano de Freitas como figura ancestral e pedra fundamental da memória coletiva jurídica brasileira.
Como consequência, dá-se suporte para narrativa da formação do direito nacional: sendo Freitas, pois, uma figura fundante da ciência jurídica brasileira, o seu posicionamento como uma espécie de discípulo rebelde9 9 Ver, infra, seção 2.6. de Savigny poderia simbolizar, simultaneamente, o destacamento em relação ao direito português, a rejeição ao paradigma francês de codificação - paradigma este comuníssimo no século XIX - e, ainda, a comprovação da originalidade - e até da superioridade - de Freitas e do próprio direito civil brasileiro em relação ao seu ideal europeu.
Articulou-se, em torno dessa hipótese, uma exposição em duas partes. A primeira foi direcionada à apresentação das principais premissas metodológicas e à delimitação do campo de enfrentamento da literatura; a segunda, por sua vez, foi destinada ao estudo da modulação e das formas de disseminação do lugar-comum Savigny-Freitas.
1. Dois vultos, uma historiografia tradicional: apontamentos preliminares à análise dos achados bibliográficos
Para dar sentido à segunda parte deste estudo, voltada para a análise da disseminação do lugar-comum da recepção de Savigny no pensamento jurídico de Teixeira de Freitas, convém que lancemos de antemão algumas bases metodológicas que orientam a investigação.
Os vocábulos grafados com destaque em itálico no título desta seção estão intimamente relacionados entre si. Tradicional não significa, nesse contexto, como por vezes se percebe no uso brasileiro da língua portuguesa, antigo, superado ou em processo de superação; também não se refere necessariamente ao tradicionalismo de que vez ou outra são acusados os juristas; antes, significa que se está diante de um entre diversos compromissos que compõem o paradigma da ciência jurídica contemporânea e que servem, inclusive, à visão de mundo daqueles que, como nós ao longo desta investigação, pretendem se colocar em posição de analisá-lo criticamente. Afinal, a própria escolha do objeto da pesquisa está informada pela visão de mundo tradicional, ou seja, pelo conjunto de compromissos firmados pela comunidade de juristas que permite a sua identificação como um grupo.
Teixeira de Freitas, a quem se assinala um papel central nas origens da história da codificação civil e da ciência jurídica brasileira, assim como Savigny, independentemente da avaliação de sua efetiva recepção, compõem duas das pilastras translúcidas, com forma, cor e textura difíceis de apreender, que definem o espaço ideal em que transitam, com suas ideias, os juristas brasileiros. Ainda que, a partir da visada, não possamos determinar com precisão onde eles se encontram - ou, até mesmo, quem eles sejam -, sabemos que seu vulto está em algum lugar deste espaço ideal, auxiliando a constituição de seus limites.
Um apontamento sobre a razão de mencionarmos ambas as figuras como vultos, podemos colher de Joachim Rückert (1984RÜCKERT, Joachim. Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny. Ebelsbach: Gremer, 1984., p. 22-32). Referindo-se ao estado das pesquisas monográficas, desenvolvidas na Alemanha, acerca da obra de Savigny, anotou o autor o descompasso entre a volumosa produção bibliográfica e o ainda vasto terreno inexplorado da obra savignyana: haveria lacunas, especialmente em relação à atuação prática de Savigny, que levariam a literatura, restrita, em regra, ao enfrentamento das obras impressas, a concentrar-se em aspectos gerais de seu pensamento. Rückert recupera a observação de Rudolf von Jhering (1861JHERING, Rudolf. Friedrich Carl von Savigny. Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Jena, v. 5, p. 354-377, 1861.), no elogio que dedicou à memória de Savigny, no sentido de que o cerne das investigações seria a “história espiritual” e o aparato geral das ideias que Savigny movimentou contra seus opositores ao longo de sua carreira. O exemplo mais expressivo seria a abundância literária em torno do sempre lembrado vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Da vocação de nosso tempo para a legislação e a jurisprudência). Com isso, conclui Rückert, direcionar-se-ia o foco sobretudo para a compreensão e descrição da visão de mundo savignyana.10 10 Antes mesmo de Rückert, já havia Helmut Coing (1979, p. 9-10) alertado para as lacunas historiográficas com relação ao trabalho prático de Savigny, por exemplo, em sua atuação no conselho de Estado da Prússia, no Tribunal Prussiano de Revisão e Cassação para os Estados Renanos ou em seu papel no conselho para veredictos da Universidade de Berlim. Nota-se, também, que o próprio Savigny (1840a, p. XIX-XXV, 10-11, especialmente, item b) testemunha a importância da prática na formação de seu pensamento. Para ele, o duplo caráter, compreendendo os elementos teórico e prático, constituiria a essência da ciência jurídica. Acerca das faltas no conhecimento dos grandes autores no contexto brasileiro, José Reinaldo de Lima Lopes (2018, p. 25) argumenta que a tendência a localizar a lei e o Estado, seu “soberano autor e aplicador”, no centro da história jurídica, bem como de apresentar a história das ideias jurídicas a partir do cânon da filosofia moderna, redundaria no alijamento dos juristas propriamente ditos desse campo de estudo. Com efeito, expõe Lima Lopes (2018, p. 37): “perderam-se os nomes de um Pegas, ou de um Domat, e mesmo de um Savigny. [...] E para citar os pró-domos do direito nacional, quem estudava o pensamento de um Pascoal de Melo Freire? Ou de Teixeira de Freitas, ou de Pimenta Bueno?”.
Se tal era o caso em vista do estado da literatura alemã em meados dos anos 1980, não deixam de ter, as observações de Rückert, algo de atual e esclarecedor também para a situação de nossos personagens ante a manualística brasileira no campo do direito civil.11 11 Uma análise aprofundada a respeito da história jurídica contida nos manuais poderia facilmente ser objeto de um interessante estudo autônomo. Para esta pequena seção, que tem propósito puramente exemplificativo, consultamos alguns manuais de grande circulação a que tivemos acesso, tendo-se em conta que o trabalho foi preparado ao longo de uma residência de pesquisa pós-doutoral em que nosso acesso era restrito aos manuais brasileiros. Um passar de olhos nos textos de introdução ao direito civil permite constatar que Savigny, pela via da iniciação à ciência jurídica, é, desde cedo, inserido na visão de mundo dos civilistas - o que, obviamente, não equivale a dizer que seja necessariamente por eles bem conhecido. Todavia, mesmo que em latência, a sua figura toma parte na composição do paradigma teórico da civilística brasileira contemporânea, notadamente no enfrentamento da teoria da pessoa jurídica,12 12 Nesse ponto, Savigny é lembrado como representante da teoria da ficção. Ver Amaral (2006, p. 280, nota de rodapé n. 15), Diniz (2010, p. 243), Gonçalves (2014, p. 218), Tartuce (2017, p. 245) e Venosa (2017, p. 245-246). teoria do fato jurídico,13 13 Diniz (2010, p. 390), Gonçalves (2014, p. 327) e Pereira (2017, p. 383, 482). além da própria narrativa sobre a história da codificação.14 14 Pereira (2017, p. 67), Tartuce (2017, p. 72) e Venosa (2017, p. 88-89). Pereira (2017, p. 125, 142 e 515) também faz referência a Savigny no contexto da explanação no que concerne ao direito intertemporal, associando-o à chamada teoria subjetiva; sobre as regras de definição dos limites da lei no espaço; e, por fim, na explanação sobre a representação. Tartuce (2017, p. 504), acompanhando José Fernando Simão, relaciona a Savigny a criação da teoria da actio nata para a contagem do prazo prescricional.
A acurácia histórica tem, nesse contexto, relevância relativa na medida em que o propósito do manual é transmitir o “vocabulário e a sintaxe da linguagem científica contemporânea” (KUHN, 2012KUHN, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. 4. ed. Chicago: University Press, 2012., p. 136). Para cumprir essa tarefa, não há necessidade de explorar em profundidade o modo pelo qual as bases da ciência jurídica foram estabelecidas, bastando que se apresente aquilo que possa ser visto como contribuição para a afirmação do paradigma e das soluções nele admitidas.15 15 Ver, sobre o modo com que os manuais lidam com a história da ciência que apresentam, Kuhn (2012, p. 135-142). Não deixa de ser importante observar que Savigny continue a ocupar espaço mesmo onde se declara a “necessidade de um novo caminho metodológico” para enfrentamento de novos problemas que se colocam para a prática civilística, tais como a adequação de sexo do transexual até o problema do direito de propriedade nas favelas (TARTUCE, 2017, p. 72). Savigny, como expoente do paradigma jurídico liberal do século XIX, não fora ainda de todo proscrito da tradição comungada pelos civilistas contemporâneos. Essa permanência talvez possa ser sintomática do descompasso, diagnosticado por José Reinaldo de Lima Lopes, entre as tarefas sob encargo do jurista contemporâneo e o modelo de sua formação, ainda entranhado pela mentalidade contratualista e pelo sistema comutativo de solução de conflitos (LIMA LOPES, 2004, especialmente capítulo 4).
Savigny, portanto, surge a partir de pinceladas que lhe dão contornos imprecisos no acervo do praticante da ciência jurídica normal. Nota-se, contudo, que, com relação a Teixeira de Freitas e à recepção de Savigny em sua obra, os traços não são necessariamente mais nítidos, embora estejam mais próximos, e, desse modo, mais visíveis ao observador brasileiro do que os do vulto de Savigny.
Desse modo, quem procure, na literatura brasileira, a relação entre Freitas e Savigny deparar-se-á, em regra, com investigações de caráter geral, voltadas para as indagações acerca da visão de mundo e de direito que os conectariam, além da comparação entre os papéis que exerceram na construção dos direitos brasileiro e alemão.
Como se notará na segunda parte do estudo, a obra de Freitas que serve de base para a investigação da recepção do pensamento savignyano é o conjunto de seu trabalho jurídico impresso, recebendo especial atenção a Consolidação das leis civis, cuja primeira edição data de 1858, e o Esboço do código civil, publicado entre 1860 e 1865, seguidos pela Nova apostilla á censura do senhor Alberto de Moraes Carvalho sobre o projecto do codigo civil portuguez (1859TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Nova apostilla á censura do senhor Alberto de Moraes Carvalho sobre o projecto do codigo civil portuguez. Rio de Janeiro: Laemmert, 1859.), pela carta de renúncia à presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), resultante do episódio da questão de liberdade, conhecida como a polêmica com Caetano Alberto Soares (1857), e, eventualmente, pelo ofício de 20 de setembro de 1867, em que são expostas as novas ideias para o plano da codificação civil, com a anteposição do código geral e a unificação das obrigações. Assim, embora tenha percorrido uma longa e agitada carreira como advogado, participando da fundação do IAB, de que foi presidente, além de ocupar a vaga destinada à classe no Conselho de Estado do Império, pouco dessa vida prática, fora de sua atividade oficial como encarregado da codificação, serve à historiografia jurídica.
Freitas, por sua vez, do que se extrai de seus textos, manuseou, das obras de Savigny, o System des heutigen römischen Rechts (Sistema de direito romano atual) e a monografia Recht des Besitzes (comumente, Tratado sobre a posse), sempre a partir das suas traduções francesas, referidas como Traité de Droit Romain e Traité de la Possession, conforme as traduções de Charles Guenoux e Charles Faivre d’Audelange, respectivamente. O restante do corpo da obra savignyana parece ter lhe ficado desconhecido, muito possivelmente, como refere Thiago Reis (2015aREIS, Thiago. Savigny-Leser in Brasilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015a. p. 1-40., p. 14-15), por não estar à época disponível no Brasil.
Nota-se que, no tocante à absorção de modelos alemães por intermédio dos franceses, Freitas não foi exceção no mundo lusófono.16 16 Para além do manuseio das traduções francesas, Freitas também fez uso da revista jurídica franco-belga Thémis, que circulou entre 1819 e 1831, pretendendo renovar a ciência jurídica francófona valendo-se do modelo alemão. Anota-se, entretanto, que Julien Bonnecase (1914, p. VI) aduz não ter sido a revista um órgão da escola histórica, mas uma publicação de caráter exclusivamente francês. A mediação da cultura francesa também contribuiu para a difusão de ideais alemães na literatura e no direito em Portugal. Com efeito, afirma Vera-Cruz Pinto (1996, p. 58-59) que “[t]odo contributo desta Escola [histórica] e da cultura alemã, em geral, lhe chegam [a Teófilo Braga] através dos autores franceses. É natural que assim seja, numa época em que a ‘assimilação’ da cultura alemã se faz através da cultura francesa, em Portugal”. Entretanto, a despeito desse limitado e indireto acesso,17 17 Limitado se levarmos em consideração que, em 1855, ao lançar-se Freitas à composição da Consolidação das leis civis, a obra livresca de Savigny encontrava-se, após a impressão do segundo volume do Obligationsrecht (Direito das obrigações), em 1853, já integralmente publicada na Alemanha. Entre as obras aparentemente não consultadas por Freitas, estiveram disponíveis em francês, ainda durante o período de elaboração da Consolidação e do Esboço, a Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter (História do direito romano na idade média), traduzida também por Charles Guenoux e publicada integralmente, em quatro volumes, em 1839, além do próprio Obligationsrecht, em tradução de Camille Gérardin publicada em 1863. Entretanto, por si só, isso não comprova que as obras pudessem estar acessíveis a Freitas. é frequente que se atribua a Savigny o papel de principal modelo teórico para o brasileiro, utilizando-se como demonstração os epítetos empregados por Freitas para qualificá-lo, além da numerosa quantidade de referências, encontradas sobretudo na Introdução à Consolidação das leis civis e no Esboço.18 18 Ver, como exemplo, que Silvio Meira (1979, p. 257) alega, reproduzindo uma passagem contida na Introdução à Consolidação das leis civis, ter sido Savigny, para Freitas, a primeira autoridade nessas matérias, tendo sido citado 22 vezes ao longo da referida Introdução. No passo da Introdução em que Freitas aponta Savigny como a primeira autoridade, observa-se rigorosamente uma divergência entre os autores, afirmando Freitas, na continuação do argumento, que Savigny “não attribue á esta classificação [à dicotomia entre direitos pessoais e direitos reais] a verdadeira importancia e supremacia, que lhe-competem”, repugnando-lhe (a Savigny) “envolvêr os direitos de família com as obrigações, cuja analogia, diz elle [Savigny], é accidental e exterior, mas não uma affinidade real”. (Conferir TEIXEIRA DE FREITAS, 1876, p. CLXVIII-CLIV, aqui, p. CL.)
1.1. Historiografia como fonte e alguns apontamentos para sua exploração
Dentro desses quadrantes, articula-se a porção da representação histórica do direito civil brasileiro sobre que nos debruçaremos na segunda parte da investigação. Ela compõe, conforme argumentamos, parte do autorretrato do direito privado, especialmente do direito civil brasileiro, ainda que os contornos das figuras que ela apresenta não sejam os mais nítidos aos olhos do observador.
Cabe esclarecer, no entanto, que não nos dedicaremos diretamente a proporcionar traços mais nítidos às imagens de nossos personagens. Propusemo-nos, antes, a entender por que a manutenção de certa indefinição não impede o exercício de uma função historiográfica relevante. Para essa empreitada, fazemos da historiografia a fonte de nossa análise. Não se trata, contudo, de uma revisão bibliográfica, mas de um expediente de compreensão, a partir do caso Savigny/Freitas, dos mecanismos que viabilizam a estabilização de dada representação da história jurídica.
O tratamento da historiografia como fonte para a produção historiográfica é justificado pelo caráter literário da realização do saber histórico. Uma vez acessível ao público e inserto no mundo dos leitores, o texto historiográfico converte-se, ele próprio, em documento apto a instigar a atenção do historiador. Por essa via, tem-se um campo do saber incessantemente aberto à revisão.19 19 Ricœur (2000passim, aqui especialmente 302-303).
A realidade que buscamos, portanto, é apenas indiretamente aquela do pensamento jurídico do século XIX; põe-se em primeiro plano aqui, a rigor, a representação que a literatura civilística brasileira faz do seu século XIX, notadamente a partir da exploração da recepção do pensamento jurídico savignyano por Teixeira de Freitas. Tal representação tem elementos tradicionais que permanecem, em certa medida, intocados desde meados do século XX até as primeiras décadas do século XXI.
A literatura sobre Savigny no Brasil pode ser separada em três grupos: no primeiro, observa-se a abordagem de seu pensamento como expoente da escola histórica, no contexto das exposições sistemáticas da história do pensamento jurídico, sem que, necessariamente, haja a preocupação com a apropriação e adaptação de suas teorias e seus métodos no ambiente nacional. O cerne dessas investigações encontra-se, portanto, na história universal da filosofia do direito.20 20 Ver, como exemplo, Lessa (1903). Aqui, poder-se-ia suscitar a observação que fez José Reinaldo de Lima Lopes (2018, p. 24-26) acerca da subordinação da história jurídica à história da filosofia ou à história política em vista da organização do currículo das faculdades de Direito brasileiras nos primeiros anos da República.
Um segundo grupo, por sua vez, trata da penetração do pensamento savignyano na conformação da ordem jurídica brasileira, notadamente por intermédio da obra de Teixeira de Freitas. Em regra, contudo, Savigny é abordado com nível de interesse secundário, como parte de investigações acerca da figura de Freitas, da história do direito brasileiro ou da codificação civil. Do ponto de vista institucional, este segundo tempo é composto majoritariamente de juristas ocupados com a dogmática privatista.21 21 Nota-se que, entre os autores mencionados nas notas n. 1 e 2, supra, apenas Guilherme Braga da Cruz ocupou posição institucional como docente e pesquisador no campo da história do Direito, junto à Universidade de Coimbra. Deve-se observar, contudo, que Estevan Lo Ré Pousada, a despeito da pertinência funcional à cadeira de Direito Civil, junto à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, cursou seus estudos em nível de pós-graduação no campo da história do Direito, tendo produzido significativa parte de sua obra nessa seara.
Finalmente, o terceiro grupo, como já apontado anteriormente (conforme nota de rodapé n. 5), ocupa-se especificamente com a recepção de Savigny e seus efeitos na ciência jurídica brasileira, não apenas, mas principalmente, por meio de Teixeira de Freitas. Como se nota, tais estudos foram eventualmente motivados por efemérides relacionadas a Savigny, com ênfase na circulação internacional e na recepção de sua obra fora da Alemanha.22 22 Observam-se, destacadamente, as conferências Savigny International?, realizadas em outubro de 2011, resultando, a seguir, na obra coletiva publicada em 2015, e Savigny Global: 1814-2014, de setembro de 2014, cuja coletânea dos artigos foi dada ao público em 2016. Ver Duve e Rückert (2015) e Meder e Mecke (2016).
Nota-se, com isso, que esta pesquisa ocupar-se-ia predominantemente do segundo grupo, em que se concentra de fato o modo como - para utilizar a expressão kuhniana - a ciência jurídica normal incorpora a relação entre os pensamentos de Savigny e Freitas. Nesse mister, perceber-se-á que surge uma dificuldade no trato da literatura, na medida em que, como já salientado, a recepção está normalmente em segundo plano, ainda que ocupe frequentemente o seu ponto de ouro da imagem. Ou seja, compondo uma paisagem mais ampla, seja a história do direito privado brasileiro, seja a obra de Teixeira de Freitas, chama-se a atenção do observador à recepção de Savigny, mantendo-a em destaque, bem ao alcance dos olhos, ainda que não se faça dela o tema da tela.
2. A relação entre Friedrich Carl von Savigny e Augusto Teixeira de Freitas como um lugar-comum da literatura jurídico-historiográfica
2.1. Estipulação da noção de lugar-comum
Lugar-comum é uma expressão polissêmica, cujo significado convém, para bem prosseguirmos, estipular.23 23 Acerca da noção de lugar-comum, valemo-nos especialmente de Barthes (2002), Brassart (1989), Ceia (2009), Pietra (1987) e Ricœur (2000). No âmbito desta pesquisa, não se realiza um julgamento negativo acerca das qualidades literárias dos textos enfrentados. Almeja-se, antes, resgatando algo do sentido retórico da locução, indicar que a relação entre Savigny e Teixeira de Freitas, ainda que tratada a partir de formulações banalizadas e repetidas, exerce uma função orientadora para a historiografia jurídica referente ao século XIX, especialmente fora do campo especializado em história do Direito.
Dizer que a relação entre Savigny e Freitas - ou entre Freitas e a ciência jurídica alemã de forma geral - é um lugar-comum não implica julgar que ela seja menos verdadeira. Ao contrário, procura-se reconhecer que a disseminação do lugar-comum indica que, sob suas fórmulas, há algo de verdadeiramente importante para a ciência jurídica brasileira que merece ser estudado por si mesmo. Haveria, pois, sedimentado nesse recurso retórico, um elemento de orientação do discurso que auxilia na caracterização do que é o direito privado. Com isso, ter-se-ia armazenado no lugar-comum Freitas-Savigny um elemento que, simultaneamente, refere-se ao passado e modela o retrato presente da ciência jurídica no Brasil, proporcionando uma economia cognitiva essencial para a delimitação de determinado campo científico-acadêmico.
Julgamos, então, poder apontar para esse lugar-comum como parte da anatomia da tradição jurídica brasileira, pois, a partir dele, transmite-se entre os juristas um dos elementos de referência ao passado que compõe o autorretrato da civilística brasileira contemporânea. A existência do lugar-comum revelaria, segundo nossa hipótese, a dispensabilidade da busca, por intermédio de pesquisas historiográficas, pela relação entre Savigny e Freitas, pois nela ainda habitamos e nela - mas, evidentemente, não apenas nela - encontramos, ou melhor, atribuímos sentido às feições do direito civil brasileiro.24 24 O vocabulário para essa formulação foi colhido de Assmann (2018, p. 133-137). A autora nomeia a “memória habitada” (bewohntes Gedächtnis) como “memória funcional” (Funktionsgedächtnis), caracterizada pela relação com o grupo que a cultiva, pela seletividade, pela conexão aos valores do grupo (Wertbindung) e orientação para o futuro. Em relativa oposição estaria a “memória de armazenamento” (Speichergedächtnis), menos viva, em certo sentido, pois dependente da preservação arquivística e do manuseio científico. Assmann dialoga com os trabalhos de Maurice Halbwachs e Pierre Nora, que oporiam as noções de história e memória. Assmann, por seu turno, relativiza tal oposição, destacando a interdependência, a interpenetrabilidade e as fronteiras fluidas entre os dois terrenos. De modo semelhante, retratando a história como “l’héretière savante” da memória, consultar igualmente Ricœur (2000, p. 304).
Essa memória em que habitamos relaciona-se de modo fundamentalmente diverso ao presente, se comparada com a escrita sobre o passado que exsurge das ciências históricas: nesta, não necessariamente habitamos, embora ela permaneça em latência no plano de fundo. Um exemplo pode nos ajudar a esclarecer o significado desse duplo sentido da memória. Dificilmente se encontra nos manuais jurídicos referência aos projetos de código civil e criminal elaborados em 1825 por Manoel Paixão dos Santos Zacheo, o Epaminondas Americano (ZACHEO, 1825ZACHEO, Manoel Paixão dos Santos [Epaminondas Americano]. Projectos do novo codigo civil e criminal do império do Brasil. Maranhão: Typographia Nacional. 1825. Disponível em: Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/bndigital1450/bndigital1450.pdf . Acesso em: 5 nov. 2020.
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acer...
). Essa ausência pode ser justificada muito validamente por diversos artifícios científicos e critérios didáticos. Mas ocorre que, rigorosamente, o Epaminondas Americano não ocupa o cânon da memória jurídica brasileira, ou, em outros termos, não tem lugar na memória em que habitamos e, por essa razão, não serve à narrativa que dá sentido ao direito contemporâneo. O projeto está preservado em arquivo, inclusive digitalmente, sendo manuseado por historiadores e especialistas,25
25
Ver, por exemplo, Costa e Galves (2011).
mas sem, até o momento, emergir para o nível da construção de sentido - o que, em vista da interpenetração entre as dimensões memorial e científica da história, não está excluído.
Este não é, como queremos argumentar, o caso de Teixeira de Freitas e, mais adiante, de sua relação com a obra de Friedrich Carl von Savigny: estes não submergiram no arquivo e no esquecimento conservativo,26 26 Sobre a noção de esquecimento conservativo, ver Assmann (2016, p. 36-42). pois circulam como memórias de que nos apropriamos e a que podemos nos referir, dentro do campo jurídico, casualmente, com pouco receio de uma falha na comunicação, ainda que o conhecimento científico acerca deles possa ser lacunoso.
Essas observações poderiam parecer contraditórias, considerando que as memórias de Savigny e Freitas dependem, em vasta medida, da produção especializada da ciência do Direito. Poder-se-ia ter a impressão, nesse caso, de uma referência ao passado puramente científico-arquivística, e não de uma memória viva, atributiva de sentido. Não é disso que se trata, contudo. Assumindo que os juristas são um grupo com uma cultura que lhe é própria, há entre eles, como em outros grupos sociais, uma dimensão de referência ao passado que não é história científica do Direito, mas que constitui elemento da tradição. Essa referência ao passado é transmitida sobretudo pelo discurso jurídico por meio de suas diversas manifestações. Conforme o argumento aqui articulado, para os juristas brasileiros - grupo, cujo discurso constitui o objeto desta investigação -, o lugar-comum Savigny-Freitas constitui uma porção da memória habitada.
Portanto, ao afirmarmos que a relação entre Savigny e Freitas é um lugar-comum, queremos apontar que: a) tal relação é um tema recorrente na literatura jurídico-historiográfica brasileira; b) ela se dissemina a partir de formulações repetidas, cuja reprodução prescinde de aprofundamento; c) essa dispensabilidade liga-se à sua função, que é não apenas retórica, mas também de armazenamento e tradição da memória, constituindo, nomeadamente, elemento de orientação do discurso e de atribuição de sentido à história jurídica.27 27 Assume-se, com isso, que as dimensões memorialística e científica da escrita da história não se excluem mutuamente e que, assim, tal escrita pode ter também uma função retórica e, eventualmente, uma faceta fictícia. A respeito, ver Assmann (2018, p. 145) e Ricœuer (2000, p. 306).
2.2. Freitas como intermediário entre Savigny, a ciência jurídica alemã e a codificação civil no Brasil
Constata-se, em diversos estratos da literatura, o posicionamento de Freitas como válvula de entrada da ciência jurídica alemã, e especialmente de Savigny, no direito privado brasileiro. Essa caracterização restaria autorizada, por um lado, pela constante referência, sobretudo na Introdução à Consolidação das leis civis, aos autores alemães, incluído Savigny, e, por outro lado, pela rejeição ao modelo francês de codificação e aos padrões teóricos da chamada escola da exegese. Tais elementos encadeiam-se em formulações diversas, disseminam-se na literatura, sugerindo, a partir deles, uma leitura comparada do impacto das obras de Savigny e Freitas para a Alemanha e o Brasil.
Uma bem-acabada articulação desse lugar-comum é extraída do curso de direito civil comparado, saído originalmente em 1950, pela pena de René David (2005DAVID, René. Le droit brésilien jusqu’en 1950. In: WALD, Arnold; JAUFFRET-SPINOSI, Camille. Le droit Brésilien d’hier, d’aujourd’hui e de demain. Paris: Société de Législation Comparée, 2005. p. 25-182., p. 68). O comparatista aduz que a profunda influência recebida da ciência jurídica alemã e, notadamente, de Savigny, de quem seria admirador e discípulo, fez Freitas, mesmo conhecedor da literatura jurídica francesa, desviar-se da sistematização consagrada pelo Code Civil na elaboração da Consolidação das leis civis.
De modo semelhante, já no contexto de um curso de história do Direito, José Reinaldo de Lima Lopes (2008LIMA LOPES, José Reinaldo de. O direito na história: lições introdutórias. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008., p. 282) aponta que Teixeira de Freitas rejeitou o modelo francês como consequência de sua erudição e profundo conhecimento da “‘ciência jurídica’ que se fazia na Alemanha”. Por sua vez, Ricardo Marcelo Fonseca (2006aFONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura jurídica brasileira e a questão da codificação civil no século XIX. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, v. 44, p. 61-76, 2006a., p. 71) afirma, no mesmo sentido, não haver dúvidas de que Freitas conhecia e manuseava a literatura francesa, inclusive aquela produzida no seio da chamada escola da exegese. Contudo, seria “à ciência jurídica alemã [...] e de modo particular a Savigny (por ele chamado de ‘profundo’ e ‘sábio’) que são rendidos os maiores tributos”.28 28 Com a mesma orientação, consultar também Moreira Alves (2009, p. 421). Sobre a abrangência das leituras que Freitas que realizou dos autores da exegese, cfr. Villard (1994).
Essa “erudição em ciência jurídica alemã” teria perpetrado efeitos importantes no desenvolvimento do direito brasileiro do século XIX, além de ter impactado de forma duradoura a organização do direito privado nacional. Ricardo Marcelo Fonseca (2006bFONSECA, Ricardo Marcelo. Os juristas e a cultura jurídica brasileira na segunda metade do século XIX. Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Moderno, Milano, v. 35, t. I, p. 339-427, 2006b., p. 363) aduz, acompanhando Alberto Venâncio Filho, que a influência da ciência jurídica alemã na segunda metade do século XIX e, especialmente, de Savigny sobre Freitas, representaria o abandono do praxismo herdado de Portugal, abrindo-se, com isso, caminho para a “busca por novos padrões”, em clara oposição ao “uso dos tradicionais manuais impregnados da escolástica e de um jusnaturalismo ‘ancién régime’”.
Os “novos padrões” teriam refletido na organização sistemática da Consolidação das leis civis e do Esboço do código civil elaborados por Freitas. Com isso, apesar do fundo burguês de sua obra, Teixeira de Freitas seria antes de tudo um “romanista dos novos tempos” e, assim como os membros da escola histórica, queria “organizar tudo sob um sistema conceitual”. O resultado dessa posição intelectual seria a semelhança entre os sistemas do Esboço e o do código civil alemão: o BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) conteria “praticamente as mesmas partes e divisões propostas pelo brasileiro” (LIMA LOPES, 2008LIMA LOPES, José Reinaldo de. O direito na história: lições introdutórias. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008., p. 282-283).29 29 Um contraponto encontra-se no artigo de Nelson Saldanha (1985, p. 244 e 248, especialmente nota n. 37), dedicado à investigação dos papéis de história e sistema na obra de Freitas. Saldanha afirma que as leituras de Savigny, sobretudo das versões francesas do “direito romano” (System des heutigen römischen Rechts) e do “tratado sobre a posse” (Recht des Besitzes), e “dos seus companheiros de Escola”, combinaram-se, no Brasil, ao legado colonial e aos “fermentos doutrinários da época da independência”. Teixeira de Freitas teria lido “alguns autores alemães em francês”, e, ainda que se referisse constantemente à obra de Savigny, seus conhecimentos sobre ela seriam limitados. Sobre a limitação apontada por Saldanha, ver, supra, nota de rodapé n. 17. Acerca do papel do direito romano no pensamento e na obra de Teixeira de Freitas, ver Moreira Alves (2009).
Haveria, então, a partir da elaboração da Consolidação das leis civis, uma permanente influência alemã ao longo do processo de codificação do direito civil brasileiro. Com efeito, Almiro do Couto e Silva (2004COUTO E SILVA, Almiro do. Romanismo e germanismo no código civil brasileiro. Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, v. 57, n. 52, p. 295-313, 2004., p. 306) insere Teixeira de Freitas como o primeiro da série de “grandes juristas brasileiros da fase imediatamente anterior à da elaboração do nosso Código Civil”, cujos escritos relevariam a “intimidade” que teriam “esses autores com a obra dos mais célebres juristas germânicos de seu tempo”.
Como consequência, a noção de sistema desenvolvida por Teixeira de Freitas, sob a “fortíssima” influência da ciência jurídica alemã, notadamente de Savigny, de cuja obra seria “atentíssimo leitor”, teria não apenas encontrado guarida em sua Consolidação e em seu Esboço, como também se teria perpetuado, segundo Judith Martins-Costa (1999MARTINS-COSTA, Judith. O sistema da codificação civil brasileira: de Leibniz a Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 17, p. 189-204, 1999., p. 189-190 e 196), “apesar de certos rumos desviantes”, nos códigos civis brasileiros de 1916 e no de 2002.30 30 Deve-se ter em vista que a autora pretende, no referido artigo, analisar em primeiro plano a matriz filosófica da noção de sistema em Leibniz, em relação à qual o pensamento de Teixeira de Freitas encerraria “notáveis coincidências”. Portanto, Martins-Costa não está interessada, nesse momento, no critério para ordenação sistemática das matérias, tema cujo cerne seria, justamente, a diferenciação entre os direitos pessoais e os direitos reais. Ver Martins-Costa (1999, p. 190-191). Em sentido diverso, sem deixar de reconhecer a influência da ciência jurídica alemã na organização da Consolidação das leis civis, Moreira Alves (2008, p. 142) não posiciona Savigny, mas Mackeldey, no primeiro posto da escala dos romanistas alemães recepcionados por Freitas.
É verdade que Freitas, como Savigny, posiciona, em princípio, a noção de relação jurídica como conceito fundamental para o desenvolvimento do sistema de direito civil: “[...] as diferenças inalteraveis das relações juridicas determinão as naturaes divisões da legislação” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1876TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Introdução. In: TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1876. p. XXIX-CCXXI., p. LXII);31 31 Em relação à provável influência de Savigny quanto à centralidade da noção de relação jurídica, ver Schmidt (2009, p. 334), Saldanha (1985, p. 252) e Flores (2012, p. 13). contudo, diferentemente de Savigny, para Freitas é a “amplitude eficacial dos direitos subjetivos” (POUSADA, 2006POUSADA, Estevan Lo Ré. Preservação da tradição jurídica luso-brasileira: Teixeira de Freitas e a Introdução à Consolidação das Leis Civis. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006., p. 159)32 32 Com efeito, aduz o próprio Teixeira de Freitas (1876, p. XLVII) ser a diferença entre os direitos reais e pessoais a “chave de todas as relações civis”. Qualquer avaliação sobre as diferentes sistematizações empregadas pelos autores analisados deve levar em conta que, ao contrário de Freitas, Savigny não buscou um “princípio supremo” que encerrasse uma “verdade eterna” para assentar a organização de seu sistema (TEIXEIRA DE FREITAS, 1876, p. XLIX e LI). Também na Nova Apostilla, Freitas (1859, p. 10) diz-se convencido “de que na ordem physica e moral ha uma realidade de cousas com as suas relações apreciaveis que corresponde a um methodo natural [...]”, redundando em um “unico e verdadeiro principio classificador do Direito Civil propriamente dito”. Ao contrário, no Sistema de direito romano atual, Savigny (1840a, p. 405-406) trata diferentes possibilidades de organização com “tolerância” (Duldsamkeit), admitindo a aplicabilidade de diferentes métodos de sistematização, desde que a essência do conteúdo não sofresse interferências. A respeito, Alfredo de J. Flores (2012, p. 14-16) aduz que seria possível identificar na obra de Freitas manifestações do realismo filosófico clássico que permitiriam detectar um “padrão de leitura que se insere numa visão de mundo cristã e que entende que existem elementos de verdade científica dentro das manifestações das regras e instituições jurídicas na história”. Com isso, concluir-se-ia que Freitas “se orientasse para a concepção clássica, quando os ventos de sua época indicavam para outra direção”. Conferir, ainda sobre esse tema, contrapondo-se à sistemática do Code Civil e à Consolidação das leis civis, as observações de David (2005, p. 70). que determina a sistematização pautada na diferenciação entre os direitos pessoais e absolutos.
2.3. Comparações entre os papéis e os impactos de Freitas e Savigny na ciência jurídica
Essa imperfeita correspondência teórico-sistemática é bem sumariada por Estevan Lo Ré Pousada (2006POUSADA, Estevan Lo Ré. Preservação da tradição jurídica luso-brasileira: Teixeira de Freitas e a Introdução à Consolidação das Leis Civis. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006., p. 14 e 168-169, em especial as notas de rodapé n. 29 e 301): a despeito de Freitas tomar em seu favor a opinião de Savigny para o estabelecimento da distinção entre os direitos reais e pessoais como a summa divisio do sistema de direito civil, censuraria, o jurista brasileiro, sua preferência pela estruturação institucional, reputada por Freitas como excessivamente arraigada às tradições romanas, redundando, assim, em uma indesejada separação do direito de família em relação às demais relações civis pessoais em função do critério da patrimonialidade.33 33 Salienta-se que René David (2005, p. 68) não atribui o estabelecimento dessa summa divisio à influência de Savigny, ou da ciênca jurídica alemã, mas a Ortolan, que teria chegado à mesma conclusão em sua Généralisation du droit romains.
Entretanto, é sintomático de uma tendência da literatura que Pousada (2007POUSADA, Estevan Lo Ré. A obra de Augusto Teixeira de Freitas e a conformação de um direito civil tipicamente brasileiro: sua genialidade compreendida como conciliação entre inovação sistemática e acuidade histórica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade, São Paulo, v. 102, p. 89-98, 2007., p. 95), por um lado, anote a diferença do ponto de partida sistemático, e, por outro lado, conceda a existência de semelhanças quanto ao estilo de ambos os juristas. Com efeito, Teixeira de Freitas, “embebido num romanismo que lhe custou por vezes grandes dissabores”, teria se portado como um representante da “pandectística nacional”, e, desse modo, depurado, “à moda savignyana, conceitos jurídicos tão importantes como o de atos jurídicos que não são negócios jurídicos”, resultando em um refinamento taxonômico que o próprio Savigny não teria alcançado (POUSADA, 2007POUSADA, Estevan Lo Ré. A obra de Augusto Teixeira de Freitas e a conformação de um direito civil tipicamente brasileiro: sua genialidade compreendida como conciliação entre inovação sistemática e acuidade histórica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade, São Paulo, v. 102, p. 89-98, 2007., p. 95).
Nota-se que o posicionamento dos juristas alemão e brasileiro em patamar de igualdade foi sugerido inicialmente no contexto da codificação civil argentina.34 34 Nesse sentido, ver Ramalhete (1981, p. 18) e Valladão (1960, p. 214-216). Como cediço, Vélez SarsfieldVÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio. El folleto del doctor Alberdi. In: TEXO, Jorge Cabral (org.). Juicios críticos sobre el proyecto de código civil. Buenos Aires: Jesús Menéndez, 1920. p. 231-256. confessadamente se aproveitou do Esboço de Freitas como modelo para a composição de seu projeto para a Argentina. Confrontado, em função disso, por Juan Bautista Alberdi, Sarsfield (1920VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio. El folleto del doctor Alberdi. In: TEXO, Jorge Cabral (org.). Juicios críticos sobre el proyecto de código civil. Buenos Aires: Jesús Menéndez, 1920. p. 231-256., p. 245) defende-se argumentando que, após um sério estudo dos trabalhos de Freitas, julgava-os apenas comparáveis “con los del señor Savigny”.
Essa aproximação é aproveitada por Ricardo Marcelo Fonseca (2006bFONSECA, Ricardo Marcelo. Os juristas e a cultura jurídica brasileira na segunda metade do século XIX. Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Moderno, Milano, v. 35, t. I, p. 339-427, 2006b., p. 354), que imputa às semelhanças em termos de estilo e abordagem dogmática o traço moderno na obra de Freitas, que ao alemão, como frequentemente observado, dedicava “homenagem constante”, denotando uma “preocupação conceitual verdadeiramente precoce e apurada” demonstrada no uso da noção de relação jurídica e na inovadora divisão do código civil em parte geral e parte especial.
Detecta-se, ainda, que alguns esforços são dedicados para comparar os respectivos impactos na ciência jurídica. Washington de Barros Monteiro (1967MONTEIRO, Washington de Barros. Augusto Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 62, n. 2, p. 305-318, 1967., p. 306), por exemplo, indica que a “singular contribuição” de Teixeira de Freitas lhe rendeu o cognome de Cujácio brasileiro, comparado a Domat, Pothier, “bem como ao próprio Savigny”. Monteiro, então, acompanhado por Arnold Wald, disserta que o trabalho de Freitas teria tido, para a América Latina, a relevância que teve a obra de Savigny para o continente europeu: Freitas, “como Savigny”, prossegue Monteiro, “reuniu, em nosso continente, a um ponto jamais alcançado por qualquer outro jurista, vasta erudição, profundo conhecimento dos textos e extraordinário espírito de generalização” (MONTEIRO, 1967MONTEIRO, Washington de Barros. Augusto Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 62, n. 2, p. 305-318, 1967., p. 206). Wald (2004WALD, Arnold. A obra de Teixeira de Freitas e o direito latino-americano. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 41, n. 163, p. 249-260, 2004., p. 252-256) acrescenta, ainda, que haveria entre ambos “certa semelhança pelas ideias novas que estão trazendo, casando a teoria tradicional do direito romano com a realidade histórica social e econômica dos respectivos países”.
Essa semelhança com Savigny é localizada por Alfredo de J. Flores (2012FLORES, Alfredo de Jesus. Direito natural e codificação: atualidade do método realista clássico de Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 30, p. 7-26, 2012., p. 20-21) no sentido de responsabilidade que teve Freitas para reestabelecer a tradição jurídica luso-brasileira por meio de uma legislação apta para sua época, evitando-se, no entanto, contaminá-la com modelos jurídicos estranhos.35 35 Acerca do equilíbrio, em Teixeira de Freitas, entre o “respeito à tradição e a justa medida das inovações necessárias”, sem, contudo, a remissão a Savigny, ver também Moreira Alves (2009, p. 434).
2.4. Compatibilizações entre as visões de mundo de Freitas e Savigny
Se, por um lado, as duas figuras são caracterizadas como gigantes de semelhante estatura no cenário da ciência jurídica do século XIX, por outro lado, esforços não deixam de ser direcionados para conciliar a contradição entre o empenho codificador de Freitas e o papel desempenhado por Savigny na conhecida polêmica sobre a codificação de 1814. Menciona Nelson Saldanha (1985SALDANHA, Nelson. História e sistema em Teixeira de Freitas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 22, n. 85, p. 237-256, 1985., p. 250, grifo do autor) que Freitas, penetrado pelo “demônio do sistema” ao embrenhar-se no trabalho de consolidar e codificar, não aderiu a Savigny, apesar do enorme respeito por ele nutrido, na “ideia de adiar a codificação”.
Essa aparente contradição foi notada por Clovis Ramalhete (1981RAMALHETE, Clovis. Compreensão de Teixeira de Freitas e Savigny: os dois procedimentos constituintes clássicos e crise política. Rio de Janeiro: Olímpica, 1981., p. 19-20) em discurso proferido no IAB por ocasião do recebimento da Medalha Teixeira de Freitas em 1980. Segundo Ramalhete, Freitas não teria deixado de expressar sua admiração pelo trabalho de Savigny, embora entre eles se entrevisse uma “aproximação contraditória e fascinante”. Isso porque, se, de um lado, Freitas debruçou-se sobre o trabalho de consolidar e codificar o direito civil brasileiro, Savigny, por outro lado, “desdenhara das leis” e “acusara os códigos” (RAMALHETE, 1981RAMALHETE, Clovis. Compreensão de Teixeira de Freitas e Savigny: os dois procedimentos constituintes clássicos e crise política. Rio de Janeiro: Olímpica, 1981., p. 20).
O resultado seria a depuração, pela pena de Freitas, daquilo que de Savigny “deveria ficar”. Ou seja, Teixeira de Freitas teria absorvido “o que de melhor encontrou em Savigny” e distinguido, de forma mais lúcida que este, por meio de seu trabalho legislativo, o duradouro do ocasional, afastando-se do, para Ramalhete, indesejável radicalismo da escola histórica (RAMALHETE, 1981RAMALHETE, Clovis. Compreensão de Teixeira de Freitas e Savigny: os dois procedimentos constituintes clássicos e crise política. Rio de Janeiro: Olímpica, 1981., p. 20-22).
A chamada “aproximação contraditória” não escapou à percepção de Silvio Meira (1988MEIRA, Silvio. O jurisconsulto Augusto Teixeira de Freitas em face do direito universal. Revista de Ciência Política, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 1-10, 1988.) e Clóvis Veríssimo do Couto e Silva (1988COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988.), que apresentaram, então, suas hipóteses para conciliar a influência de Savigny com a vocação codificadora de Freitas. Couto e Silva (1988COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988., p. 168, nota n. 9) retrata como aparente paradoxo o fato de a influência de Savigny não vir a resultar em uma recusa de Freitas à codificação. A explicação encontrada pelo autor, exposta em nota de rodapé e em tom de provisoriedade, é a de que “isto deve ter resultado do fato de Portugal estar vivendo por longo espaço de tempo sob uma codificação, as Ordenações” (COUTO E SILVA, 1988COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988., p. 168, nota n. 9).36 36 Esse ponto de vista foi seguido por Schmidt (2009, p. 37, in fine).
Silvio Meira (1988MEIRA, Silvio. O jurisconsulto Augusto Teixeira de Freitas em face do direito universal. Revista de Ciência Política, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 1-10, 1988., p. 6), por sua vez, observa com interesse o fato de Freitas ter seguido a Savigny, “acirrado combatente das codificações”, em vez de vincular-se a Thibaut, contendor de Savigny na polêmica de 1814. A explicação para isso estaria na própria qualidade de Freitas, um espírito independente e original, que “não foi um seguidor servil de Savigny”. Com isso, constituiria a “grande afinidade de Freitas com Savigny” o “combate ao Código Napoleão”.
Thiago Reis (2015aREIS, Thiago. Savigny-Leser in Brasilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015a. p. 1-40., p. 14-15), por outro lado - e, quem sabe, mais acertadamente -, formula a hipótese de que Freitas jamais teria tido contato com a Vocação de 1814, não por ignorância ou negligência, mas porque a obra não teria estado então disponível no Brasil. O fato de esta obra não ter tido impacto na convicção codificadora do brasileiro não seria, assim, uma opção teórica necessariamente consciente. Com efeito, a primeira aparição da polêmica na literatura brasileira teria ocorrido por intermédio dos apontamentos de segunda mão feitos por Antônio Joaquim Ribas na primeira edição de seu Curso de direito civil brasileiro, em 1865.37 37 Observa-se, no entanto, que, embora seja plausível que Freitas jamais tenha tido contato com os textos da polêmica de 1814, teve ele, é verdade, contato com a obra de Antônio Joaquim Ribas, à qual se refere na página XLVIII da terceira edição da Introdução à Consolidação das leis civis. Do mesmo modo, o discurso de Carvalho Moreira (1846, p. 4), proferido em 7 de setembro de 1845 por ocasião do segundo aniversário de criação do IAB, menciona a controvérsia de 1814 em segunda mão, a partir de referência colhida do Cours de législation pénale comparée, de Joseph-Louis-Elzéar Ortolan. Razoável, portanto, supor que, no mínimo, o contato indireto com a Vocação seria plausível.
2.5. Indicativos da penetração do pensamento savignyano na dogmática de Teixeira de Freitas
Talvez como decorrência do que fora observado na seção 1.1, acerca das abordagens generalistas quanto à influência de Savigny sobre Teixeira de Freitas, a literatura trate de forma rarefeita os pontos em que tal influência pode ser concretamente observada. Destaca-se, nesse contexto, a teorização e a classificação dos atos jurídicos voluntários como aqueles em que, para além das questões de método e sistematização anteriormente sumariadas, entrevê-se de forma evidente não apenas o contato de Freitas com o pensamento de Savigny como também a consciente elaboração e adaptação de sua doutrina. Desse modo, a obra de Savigny serviria, antes, como ponto de apoio para o desenvolvimento original do pensamento de Freitas.
Implícito nesse discurso está o posicionamento de Savigny como um jurista proeminente em seu tempo, o que serve à literatura como comprovação da qualidade da obra de Freitas. O brasileiro, afinal, teria podido avançar seu pensamento dogmático para além dos limites entrevistos nos textos de Savigny.
Embora Savigny seja inserido nos manuais como referência em temas diversos,38 38 Ver, supra, seção 1, notas de rodapé n. 11 a 14. no tocante especificamente à sua relação com Teixeira de Freitas, dois deles são indicados como tendo sido recepcionados e, eventualmente, aperfeiçoados pelo brasileiro: a teoria dos fatos jurídicos e a da posse.
Tanto na Consolidação das leis civis quanto no Esboço do código civil, Teixeira de Freitas segue a sistematização associada aos autores pandectistas, distribuindo a matéria civil entre a parte geral e a parte especial. Na Consolidação, Freitas biparte a parte geral em dois livros, quais sejam, pessoas e coisas. No Esboço, entretanto, alterando o método anteriormente empregado, Freitas insere uma terceira seção na parte geral, relativa, nomeadamente, aos fatos jurídicos. O seu conteúdo abrangeria os fatos “como causa produtora de direitos” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1983TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Esboço do código civil. Brasília: UnB, 1983., p. 144), não como objeto de relações jurídicas.39 39 Já aqui se refere Freitas ao § 106 do System des heutigen römischen Rechts, contido no terceiro volume da obra, em que Savigny esclarece que os atos voluntários (freye Handlungen; actes libres, na tradução de Guenoux consultada por Freitas) poderiam ser pensados, em sua conexão com as relações jurídicas, de duas formas diversas: como objeto de direitos ou como sua causa geradora (Entstehungsgründe der Rechte; principes générateurs de droits, na tradução de Guenoux). Conferir Savigny (1840b, p. 21); na tradução de Guenoux, o § 106 inicia-se também na página 21 (SAVIGNY, 1856).
A redação do art. 435 do Esboço - artigo esse inserto, justamente, no terceiro livro da parte geral, dedicado aos fatos - refletira, em princípio, de acordo com Jan Dirk Harke (2017HARKE, Jan Dirk. Pandectística e sua recepção no direito brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, ano 178, n. 473, p. 31-52, 2017., p. 32), a teoria dos atos voluntários savignyana.40 40 O art. 435 do Esboço foi assim redigido: “Os fatos voluntários, ou são atos lícitos, ou ilícitos. São atos lícitos as ações voluntárias não proibidas por lei, de que possa resultar alguma aquisição modificação, ou extinção de direitos” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1983, p. 145). Savigny distinguia, pois, dentro do campo dos fatos jurídicos (juristische Tatsachen) - isto é, os acontecimentos por efeito dos quais uma relação jurídica (Rechtsverhältnis) é iniciada, terminada ou metamorfoseada - os “atos voluntários” (freie Handlungen), decorrentes de uma declaração de vontade, das “circunstâncias acidentais” (zufällige Umstände).41 41 Na tradução de Guenoux (SAVIGNY, 1856, p. 5), a expressão aparece como circonstances accidentelles. Freitas (1983, p. 145) rechaça a terminologia savignyana na nota ao art. 432, em que afirma preferir a locução fatos exteriores a fatos naturais e que “não poderia deixar de preferir à de fatos acidentais, porque também são acidentes as ações e omissões de terceiros, sem diferença de serem voluntárias ou involuntárias”.
Savigny (1840bSAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts, 3. Bd. Berlin: Deit und Comp., 1840b., p. 3-6) separava, ainda, no seio dos atos voluntários, as “declarações de vontade” ou “negócios jurídicos” (Willenserklärungen ou Rechtsgeschäfte) - ou seja, atos imediatamente destinados à criação ou à extinção de uma relação jurídica, ainda que tal criação ou extinção servisse como meio para finalidades não jurídicas - dos atos jurídicos imediatamente destinados a finalidades não jurídicas, em que a produção de eficácia propriamente jurídica permaneceria em posição subordinada na consciência ou não seria conscientemente desejada.
No art. 436 do mesmo Esboço, por sua vez, a categoria dos atos voluntários imediatamente destinados a finalidades não jurídicas encontra expresso acolhimento.42 42 O enunciado normativo em questão é o seguinte: “[...] quando os atos lícitos não tiverem por fim imediato alguma aquisição, modificação ou extinção de direitos, somente produzirão este efeito nos casos que neste Código, e nos Códigos do Comércio, e do Processo, forem expressamente declarados”. Observa Moreira Alves (1993MOREIRA ALVES, José Carlos. Panorama do direito civil brasileiro: das origens aos dias atuais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 88, p. 185-238, 1993., p. 200), no entanto, que o modo com que Freitas lidou com tal categoria teria avançado em relação à concepção de Savigny em dois pontos: em primeiro lugar, porque teria inserido na categoria dos atos jurídicos não negociais tanto os atos lícitos quanto os ilícios; em segundo lugar, porque, enquanto Savigny teria apenas distinguido as categorias, Freitas teria ressaltado que tais atos não negociais apenas produziriam efeitos quando assim a lei previsse.43 43 No mesmo sentido, outros textos do autor: Moreira Alves (2008, p. 148-149; 2009, p. 439-440). Com isso, ainda na avaliação de Moreira Alves (1993MOREIRA ALVES, José Carlos. Panorama do direito civil brasileiro: das origens aos dias atuais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 88, p. 185-238, 1993., p. 200), a doutrina de Freitas, no Esboço, não apenas avançava em relação à de Savigny, como também antecipava o desenvolvimento da teoria do fato jurídico, que começaria a tomar corpo no início do século XX, notadamente por intermédio da teorização de Alfred Manigk.44 44 Consultar, também, Moreira Alves (2008, p. 148-149) e Pousada (2007, p. 95). Convém observar que, ao longo do livro dedicado aos fatos na parte geral do Esboço, o diálogo com o pensamento savignyano é verificável não apenas por meio das constantes referências nas notas explicativas como também na organização e no sequenciamento das matérias, além da própria terminologia empregada por Freitas. Nesse contexto, talvez seja o caso de anotar que Freitas, tanto na literalidade do art. 436 (transcrição na nota n. 42, supra) quanto na respectiva nota, não deixa tão evidente quanto faz parecer Moreira Alves que, naquela categoria de atos, estejam abarcados também os ilícitos: com efeito, diz ele que “este artigo [436] e seguinte [437] compreendem em sua generalidade todos os gêneros e espécies de atos lícitos suscetíveis de produzir aquisição, modificação ou extinção de direitos. Os atos lícitos deste art. 436 divergem dos outros do art. 437, porque não são atos jurídicos” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1983, p. 147 - os destaques estão no original da edição consultada). Outra observação que nos parece relevante é que Freitas não adota a terminologia savignyana para designar os negócios jurídicos (Willenserklärung ou Rechtsgeschäft, ou seja, declaração de vontade e negócio jurídico). A expressão negócio jurídico, aliás, não foi traduzida por Guenoux, encontrando-se, no texto francês, apenas déclarations de volonté, de que Freitas faz uso na nota explicativa ao art. 437, não a integrando, contudo, no enunciado normativo. Portanto, não há, no Esboço, a oposição entre atos negociais e não negociais, mas entre a categoria inominada - tanto em Savigny quanto em Freitas - dos atos lícitos que não tiveram por fim imediato alguma aquisição, modificação, ou extinção de direitos e a dos atos jurídicos, enunciada no art. 437, como atos ilícitos cujo fim imediato seja alguma aquisição, modificação, ou extinção de direitos.
Ainda no campo dos fatos jurídicos, anota Jan Dirk Harke (2017HARKE, Jan Dirk. Pandectística e sua recepção no direito brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, ano 178, n. 473, p. 31-52, 2017.) que, quanto aos vícios da vontade, a doutrina de Freitas divorcia-se da de Savigny. Harke (2017HARKE, Jan Dirk. Pandectística e sua recepção no direito brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, ano 178, n. 473, p. 31-52, 2017., p. 33-34) indica que a raiz da teoria de Freitas estaria na extrapolação da noção de imputação para além dos limites dos atos ilícitos, criando-se um conceito de imputação de bem. Como resultado, os por nós hoje chamados vícios da vontade, no âmbito da teoria empregada no Esboço, resultariam da falta de imputabilidade de bem, tomando-se, assim, o ato viciado por involuntário.45 45 Freitas (1983, p. 150-170) oferece uma detalhada explicação no comentário ao art. 445 do Esboço. Como consequência, observar-se-ia, ainda, o desvio do regramento do erro pelo Código Civil brasileiro de 1916 em relação àquele do Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Tal divergência decorreria da teoria generalizante da imputação criada por Teixeira de Freitas e adotada, em seguida, por Clóvis Beviláqua (HARKE, 2017HARKE, Jan Dirk. Pandectística e sua recepção no direito brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, ano 178, n. 473, p. 31-52, 2017., p. 37).
No tópico sobre a posse, aponta incidentalmente Moreira Alves (1993MOREIRA ALVES, José Carlos. Panorama do direito civil brasileiro: das origens aos dias atuais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 88, p. 185-238, 1993., p. 203) a penetração do pensamento savignyano para a composição da disciplina contida no Esboço. Teria, pois, Freitas recebido “manifesta” influência de Savigny, bem como do regramento encerrado no Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten (ALR). No entanto, embora a nomenclatura utilizada no Esboço fosse semelhante àquela do ALR, nem sempre o sentido empregado por Freitas corresponderia precisamente àquele da lei prussiana, como ocorreria com as noções de simples detenção, posse imperfeita e posse perfeita.46 46 Moreira Alves (2008, p. 150-151) não aprofunda na obra citada, ou no artigo sobre o papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro, suas observações acerca da influência savignyana sobre Freitas em matéria de posse. Com relação às noções de detenção, posse perfeita e imperfeita, aduz Moreira Alves que Freitas teria sobreposto parcialmente, na disciplina do Esboço, as noções de simples detenção e posse imperfeita, ao mesmo tempo em que assentaria as noções de posse perfeita e imperfeita naquelas de domínio perfeito e imperfeito, o que não seria o caso no ALR. Conferir Moreira Alves (1993, p. 203; 2008, p. 151; 2009, p. 443-444). Para Harke (2017, p. 41), o direito brasileiro, como restou codificado em 1916, não seguiu de forma pura seja a teoria pandectística, a de Savigny ou a de Jhering sobre a posse, resultando em uma “ideia independente do autor do Código brasileiro [Clóvis Beviláqua, portanto]. Ele, aqui, não se limitava à adoção da teoria de Jhering, mas a desenvolvia. Criava, assim, uma melhor síntese do que o Código alemão, que havia enquadrado a figura da posse indireta em um conceito da posse, pretendendo veicular uma fusão das teorias de Savigny e Jhering, que ainda poria a vontade como elemento característico da posse” (grifo do autor).
2.6. Aproximações entre a leitura de Savigny por Freitas e a formação da identidade jurídica nacional
Encontram-se, na literatura até aqui manuseada, algumas intuições particularmente interessantes dentro do viés proposto para esta pesquisa quanto à exploração da relação entre Savigny e Freitas e a formação de uma identidade jurídica nacional. Alguns autores deixam entrever por intermédio dessa relação um caminho para a formação de um direito privado de caráter genuinamente nacional, ou melhor, para a formação de uma identidade para o direito privado nacional que, por um lado, o destacasse do direito português e, por outro, o excetuasse da onda de influência da codificação francesa.
Nesse sentido, Clóvis Veríssimo do Couto e Silva (1988COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988., p. 168) insere Teixeira de Freitas em uma linhagem de juristas “conservadores”, que preferiram, no lugar da recepção do Código Napoleônico, a adoção do System des heutigen römischen Rechts, de autoria de Friedrich Carl von Savigny. Segundo Couto e Silva (1988COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988.), pelas mãos de Freitas teriam tomado corpo na cena jurídica brasileira “muitas ideias inspiradas em Savigny”; a obra do jurista alemão seria a mais influente na composição da corrente de pensamento que determinou a verdadeira diferenciação do direito civil brasileiro em relação ao de Portugal.
Nesse mesmo sentido, apontando a obra de Freitas como desvio com relação ao caminho que mais comumente se apresentava para codificação do direito civil, Silvio Meira (1988MEIRA, Silvio. O jurisconsulto Augusto Teixeira de Freitas em face do direito universal. Revista de Ciência Política, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 1-10, 1988., p. 2, 5-6) afirma que haveria “duas grandes vertentes” de codificações no século XIX: “[...] o Código Napoleão de 1804 e o Esboço de Teixeira de Freitas, de 1860”, que, a despeito de ter Savigny “como sua matriz em muitos pontos”, dele também “diverge vez por outra”. Tais divergências comprovariam a qualidade de Freitas como um jurista “que se coloca à frente de sua geração”. Como apontado na seção 2.4, supra, Meira assinalava não ter sido Freitas um “seguidor servil de Savigny”, o que resultaria, em última instância, na assunção de que a grande afinidade entre ambos os juristas estaria, justamente, no combate ao Código Napoleão.
Esse “combate” ao modelo francês de codificação teria implicado as ciências jurídicas brasileira e alemã no mesmo fronte, constituindo entre elas, assim, um alicerce comum para construção de suas respectivas identidades. Um dos símbolos mais bem-acabados dessa batalha deixar-se-ia ver na organização das matérias dos códigos civis brasileiros e do alemão, que se estrutura a partir de uma parte geral e de outra, especial.
A esse respeito, Jan Peter Schimdt (2009, p. 299-300) enxerga que a parte geral enxertada no Código Civil brasileiro de 2002 continua uma tradição a que o Código de 1916 já havia aderido. Tal tradição, cuja gênese estaria na pandectística, ligá-lo-ia ao Código Civil alemão (BGB) e, ao mesmo tempo, diferenciaria ambos, o Código brasileiro e o BGB, da maior parte dos outros códigos da tradição europeia continental, constituindo, portanto, uma marca da identidade de uma e outra ciência jurídica.47 47 Em sentido diverso, inserindo o direito privado brasileiro no grupo ibero-americano, marcado pela coexistência de “elementos de direito napoleônico e do direito hispânico e lusitano”, resultando em codificações que seriam “originais na adequação à realidade atual e na ligação à antiga tradição romano”, ver o resumo de Catalano (2006, p. XVI); conferir Flores (2012, p. 9-10). Também Sandro Schipani (2015, p. 298) trata a codificação civil na América Latina como uma unidade constituída pela transfusão do direito romano para atender às necessidades do processo de independência: “[...] a independência é fazer Roma na América: com relação a um direito que tendia a ser nacionalizado no continente europeu e na península Ibérica, há uma autônoma apropriação do sistema do direito romano e aquisição de sua perspectiva universalística”.
Conclusão
O panorama da literatura explorada apresenta uma imagem pouco nítida ao observador, que precisa “apertar os olhos” para distinguir, por meio da historiografia, os traços nem sempre bem definidos da relação entre Augusto Teixeira de Freitas e Friedrich Carl von Savigny na história do direito brasileiro.
Com efeito, Pousada (2007POUSADA, Estevan Lo Ré. A obra de Augusto Teixeira de Freitas e a conformação de um direito civil tipicamente brasileiro: sua genialidade compreendida como conciliação entre inovação sistemática e acuidade histórica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade, São Paulo, v. 102, p. 89-98, 2007., p. 90) observa que a “obra de Augusto Teixeira de Freitas corresponde a um terreno verdadeiramente desconhecido à maioria dos juristas brasileiros”. Com isso, também a imagem da recepção savignyana tende a ficar nublada diante das repetidas assunções de que seria Freitas um dedicado discípulo sul-americano do mestre alemão, com ele compartilhando uma semelhante visão da ciência jurídica, exercendo ambos papéis análogos para a Europa e para a América do Sul. Esse conjunto de assunções parece antes prevenir que estimular a investigação sobre o alcance e a profundidade da influência de Savigny sobre Freitas e sobre a ciência jurídica brasileira do século XIX de forma geral. Esse ponto de vista dissemina-se por diversos estratos da literatura, e, a partir dele, o aproveitamento por Freitas do aparato teórico da ciência jurídica alemã e, especialmente, de Savigny é tratado como um dado, sem questionamento sobre sua profundidade e extensão, formando, assim, um lugar-comum da literatura jurídica nacional.
Nota-se, nesse contexto, que a análise sobre a penetração do pensamento de Savigny na obra de Teixeira de Freitas poucas vezes ultrapassa as expressões que tipicamente remetem à obra savignyana, tais como relação jurídica, instituições de direito, e os epítetos que emprega Freitas para referir-se a Savigny, especialmente na Introdução à Consolidação das leis civis.48 48 No mesmo sentido, Reis (2015a, p. 13-14). Em vista dessas amostras, a apropriação do pensamento de Savigny parece estar, então, suficientemente comprovada.
Quando se detectam divergências, estas são abordadas de forma a se confirmar a originalidade e a genialidade de Freitas, em um padrão cuja formulação pode ser encontrada em Silvio Meira (1979MEIRA, Silvio. Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979., p. 137), para quem Freitas recolhe de Savigny ideias que, “não sendo de primeira grandeza, faz suas”, assimilando-as, digerindo-as e reformulando-as, gerando, assim, outras “mais largas e com timbres pessoais”.49 49 Mais adiante, na mesma obra, Meira (1979, p. 247) aduz que o grande merecimento de Freitas está em sua “rebeldia no campo das ideias […], rebeldia contra o seu próprio mestre Savigny, do qual muitas vezes discorda, enfrenta e procura destruir”. Com esse padrão, a historiografia assume frequentemente um tom de celebração do jurista, mesmo quando não se trata de literatura desenvolvida por ocasião de efemérides relacionadas à sua vida e obra. Observa-se que especial atenção é dedicada às realizações de Teixeira de Freitas como grande antecipador em diversos tópicos do direito privado, como a unificação do direito civil e comercial, a utilização da parte geral no âmbito da legislação e na formulação da taxinomia dos atos jurídicos.50 50 Paradigmático o tópico contido no discurso de Haroldo Valladão (1960, p. 217-220), proferido por ocasião do recebimento da Medalha Teixeira de Freitas, a ele oferecida pelo IAB, encabeçado pelo título Teixeira de Freitas, precursor no direito mundial.
Para a mensuração da qualidade do pensamento e da obra jurídica de Teixeira de Freitas, Savigny provém o parâmetro. É o que ocorre, por exemplo, em Moreira Alves ao tratar do desenvolvimento que empreendera Freitas da categoria dos atos jurídicos negociais,51 51 Ver, supra, seção 2.5. ou em Valladão (1960VALLADÃO, Haroldo. Teixeira de Freitas, jurista excelso do Brasil, da América, do mundo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, [s. l.], v. 8, p. 203-222, 1960., p. 220) quanto à distinção entre capacidade de direito e de fato.
Tem-se, assim, que algumas questões importantes ainda permanecem em aberto. No contexto em que a recepção do pensamento savignyano é comprovada por meio da constância das referências às suas obras, é digno de atenção o fato de que, ao longo da porção conceitual contida na Introdução à Consolidação das leis civis, em que se estipulam as dicotomias centrais para a sistematização da obra, quais sejam, direitos relativos e absolutos, direitos reais e pessoais, Savigny é referido em uma única passagem.52 52 Com efeito, tal referência está em nota de rodapé compartilhada entre Savigny e Mackeldey, correspondente ao parágrafo do corpo de texto em que se discutem as divergências doutrinárias a respeito da distribuição das matérias na tradicional tripartição baseada na passagem de Gaio encerrada no livro primeiro do Digesto: omne ius uel ad personas pertinet, uel ad res, uel ad actiones. Isso significa que, ao longo das primeiras 90 páginas do total de 192 da Introdução, Savigny é mencionado nominalmente em apenas uma ocasião. Conferir Teixeira de Freitas (1876, p. XLI, nota n. 15). O próprio Silvio Meira (1979, p. 133) observa que, até o início da seção aplicação de princípios, iniciada na página CXII na terceira edição da Consolidação, “Freitas poucas vezes referiu o nome de Savigny”. O que isso significa para a interpretação da recepção de seu pensamento por Teixeira de Freitas resta em aberto. Isso também poder-se-ia dizer acerca da questão sobre o significado da relação entre os autores no contexto da compatibilização entre a semântica liberal global e a semântica local, ainda delimitada pela escravatura e comprometida com a manutenção do quadro sociopolítico e legal-econômico do regime monárquico.53 53 Essa formulação é colhida de Neves (2015, p. 57-58).
Com isso, julgamos poder dar por demonstrada nossa hipótese inicial, no sentido de que a relação entre Savigny e Teixeira de Freitas se reproduz como um lugar-comum na literatura, servindo como elemento da anatomia da tradição do direito civil brasileiro. Encerrando estas reflexões, voltemos a uma lição de Aleida Assmann (2016ASSMANN, Aleida. Formen des Vergessens. Göttingen: Wallstein, 2016., p. 69-75), que indica, a partir de um ensaio de Robert Musil, que a construção de um monumento ou a nomeação de uma rua pode encerrar um paradoxo: em vez de promover a conservação da memória, o hábito dos passantes, que, de cabeça baixa, vão, apressados, a seus destinos, provoca a invisibilidade de quem ou do que se queria fazer lembrar. Assim, embora ao longo da última década diferentes estudos tenham indicado novas interpretações para a recepção de Savigny no Brasil (ver, supra, nota de rodapé n. 6), nota-se que, de forma geral, Savigny e Freitas ainda nos parecem nomes de duas ruas que formam uma conhecida esquina no mapa da literatura jurídico-historiográfica nacional: ainda que não se saiba exatamente de onde as duas “ruas” provêm, o seu entrecruzamento não deixa de servir fundamentalmente à orientação daqueles que, habituados com o caminho, passam pela história do direito civil brasileiro no século XIX. Todavia, para ainda permanecer com Assmann, não são, nossos dois monumentos, fósseis de outro tempo e relíquias de uma cultura que se tornou estranha. Levantar-lhes os olhos pode seguramente oferecer melhor compreensão sobre nosso tempo.
AGRADECIMENTOS
Este artigo foi realizado como parte do projeto de pesquisa “Civil Code, Legal Sites of Memory and Identity-Building in the Legal-Science Field”, financiado pela Fritz Thyssen Stiftung no contexto da residência pós-doutoral na Universidade Humboldt, Berlim. O autor agradece às duas instituições, bem como ao Professor Dr. Stefan Grundmann, pelo acolhimento e suporte.
REFERÊNCIAS
- AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- ASCARELLI, Tullio. Notas de direito comparado ítalo-brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 42, p. 23-50, 1947.
- ASCARELLI, Tullio. A ideia de código no direito privado e a tarefa da interpretação. In: ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado São Paulo: Saraiva, 1945. p. 53-98.
- ASSMANN, Aleida. Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck, 2018.
- ASSMANN, Aleida. Formen des Vergessens Göttingen: Wallstein, 2016.
- BARTHES, Roland. Leçon Texte de la leçon inaugurale prononcée le 7 janvier 1977 au Collège de France. Paris: Seuil, 2002.
- BONNECASE, Julien. La Thémis (1813-1831): son fondateur, Athanase Jourdan. Paris: Sirey, 1914.
- BRAGA DA CRUZ, Guilherme. A formação histórica do moderno direito privado português e brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 50, p. 32-77, 1955.
- BRASSART, Dominique Guy. Stéréotype/Prototype/ Modèle. Recherches, v. 10 (Stéréotypes), p. 173-186, 1989.
- CARVALHO MOREIRA, Francisco Ignacio de. Da revisão geral e codificação das leis civis e do processo no Brasil. Revista do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, 1862. Disponível em: Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/324345/121 Acesso em: 11 maio 2021.
» http://memoria.bn.br/DocReader/324345/121 - CARVALHO MOREIRA, Francisco Ignacio de. Discurso do Dr. Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, recitado na sessão pública do Instituto dos Advogados Brasileiros, no dia 7 de setembro de 1845, 2o aniversário de sua instalação. Gazeta dos Tribunais, Rio de Janeiro, v. 4, n. 296, 1846. Disponível em: Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/709492/1188 Acesso em: 11 maio 2021.
» http://memoria.bn.br/DocReader/709492/1188 - CATALANO, Pierangelo. Abelardo Lobo e o romanismo jurídico latino-americano. In: LOBO, Abelardo Saraiva da Cunha. Curso de direito romano: história, sujeito e objeto do direito. Instituições jurídicas. Brasília: Senado Federal, 2006. p. XI-XXVIII.
- CEIA, Carlos. Lugar-comum. In: CEIA, Carlos (coord.). E-Dicionário de Termos Literários (EDTL) 2009. Disponível em: Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/prefix:lu Acesso em: 19 jan. 2023.
» https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/prefix:lu - CHACON, Vamireh. Da escola do Recife ao código civil: Artur Orlando e sua geração. Rio de Janeiro: Organização Simões, 1969.
- COING, Helmut. Savigny und die Deutsche Privatrechtwissenschaft. Ius commune, v. VIII (Vorträge zum 200. Geburtstag von F. C. von Savigny), 1979.
- CONRAD, Christoph. Die Dynamik der Wenden. Von der neuen Sozialgeschichte zum cultural turn. Geschichte und Gesellschaf, Sonderheft, v. 22 (Wege der Gesellschaftsgeschichte), p. 133-160, 2006.
- COUTO E SILVA, Almiro do. Romanismo e germanismo no código civil brasileiro. Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, v. 57, n. 52, p. 295-313, 2004.
- COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988.
- COSTA, Yuri; GALVES, Marcelo Cheche. O Epaminondas Americano: trajetórias de um advogado português na Província do Maranhão. São Luís: Café & Lápis/UEMA, 2011.
- DAVID, René. Le droit brésilien jusqu’en 1950. In: WALD, Arnold; JAUFFRET-SPINOSI, Camille. Le droit Brésilien d’hier, d’aujourd’hui e de demain Paris: Société de Législation Comparée, 2005. p. 25-182.
- DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. I.
- DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015.
- FLORES, Alfredo de Jesus. Direito natural e codificação: atualidade do método realista clássico de Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 30, p. 7-26, 2012.
- FONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura jurídica brasileira e a questão da codificação civil no século XIX. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, v. 44, p. 61-76, 2006a.
- FONSECA, Ricardo Marcelo. Os juristas e a cultura jurídica brasileira na segunda metade do século XIX. Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Moderno, Milano, v. 35, t. I, p. 339-427, 2006b.
- GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I.
- HARKE, Jan Dirk. Pandectística e sua recepção no direito brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, ano 178, n. 473, p. 31-52, 2017.
- HERZOG, Benjamin. Die Rezeption von Savignys Methodenlehre in Brasilien und Portugal. In: MEDER, Stephan; MECKE, Christoph-Eric (orgs.). Savigny global 1814-2014 “Vom Beruf unsrer Zeit” zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. p. 381-394.
- HERZOG, Benjamin. Anwendung und Auslegung von Recht in Portugal und Brasilien: Eine rechtsvergleichende Untersuchung aus genetischer, funktionaler und postmoderner Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014.
- JHERING, Rudolf. Friedrich Carl von Savigny. Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Jena, v. 5, p. 354-377, 1861.
- KROPPENBERG, Inge. Mythos Kodifikation: Ein rechtshistorischer Streifzug. JuristenZeitung, Jahrg, v. 63, n. 19, p. 905-912, 2008.
- KUHN, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions 4. ed. Chicago: University Press, 2012.
- LAHUSEN, Benjamin. Alles Recht geht vom Volksgeist aus: Friedrich Carl von Savigny und die moderne Rechtswissenschaft. Berlim: Nicolai, 2013.
- LE GOFF, Jacques. História e memória 7. ed. Campinas: Unicamp, 2013.
- LESSA, Pedro Augusto Carneiro. A escóla historica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 11, p. 359-385, 1903.
- LIMA LOPES, José Reinaldo de. História do direito: sua (re)introdução e função nos cursos jurídicos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 113, p. 21-44, 2018.
- LIMA LOPES, José Reinaldo de. O direito na história: lições introdutórias. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- LIMA LOPES, José Reinaldo de. As palavras e a lei: direito, ordem e justiça na história do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Editora 34, 2004.
- LOSANO, Mario Giuseppe. La biblioteca tedesca di Tobias Barreto a Recife. Quaderni Fiorenti per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, [s. l.], n. 21, p. 159-176, 1992.
- LOSANO, Mario Giuseppe. La scuola di recife e l’influenza tedesca sul diritto brasiliano. Materiali per una Storia della Cultura Giuridica, [s. l.], n. 4, p. 323-373, 1974.
- MARTINS-COSTA, Judith. O sistema da codificação civil brasileira: de Leibniz a Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 17, p. 189-204, 1999.
- MEDER, Stephan; MECKE, Christoph-Eric (orgs.). Savigny global 1814-2014 “Vom Beruf unsrer Zeit” zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.
- MEIRA, Silvio. O jurisconsulto Augusto Teixeira de Freitas em face do direito universal. Revista de Ciência Política, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 1-10, 1988.
- MEIRA, Silvio. Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.
- MONTEIRO, Washington de Barros. Augusto Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 62, n. 2, p. 305-318, 1967.
- MOREIRA ALVES, José Carlos. A formação romanística de Teixeira de Freitas e seu espírito inovador. In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Estudos de direito romano Brasília: Senado Federal, 2009. p. 417-448.
- MOREIRA ALVES, José Carlos. O papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Comparado, [s. l.], n. 34, p. 141-151, 2008.
- MOREIRA ALVES, José Carlos. Panorama do direito civil brasileiro: das origens aos dias atuais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 88, p. 185-238, 1993.
- NEVES, Marcelo. Ideas in Another Place? Liberal Constitution and the Codification of Private Law at the Turn of the 19th Century in Brazil. In: POLOTTO, María Rosario; KEISER, Thorsten; DUVE, Thomas (orgs.). Derecho privado y modernización: América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal History, 2015. p. 47-81.
- NORA, Pierre. Between Memory and History: les lieux de mémoire. Representations, [s. l.], n. 26 (special issue: Memory and Counter-Memory), p. 7-24, 1989.
- ONOFRI, Renato Sedano. A construção de uma tradição jurídica: memória, esquecimento e a codificação civil brasileira. Curitiba: Juruá, 2018.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil 30. ed. São Paulo: GEN, 2017. v. I.
- PIETRA, Régine. Lieux communs. Littérature, Paris, n. 65, p. 96-108, 1987.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Influência do direito alemão sobre o direito brasileiro. Jurídica, Rio de Janeiro, ano XVIII, n. 123, p. 5-40, 1973.
- POUSADA, Estevan Lo Ré. A obra de Augusto Teixeira de Freitas e a conformação de um direito civil tipicamente brasileiro: sua genialidade compreendida como conciliação entre inovação sistemática e acuidade histórica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade, São Paulo, v. 102, p. 89-98, 2007.
- POUSADA, Estevan Lo Ré. Preservação da tradição jurídica luso-brasileira: Teixeira de Freitas e a Introdução à Consolidação das Leis Civis. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- RAMALHETE, Clovis. Compreensão de Teixeira de Freitas e Savigny: os dois procedimentos constituintes clássicos e crise política. Rio de Janeiro: Olímpica, 1981.
- REIS, Thiago. Savigny-Leser in Brasilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015a. p. 1-40.
- REIS, Thiago. Teixeira de Freitas, lector de Savigny. Revista de Historia del Derecho, Buenos Aires, n. 49, p. 181-221, 2015b. Disponível em: Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842015000100007&lng=es&nrm=iso#_ftnref4 Acesso em: 11 jun. 2020.
» http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842015000100007&lng=es&nrm=iso#_ftnref4 - RICŒUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli Paris: Seuil, 2000.
- ROSSI, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento São Paulo: Unesp, 2010.
- RÜCKERT, Joachim. Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny Ebelsbach: Gremer, 1984.
- SALDANHA, Nelson. História e sistema em Teixeira de Freitas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 22, n. 85, p. 237-256, 1985.
- SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo Horizonte: Arraes, 2012.
- SAVIGNY, Friedrich Carl von. Traité de droit romain 2. ed. Paris: Firmin Ditot Frères, 1856. v. 3.
- SAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts, 1. Bd. Berlin: Veit und Comp., 1840a.
- SAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts, 3. Bd. Berlin: Deit und Comp., 1840b.
- SCHIPANI, Sandro. Sistema jurídico latino-americano e códigos civis. In: SCHIPANI, Sandro; ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes (orgs.). Sistema jurídico romanístico e subsistema jurídico latino-americano São Paulo: FGV DIREITO SP, 2015. p. 267-335.
- SCHMIDT, Jan Peter. El origen de la «Parte general» del derecho privado brasileño. Derecho PUCP, Lima, n. 80, p. 33-48, 2018.
- SCHMIDT, Jan Peter. Der Ursprung des Allgemeinen Teils im brasilianischen Privatrecht. In: BALDUS, Christian; DAJCZAK, Wojeciech (orgs.). Der Allgemeine Teil des Privatrechtes: Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. p. 247-263.
- SCHMIDT, Jan Peter. Die Zivilrechtskodifikation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme in historisch-vergleichender Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.
- TARTUCE, Flávio. Direito civil São Paulo: GEN, 2017. v. 1.
- TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Esboço do código civil Brasília: UnB, 1983.
- TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Introdução. In: TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis 3. ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1876. p. XXIX-CCXXI.
- TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Nova apostilla á censura do senhor Alberto de Moraes Carvalho sobre o projecto do codigo civil portuguez Rio de Janeiro: Laemmert, 1859.
- VALLADÃO, Haroldo. Teixeira de Freitas, jurista excelso do Brasil, da América, do mundo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, [s. l.], v. 8, p. 203-222, 1960.
- VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio. El folleto del doctor Alberdi. In: TEXO, Jorge Cabral (org.). Juicios críticos sobre el proyecto de código civil Buenos Aires: Jesús Menéndez, 1920. p. 231-256.
- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil 18. ed. São Paulo: GEN, 2017. v. I.
- VERA-CRUZ PINTO, Eduardo. As origens do direito português: a tese germanista de Teófilo Braga. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996.
- VILLARD, Pierre. L’influence de la doctrine française sur le droit civil brésilien. Revue d’histoire des Facultés de Droit et de la Science Juridique, Paris, v. 15, p. 161-173, 1994.
- WALD, Arnold. A obra de Teixeira de Freitas e o direito latino-americano. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 41, n. 163, p. 249-260, 2004.
- WROBEL, Hans. Die Kontroverse Thibaut-Savigny im Jahre 1814 und ihre Deutung in der Gegenwart Bremen, 307 f.,1975. Tese (Doutorado em Direito) - Universität Bremen, Bremen, 1975.
- ZACHEO, Manoel Paixão dos Santos [Epaminondas Americano]. Projectos do novo codigo civil e criminal do império do Brasil Maranhão: Typographia Nacional. 1825. Disponível em: Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/bndigital1450/bndigital1450.pdf Acesso em: 5 nov. 2020.
» http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/bndigital1450/bndigital1450.pdf
-
1
Exemplos que compõem esse eixo encontram-se em Braga da Cruz (1955BRAGA DA CRUZ, Guilherme. A formação histórica do moderno direito privado português e brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 50, p. 32-77, 1955.), Couto e Silva (1988COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988.), Gomes (2003GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003.), Moreira Alves (1993MOREIRA ALVES, José Carlos. Panorama do direito civil brasileiro: das origens aos dias atuais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 88, p. 185-238, 1993., 2009MOREIRA ALVES, José Carlos. A formação romanística de Teixeira de Freitas e seu espírito inovador. In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Estudos de direito romano. Brasília: Senado Federal, 2009. p. 417-448.) e Pousada (2006POUSADA, Estevan Lo Ré. Preservação da tradição jurídica luso-brasileira: Teixeira de Freitas e a Introdução à Consolidação das Leis Civis. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.).
-
2
Nesse sentido, Couto e Silva (1988COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, p. 163-180, jan.-mar. 1988., p. 163) insere, como tarefa central para conhecimento da atual situação de um sistema jurídico, a aferição de sua posição com relação aos códigos mais influentes, não havendo dúvida, segundo o autor, “de que a questão é a de saber em que medida o direito privado brasileiro, especialmente o Código Civil Brasileiro, sofreu a influência do Código Napoleônico, ou do Código Civil Germânico, de 1900 [...]”. Nesse contexto, teria o direito civil brasileiro se mantido “imune à influência do Código Napoleônico”. Tullio Ascarelli (1947ASCARELLI, Tullio. Notas de direito comparado ítalo-brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 42, p. 23-50, 1947., p. 24), por sua vez, aduz que a passagem do sistema de direito comum para a codificação, sem que, no intermédio, se observasse um movimento de renovação legislativa decorrente da própria revolução francesa, aproximava a história jurídica brasileira e alemã, ainda que não se observassem, no Brasil, ao contrário do que houve na Alemanha, o surgimento de codificações territoriais particulares, como o Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten, de 1794. Nesse mesmo sentido, ver Couto e Silva (2004COUTO E SILVA, Almiro do. Romanismo e germanismo no código civil brasileiro. Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, v. 57, n. 52, p. 295-313, 2004., p. 307-308). Para uma avaliação da posição de Ascarelli, consultar Fonseca (2006aFONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura jurídica brasileira e a questão da codificação civil no século XIX. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, v. 44, p. 61-76, 2006a., p. 61-62).
-
3
Sobre a escola do Recife e o influxo germanófilo no direito brasileiro, ver Losano (1974LOSANO, Mario Giuseppe. La scuola di recife e l’influenza tedesca sul diritto brasiliano. Materiali per una Storia della Cultura Giuridica, [s. l.], n. 4, p. 323-373, 1974., 1992LOSANO, Mario Giuseppe. La biblioteca tedesca di Tobias Barreto a Recife. Quaderni Fiorenti per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, [s. l.], n. 21, p. 159-176, 1992.) e Chacon (1969CHACON, Vamireh. Da escola do Recife ao código civil: Artur Orlando e sua geração. Rio de Janeiro: Organização Simões, 1969.). Em Portugal, por sua vez, vê-se desabrochar a tese germanista da origem do direito lusitano, em antítese à tese romanista e em paralelo ao movimento de renovação cultural e literária de inspiração germanista no seio da chamada Escola de Coimbra, ao longo da década de 1860. Conferir Vera-Cruz Pinto (1996VERA-CRUZ PINTO, Eduardo. As origens do direito português: a tese germanista de Teófilo Braga. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996.).
-
4
Como cediço, Augusto Teixeira de Freitas foi incumbido pelo governo imperial, por intermédio do contrato celebrado em 15 de fevereiro de 1855, de levar a efeito a “última parte dos trabalhos preparatorios” para a codificação do direito civil brasileiro. Isso significaria, segundo o programa estipulado, consolidar “toda a Legislação Civil Patria”, com o propósito de “mostrar o ultimo estado da Legislação” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1876TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Introdução. In: TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1876. p. XXIX-CCXXI., p. XXX-XXXI). Em 1858, ao ter seu trabalho de consolidação aprovado, Freitas foi contratado em 10 de janeiro de 1859 para a redação do projeto do código civil do império, tarefa que deu origem ao Esboço do código civil. O contrato foi aprovado pelo Decreto n. 2.337, de 11 de janeiro de 1859. Sobre a vida e obra de Teixeira de Freitas, consultar Meira (1979MEIRA, Silvio. Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.). Para René David (2005DAVID, René. Le droit brésilien jusqu’en 1950. In: WALD, Arnold; JAUFFRET-SPINOSI, Camille. Le droit Brésilien d’hier, d’aujourd’hui e de demain. Paris: Société de Législation Comparée, 2005. p. 25-182., p. 78), acompanhado posteriormente por Jan Peter Schmidt, Freitas teria sido não apenas o pioneiro da codificação civil, como também a “pedra angular do direito e da doutrina brasileira”, assumindo o papel que tiveram juristas como Acúrsio, Bártolo, Domat, Pothier, Bracton, Coke, Blackstone e Stair: antes de Freitas, não haveria ciência jurídica no Brasil. Schmidt (2009SCHMIDT, Jan Peter. Die Zivilrechtskodifikation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme in historisch-vergleichender Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009., p. 24), por sua vez, nomeia Freitas o fundador da ciência jurídica nacional, argumentando que nenhum outro jurista brasileiro teria marcado tão fortemente com suas ideias as gerações que o sucederam.
-
5
Como observado anteriormente (nota de rodapé n. 3), surge em Portugal, entre as décadas de 1850 e 1860, um movimento de valorização da cultura germânica que busca, a partir de modelos alemães, renovar a literatura portuguesa. No campo jurídico, paralelamente, desenvolve-se o argumento pela preponderância de elementos germânicos sobre os romanos na formação do direito português, como articula Teófilo Braga (1843-1924) na esteira dos achados de Tomás Muñoz y Romero (1814-1867) e Levy Maria Jordão (1831-1875), mas seguindo, em sua juventude, sobretudo Jules Michelet (1798-1874) como modelo, ainda que posteriormente o abandone em nome do positivismo comteano. A esse respeito, conferir Vera-Cruz Pinto (1996VERA-CRUZ PINTO, Eduardo. As origens do direito português: a tese germanista de Teófilo Braga. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996., p. 63-82 e 190-191). Tal ideia encontra eco também entre os brasileiros ao longo do século XX. Pontes de Miranda (1973PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Influência do direito alemão sobre o direito brasileiro. Jurídica, Rio de Janeiro, ano XVIII, n. 123, p. 5-40, 1973.), com efeito, parte da premissa de que o termo “influência” seria desacertado para tratar da relação entre o direito luso-brasileiro e o alemão, pois dever-se-ia “aludir, primeiramente, à herança, porque muito do que recebemos nos meados do primeiro milênio e no começo do segundo, se mantém no que nos rege e, às vezes, há como se fossem raios que apontassem as regras jurídicas brasileiras de hoje, mais germânicas do que o direito alemão moderno. [...] O direito luso-brasileiro foi e continuou de ser, no Brasil, mistura e evolução do direito romano e do germânico” (PONTES DE MIRANDA, 1973PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Influência do direito alemão sobre o direito brasileiro. Jurídica, Rio de Janeiro, ano XVIII, n. 123, p. 5-40, 1973., p. 5). Mais adiante, prossegue o autor esclarecendo que, em função da recepção do direito romano, “tanto se romanizou o sistema jurídico [alemão] que, em alguns pontos, o Brasil tem traços do direito germânico, que desapareceram do direito alemão de hoje e de séculos passados, como de Portugal, com a influência da legislação francesa. [...] Há, devido à herança que o Brasil recebeu, certa predileção pela cultura alemã. [...] Muito se deve à Filosofia, à Sociologia e à Ciência do Direito que se elevou explendentemente, no século passado [séc. XIX] e neste século [XX], mas sejamos justos em frisar que o Brasil é a maior continuação extraeuropeia da vida cultural da Alemanha” (PONTES DE MIRANDA, 1973PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Influência do direito alemão sobre o direito brasileiro. Jurídica, Rio de Janeiro, ano XVIII, n. 123, p. 5-40, 1973., p. 28). Passando em revista histórico-comparatista diversas figuras jurídicas de direito público e privado alemão e brasileiro, Pontes de Miranda passa ao largo de Teixeira de Freitas e Savigny em sua análise.
-
6
Destacam-se, nessa perspectiva, os seguintes textos: Schmidt (2009SCHMIDT, Jan Peter. Die Zivilrechtskodifikation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme in historisch-vergleichender Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. e 2013SCHMIDT, Jan Peter. Der Ursprung des Allgemeinen Teils im brasilianischen Privatrecht. In: BALDUS, Christian; DAJCZAK, Wojeciech (orgs.). Der Allgemeine Teil des Privatrechtes: Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. p. 247-263.), Herzog (2014HERZOG, Benjamin. Anwendung und Auslegung von Recht in Portugal und Brasilien: Eine rechtsvergleichende Untersuchung aus genetischer, funktionaler und postmoderner Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. e 2016HERZOG, Benjamin. Die Rezeption von Savignys Methodenlehre in Brasilien und Portugal. In: MEDER, Stephan; MECKE, Christoph-Eric (orgs.). Savigny global 1814-2014. “Vom Beruf unsrer Zeit” zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. p. 381-394.) e Reis (2015aREIS, Thiago. Savigny-Leser in Brasilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015a. p. 1-40. e 2015bREIS, Thiago. Teixeira de Freitas, lector de Savigny. Revista de Historia del Derecho, Buenos Aires, n. 49, p. 181-221, 2015b. Disponível em: Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842015000100007&lng=es&nrm=iso#_ftnref4 . Acesso em: 11 jun. 2020.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scri... ). -
7
A respeito da função do lugar-comum ou estereótipo como recurso de economia cognitiva, ver infra, seção 2.1.
-
8
O próprio Savigny, por sua vez, como indica Inge Kroppenberg, seguindo Hans Wrobel, constituiria uma “figura ancestral” e “pedra fundamental” da memória coletiva dos civilistas alemães. Conferir Kroppenberg (2008KROPPENBERG, Inge. Mythos Kodifikation: Ein rechtshistorischer Streifzug. JuristenZeitung, Jahrg, v. 63, n. 19, p. 905-912, 2008., p. 905) e Wrobel (1975WROBEL, Hans. Die Kontroverse Thibaut-Savigny im Jahre 1814 und ihre Deutung in der Gegenwart. Bremen, 307 f.,1975. Tese (Doutorado em Direito) - Universität Bremen, Bremen, 1975.). Mais recentemente, no mesmo sentido, Benjamin Lahusen (2013LAHUSEN, Benjamin. Alles Recht geht vom Volksgeist aus: Friedrich Carl von Savigny und die moderne Rechtswissenschaft. Berlim: Nicolai, 2013., p. 11) aduz, em tradução livre, que “seu nome [o nome de Savigny] representa o primeiro passo de uma autofundamentação do direito, que, em si própria, tornar-se-ia símbolo da moderna ciência jurídica”.
-
9
Ver, infra, seção 2.6.
-
10
Antes mesmo de Rückert, já havia Helmut Coing (1979COING, Helmut. Savigny und die Deutsche Privatrechtwissenschaft. Ius commune, v. VIII (Vorträge zum 200. Geburtstag von F. C. von Savigny), 1979., p. 9-10) alertado para as lacunas historiográficas com relação ao trabalho prático de Savigny, por exemplo, em sua atuação no conselho de Estado da Prússia, no Tribunal Prussiano de Revisão e Cassação para os Estados Renanos ou em seu papel no conselho para veredictos da Universidade de Berlim. Nota-se, também, que o próprio Savigny (1840aSAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts, 1. Bd. Berlin: Veit und Comp., 1840a., p. XIX-XXV, 10-11, especialmente, item b) testemunha a importância da prática na formação de seu pensamento. Para ele, o duplo caráter, compreendendo os elementos teórico e prático, constituiria a essência da ciência jurídica. Acerca das faltas no conhecimento dos grandes autores no contexto brasileiro, José Reinaldo de Lima Lopes (2018LIMA LOPES, José Reinaldo de. História do direito: sua (re)introdução e função nos cursos jurídicos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 113, p. 21-44, 2018., p. 25) argumenta que a tendência a localizar a lei e o Estado, seu “soberano autor e aplicador”, no centro da história jurídica, bem como de apresentar a história das ideias jurídicas a partir do cânon da filosofia moderna, redundaria no alijamento dos juristas propriamente ditos desse campo de estudo. Com efeito, expõe Lima Lopes (2018LIMA LOPES, José Reinaldo de. História do direito: sua (re)introdução e função nos cursos jurídicos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 113, p. 21-44, 2018., p. 37): “perderam-se os nomes de um Pegas, ou de um Domat, e mesmo de um Savigny. [...] E para citar os pró-domos do direito nacional, quem estudava o pensamento de um Pascoal de Melo Freire? Ou de Teixeira de Freitas, ou de Pimenta Bueno?”.
-
11
Uma análise aprofundada a respeito da história jurídica contida nos manuais poderia facilmente ser objeto de um interessante estudo autônomo. Para esta pequena seção, que tem propósito puramente exemplificativo, consultamos alguns manuais de grande circulação a que tivemos acesso, tendo-se em conta que o trabalho foi preparado ao longo de uma residência de pesquisa pós-doutoral em que nosso acesso era restrito aos manuais brasileiros.
-
12
Nesse ponto, Savigny é lembrado como representante da teoria da ficção. Ver Amaral (2006AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006., p. 280, nota de rodapé n. 15), Diniz (2010DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. I., p. 243), Gonçalves (2014GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I., p. 218), Tartuce (2017TARTUCE, Flávio. Direito civil. São Paulo: GEN, 2017. v. 1., p. 245) e Venosa (2017VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 18. ed. São Paulo: GEN, 2017. v. I., p. 245-246).
-
13
Diniz (2010DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. I., p. 390), Gonçalves (2014GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I., p. 327) e Pereira (2017PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 30. ed. São Paulo: GEN, 2017. v. I., p. 383, 482).
-
14
Pereira (2017PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 30. ed. São Paulo: GEN, 2017. v. I., p. 67), Tartuce (2017TARTUCE, Flávio. Direito civil. São Paulo: GEN, 2017. v. 1., p. 72) e Venosa (2017VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 18. ed. São Paulo: GEN, 2017. v. I., p. 88-89). Pereira (2017PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 30. ed. São Paulo: GEN, 2017. v. I., p. 125, 142 e 515) também faz referência a Savigny no contexto da explanação no que concerne ao direito intertemporal, associando-o à chamada teoria subjetiva; sobre as regras de definição dos limites da lei no espaço; e, por fim, na explanação sobre a representação. Tartuce (2017TARTUCE, Flávio. Direito civil. São Paulo: GEN, 2017. v. 1., p. 504), acompanhando José Fernando Simão, relaciona a Savigny a criação da teoria da actio nata para a contagem do prazo prescricional.
-
15
Ver, sobre o modo com que os manuais lidam com a história da ciência que apresentam, Kuhn (2012KUHN, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. 4. ed. Chicago: University Press, 2012., p. 135-142). Não deixa de ser importante observar que Savigny continue a ocupar espaço mesmo onde se declara a “necessidade de um novo caminho metodológico” para enfrentamento de novos problemas que se colocam para a prática civilística, tais como a adequação de sexo do transexual até o problema do direito de propriedade nas favelas (TARTUCE, 2017TARTUCE, Flávio. Direito civil. São Paulo: GEN, 2017. v. 1., p. 72). Savigny, como expoente do paradigma jurídico liberal do século XIX, não fora ainda de todo proscrito da tradição comungada pelos civilistas contemporâneos. Essa permanência talvez possa ser sintomática do descompasso, diagnosticado por José Reinaldo de Lima Lopes, entre as tarefas sob encargo do jurista contemporâneo e o modelo de sua formação, ainda entranhado pela mentalidade contratualista e pelo sistema comutativo de solução de conflitos (LIMA LOPES, 2004LIMA LOPES, José Reinaldo de. As palavras e a lei: direito, ordem e justiça na história do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Editora 34, 2004., especialmente capítulo 4).
-
16
Para além do manuseio das traduções francesas, Freitas também fez uso da revista jurídica franco-belga Thémis, que circulou entre 1819 e 1831, pretendendo renovar a ciência jurídica francófona valendo-se do modelo alemão. Anota-se, entretanto, que Julien Bonnecase (1914BONNECASE, Julien. La Thémis (1813-1831): son fondateur, Athanase Jourdan. Paris: Sirey, 1914., p. VI) aduz não ter sido a revista um órgão da escola histórica, mas uma publicação de caráter exclusivamente francês. A mediação da cultura francesa também contribuiu para a difusão de ideais alemães na literatura e no direito em Portugal. Com efeito, afirma Vera-Cruz Pinto (1996VERA-CRUZ PINTO, Eduardo. As origens do direito português: a tese germanista de Teófilo Braga. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996., p. 58-59) que “[t]odo contributo desta Escola [histórica] e da cultura alemã, em geral, lhe chegam [a Teófilo Braga] através dos autores franceses. É natural que assim seja, numa época em que a ‘assimilação’ da cultura alemã se faz através da cultura francesa, em Portugal”.
-
17
Limitado se levarmos em consideração que, em 1855, ao lançar-se Freitas à composição da Consolidação das leis civis, a obra livresca de Savigny encontrava-se, após a impressão do segundo volume do Obligationsrecht (Direito das obrigações), em 1853, já integralmente publicada na Alemanha. Entre as obras aparentemente não consultadas por Freitas, estiveram disponíveis em francês, ainda durante o período de elaboração da Consolidação e do Esboço, a Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter (História do direito romano na idade média), traduzida também por Charles Guenoux e publicada integralmente, em quatro volumes, em 1839, além do próprio Obligationsrecht, em tradução de Camille Gérardin publicada em 1863. Entretanto, por si só, isso não comprova que as obras pudessem estar acessíveis a Freitas.
-
18
Ver, como exemplo, que Silvio Meira (1979MEIRA, Silvio. Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979., p. 257) alega, reproduzindo uma passagem contida na Introdução à Consolidação das leis civis, ter sido Savigny, para Freitas, a primeira autoridade nessas matérias, tendo sido citado 22 vezes ao longo da referida Introdução. No passo da Introdução em que Freitas aponta Savigny como a primeira autoridade, observa-se rigorosamente uma divergência entre os autores, afirmando Freitas, na continuação do argumento, que Savigny “não attribue á esta classificação [à dicotomia entre direitos pessoais e direitos reais] a verdadeira importancia e supremacia, que lhe-competem”, repugnando-lhe (a Savigny) “envolvêr os direitos de família com as obrigações, cuja analogia, diz elle [Savigny], é accidental e exterior, mas não uma affinidade real”. (Conferir TEIXEIRA DE FREITAS, 1876TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Introdução. In: TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1876. p. XXIX-CCXXI., p. CLXVIII-CLIV, aqui, p. CL.)
-
19
Ricœur (2000RICŒUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil, 2000.passim, aqui especialmente 302-303).
-
20
Ver, como exemplo, Lessa (1903LESSA, Pedro Augusto Carneiro. A escóla historica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 11, p. 359-385, 1903.). Aqui, poder-se-ia suscitar a observação que fez José Reinaldo de Lima Lopes (2018LIMA LOPES, José Reinaldo de. História do direito: sua (re)introdução e função nos cursos jurídicos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 113, p. 21-44, 2018., p. 24-26) acerca da subordinação da história jurídica à história da filosofia ou à história política em vista da organização do currículo das faculdades de Direito brasileiras nos primeiros anos da República.
-
21
Nota-se que, entre os autores mencionados nas notas n. 1 e 2, supra, apenas Guilherme Braga da Cruz ocupou posição institucional como docente e pesquisador no campo da história do Direito, junto à Universidade de Coimbra. Deve-se observar, contudo, que Estevan Lo Ré Pousada, a despeito da pertinência funcional à cadeira de Direito Civil, junto à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, cursou seus estudos em nível de pós-graduação no campo da história do Direito, tendo produzido significativa parte de sua obra nessa seara.
-
22
Observam-se, destacadamente, as conferências Savigny International?, realizadas em outubro de 2011, resultando, a seguir, na obra coletiva publicada em 2015, e Savigny Global: 1814-2014, de setembro de 2014, cuja coletânea dos artigos foi dada ao público em 2016. Ver Duve e Rückert (2015DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015.) e Meder e Mecke (2016MEDER, Stephan; MECKE, Christoph-Eric (orgs.). Savigny global 1814-2014. “Vom Beruf unsrer Zeit” zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.).
-
23
Acerca da noção de lugar-comum, valemo-nos especialmente de Barthes (2002BARTHES, Roland. Leçon. Texte de la leçon inaugurale prononcée le 7 janvier 1977 au Collège de France. Paris: Seuil, 2002.), Brassart (1989BRASSART, Dominique Guy. Stéréotype/Prototype/ Modèle. Recherches, v. 10 (Stéréotypes), p. 173-186, 1989.), Ceia (2009CEIA, Carlos. Lugar-comum. In: CEIA, Carlos (coord.). E-Dicionário de Termos Literários (EDTL). 2009. Disponível em: Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/prefix:lu . Acesso em: 19 jan. 2023.
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/pr... ), Pietra (1987PIETRA, Régine. Lieux communs. Littérature, Paris, n. 65, p. 96-108, 1987.) e Ricœur (2000RICŒUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil, 2000.). -
24
O vocabulário para essa formulação foi colhido de Assmann (2018ASSMANN, Aleida. Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck, 2018., p. 133-137). A autora nomeia a “memória habitada” (bewohntes Gedächtnis) como “memória funcional” (Funktionsgedächtnis), caracterizada pela relação com o grupo que a cultiva, pela seletividade, pela conexão aos valores do grupo (Wertbindung) e orientação para o futuro. Em relativa oposição estaria a “memória de armazenamento” (Speichergedächtnis), menos viva, em certo sentido, pois dependente da preservação arquivística e do manuseio científico. Assmann dialoga com os trabalhos de Maurice Halbwachs e Pierre NoraNORA, Pierre. Between Memory and History: les lieux de mémoire. Representations, [s. l.], n. 26 (special issue: Memory and Counter-Memory), p. 7-24, 1989., que oporiam as noções de história e memória. Assmann, por seu turno, relativiza tal oposição, destacando a interdependência, a interpenetrabilidade e as fronteiras fluidas entre os dois terrenos. De modo semelhante, retratando a história como “l’héretière savante” da memória, consultar igualmente Ricœur (2000RICŒUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil, 2000., p. 304).
-
25
Ver, por exemplo, Costa e Galves (2011COSTA, Yuri; GALVES, Marcelo Cheche. O Epaminondas Americano: trajetórias de um advogado português na Província do Maranhão. São Luís: Café & Lápis/UEMA, 2011.).
-
26
Sobre a noção de esquecimento conservativo, ver Assmann (2016ASSMANN, Aleida. Formen des Vergessens. Göttingen: Wallstein, 2016., p. 36-42).
-
27
Assume-se, com isso, que as dimensões memorialística e científica da escrita da história não se excluem mutuamente e que, assim, tal escrita pode ter também uma função retórica e, eventualmente, uma faceta fictícia. A respeito, ver Assmann (2018ASSMANN, Aleida. Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck, 2018., p. 145) e Ricœuer (2000, p. 306).
-
28
Com a mesma orientação, consultar também Moreira Alves (2009MOREIRA ALVES, José Carlos. A formação romanística de Teixeira de Freitas e seu espírito inovador. In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Estudos de direito romano. Brasília: Senado Federal, 2009. p. 417-448., p. 421). Sobre a abrangência das leituras que Freitas que realizou dos autores da exegese, cfr. Villard (1994VILLARD, Pierre. L’influence de la doctrine française sur le droit civil brésilien. Revue d’histoire des Facultés de Droit et de la Science Juridique, Paris, v. 15, p. 161-173, 1994.).
-
29
Um contraponto encontra-se no artigo de Nelson Saldanha (1985SALDANHA, Nelson. História e sistema em Teixeira de Freitas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 22, n. 85, p. 237-256, 1985., p. 244 e 248, especialmente nota n. 37), dedicado à investigação dos papéis de história e sistema na obra de Freitas. Saldanha afirma que as leituras de Savigny, sobretudo das versões francesas do “direito romano” (System des heutigen römischen Rechts) e do “tratado sobre a posse” (Recht des Besitzes), e “dos seus companheiros de Escola”, combinaram-se, no Brasil, ao legado colonial e aos “fermentos doutrinários da época da independência”. Teixeira de Freitas teria lido “alguns autores alemães em francês”, e, ainda que se referisse constantemente à obra de Savigny, seus conhecimentos sobre ela seriam limitados. Sobre a limitação apontada por Saldanha, ver, supra, nota de rodapé n. 17. Acerca do papel do direito romano no pensamento e na obra de Teixeira de Freitas, ver Moreira Alves (2009MOREIRA ALVES, José Carlos. A formação romanística de Teixeira de Freitas e seu espírito inovador. In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Estudos de direito romano. Brasília: Senado Federal, 2009. p. 417-448.).
-
30
Deve-se ter em vista que a autora pretende, no referido artigo, analisar em primeiro plano a matriz filosófica da noção de sistema em Leibniz, em relação à qual o pensamento de Teixeira de Freitas encerraria “notáveis coincidências”. Portanto, Martins-Costa não está interessada, nesse momento, no critério para ordenação sistemática das matérias, tema cujo cerne seria, justamente, a diferenciação entre os direitos pessoais e os direitos reais. Ver Martins-Costa (1999MARTINS-COSTA, Judith. O sistema da codificação civil brasileira: de Leibniz a Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 17, p. 189-204, 1999., p. 190-191). Em sentido diverso, sem deixar de reconhecer a influência da ciência jurídica alemã na organização da Consolidação das leis civis, Moreira Alves (2008MOREIRA ALVES, José Carlos. O papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Comparado, [s. l.], n. 34, p. 141-151, 2008., p. 142) não posiciona Savigny, mas Mackeldey, no primeiro posto da escala dos romanistas alemães recepcionados por Freitas.
-
31
Em relação à provável influência de Savigny quanto à centralidade da noção de relação jurídica, ver Schmidt (2009SCHMIDT, Jan Peter. Die Zivilrechtskodifikation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme in historisch-vergleichender Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009., p. 334), Saldanha (1985SALDANHA, Nelson. História e sistema em Teixeira de Freitas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 22, n. 85, p. 237-256, 1985., p. 252) e Flores (2012FLORES, Alfredo de Jesus. Direito natural e codificação: atualidade do método realista clássico de Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 30, p. 7-26, 2012., p. 13).
-
32
Com efeito, aduz o próprio Teixeira de Freitas (1876, p. XLVII) ser a diferença entre os direitos reais e pessoais a “chave de todas as relações civis”. Qualquer avaliação sobre as diferentes sistematizações empregadas pelos autores analisados deve levar em conta que, ao contrário de Freitas, Savigny não buscou um “princípio supremo” que encerrasse uma “verdade eterna” para assentar a organização de seu sistema (TEIXEIRA DE FREITAS, 1876TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Introdução. In: TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1876. p. XXIX-CCXXI., p. XLIX e LI). Também na Nova Apostilla, Freitas (1859, p. 10) diz-se convencido “de que na ordem physica e moral ha uma realidade de cousas com as suas relações apreciaveis que corresponde a um methodo natural [...]”, redundando em um “unico e verdadeiro principio classificador do Direito Civil propriamente dito”. Ao contrário, no Sistema de direito romano atual, Savigny (1840aSAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts, 1. Bd. Berlin: Veit und Comp., 1840a., p. 405-406) trata diferentes possibilidades de organização com “tolerância” (Duldsamkeit), admitindo a aplicabilidade de diferentes métodos de sistematização, desde que a essência do conteúdo não sofresse interferências. A respeito, Alfredo de J. Flores (2012FLORES, Alfredo de Jesus. Direito natural e codificação: atualidade do método realista clássico de Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 30, p. 7-26, 2012., p. 14-16) aduz que seria possível identificar na obra de Freitas manifestações do realismo filosófico clássico que permitiriam detectar um “padrão de leitura que se insere numa visão de mundo cristã e que entende que existem elementos de verdade científica dentro das manifestações das regras e instituições jurídicas na história”. Com isso, concluir-se-ia que Freitas “se orientasse para a concepção clássica, quando os ventos de sua época indicavam para outra direção”. Conferir, ainda sobre esse tema, contrapondo-se à sistemática do Code Civil e à Consolidação das leis civis, as observações de David (2005DAVID, René. Le droit brésilien jusqu’en 1950. In: WALD, Arnold; JAUFFRET-SPINOSI, Camille. Le droit Brésilien d’hier, d’aujourd’hui e de demain. Paris: Société de Législation Comparée, 2005. p. 25-182., p. 70).
-
33
Salienta-se que René David (2005DAVID, René. Le droit brésilien jusqu’en 1950. In: WALD, Arnold; JAUFFRET-SPINOSI, Camille. Le droit Brésilien d’hier, d’aujourd’hui e de demain. Paris: Société de Législation Comparée, 2005. p. 25-182., p. 68) não atribui o estabelecimento dessa summa divisio à influência de Savigny, ou da ciênca jurídica alemã, mas a Ortolan, que teria chegado à mesma conclusão em sua Généralisation du droit romains.
-
34
Nesse sentido, ver Ramalhete (1981RAMALHETE, Clovis. Compreensão de Teixeira de Freitas e Savigny: os dois procedimentos constituintes clássicos e crise política. Rio de Janeiro: Olímpica, 1981., p. 18) e Valladão (1960VALLADÃO, Haroldo. Teixeira de Freitas, jurista excelso do Brasil, da América, do mundo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, [s. l.], v. 8, p. 203-222, 1960., p. 214-216).
-
35
Acerca do equilíbrio, em Teixeira de Freitas, entre o “respeito à tradição e a justa medida das inovações necessárias”, sem, contudo, a remissão a Savigny, ver também Moreira Alves (2009MOREIRA ALVES, José Carlos. A formação romanística de Teixeira de Freitas e seu espírito inovador. In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Estudos de direito romano. Brasília: Senado Federal, 2009. p. 417-448., p. 434).
-
36
Esse ponto de vista foi seguido por Schmidt (2009SCHMIDT, Jan Peter. Die Zivilrechtskodifikation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme in historisch-vergleichender Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009., p. 37, in fine).
-
37
Observa-se, no entanto, que, embora seja plausível que Freitas jamais tenha tido contato com os textos da polêmica de 1814, teve ele, é verdade, contato com a obra de Antônio Joaquim Ribas, à qual se refere na página XLVIII da terceira edição da Introdução à Consolidação das leis civis. Do mesmo modo, o discurso de Carvalho Moreira (1846CARVALHO MOREIRA, Francisco Ignacio de. Discurso do Dr. Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, recitado na sessão pública do Instituto dos Advogados Brasileiros, no dia 7 de setembro de 1845, 2o aniversário de sua instalação. Gazeta dos Tribunais, Rio de Janeiro, v. 4, n. 296, 1846. Disponível em: Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/709492/1188 . Acesso em: 11 maio 2021.
http://memoria.bn.br/DocReader/709492/11... , p. 4), proferido em 7 de setembro de 1845 por ocasião do segundo aniversário de criação do IAB, menciona a controvérsia de 1814 em segunda mão, a partir de referência colhida do Cours de législation pénale comparée, de Joseph-Louis-Elzéar Ortolan. Razoável, portanto, supor que, no mínimo, o contato indireto com a Vocação seria plausível. -
38
Ver, supra, seção 1, notas de rodapé n. 11 a 14.
-
39
Já aqui se refere Freitas ao § 106 do System des heutigen römischen Rechts, contido no terceiro volume da obra, em que Savigny esclarece que os atos voluntários (freye Handlungen; actes libres, na tradução de Guenoux consultada por Freitas) poderiam ser pensados, em sua conexão com as relações jurídicas, de duas formas diversas: como objeto de direitos ou como sua causa geradora (Entstehungsgründe der Rechte; principes générateurs de droits, na tradução de Guenoux). Conferir Savigny (1840bSAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts, 3. Bd. Berlin: Deit und Comp., 1840b., p. 21); na tradução de Guenoux, o § 106 inicia-se também na página 21 (SAVIGNY, 1856SAVIGNY, Friedrich Carl von. Traité de droit romain. 2. ed. Paris: Firmin Ditot Frères, 1856. v. 3.).
-
40
O art. 435 do Esboço foi assim redigido: “Os fatos voluntários, ou são atos lícitos, ou ilícitos. São atos lícitos as ações voluntárias não proibidas por lei, de que possa resultar alguma aquisição modificação, ou extinção de direitos” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1983TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Esboço do código civil. Brasília: UnB, 1983., p. 145).
-
41
Na tradução de Guenoux (SAVIGNY, 1856SAVIGNY, Friedrich Carl von. Traité de droit romain. 2. ed. Paris: Firmin Ditot Frères, 1856. v. 3., p. 5), a expressão aparece como circonstances accidentelles. Freitas (1983, p. 145) rechaça a terminologia savignyana na nota ao art. 432, em que afirma preferir a locução fatos exteriores a fatos naturais e que “não poderia deixar de preferir à de fatos acidentais, porque também são acidentes as ações e omissões de terceiros, sem diferença de serem voluntárias ou involuntárias”.
-
42
O enunciado normativo em questão é o seguinte: “[...] quando os atos lícitos não tiverem por fim imediato alguma aquisição, modificação ou extinção de direitos, somente produzirão este efeito nos casos que neste Código, e nos Códigos do Comércio, e do Processo, forem expressamente declarados”.
-
43
No mesmo sentido, outros textos do autor: Moreira Alves (2008MOREIRA ALVES, José Carlos. O papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Comparado, [s. l.], n. 34, p. 141-151, 2008., p. 148-149; 2009MOREIRA ALVES, José Carlos. A formação romanística de Teixeira de Freitas e seu espírito inovador. In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Estudos de direito romano. Brasília: Senado Federal, 2009. p. 417-448., p. 439-440).
-
44
Consultar, também, Moreira Alves (2008MOREIRA ALVES, José Carlos. O papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Comparado, [s. l.], n. 34, p. 141-151, 2008., p. 148-149) e Pousada (2007POUSADA, Estevan Lo Ré. A obra de Augusto Teixeira de Freitas e a conformação de um direito civil tipicamente brasileiro: sua genialidade compreendida como conciliação entre inovação sistemática e acuidade histórica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade, São Paulo, v. 102, p. 89-98, 2007., p. 95). Convém observar que, ao longo do livro dedicado aos fatos na parte geral do Esboço, o diálogo com o pensamento savignyano é verificável não apenas por meio das constantes referências nas notas explicativas como também na organização e no sequenciamento das matérias, além da própria terminologia empregada por Freitas. Nesse contexto, talvez seja o caso de anotar que Freitas, tanto na literalidade do art. 436 (transcrição na nota n. 42, supra) quanto na respectiva nota, não deixa tão evidente quanto faz parecer Moreira Alves que, naquela categoria de atos, estejam abarcados também os ilícitos: com efeito, diz ele que “este artigo [436] e seguinte [437] compreendem em sua generalidade todos os gêneros e espécies de atos lícitos suscetíveis de produzir aquisição, modificação ou extinção de direitos. Os atos lícitos deste art. 436 divergem dos outros do art. 437, porque não são atos jurídicos” (TEIXEIRA DE FREITAS, 1983TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Esboço do código civil. Brasília: UnB, 1983., p. 147 - os destaques estão no original da edição consultada). Outra observação que nos parece relevante é que Freitas não adota a terminologia savignyana para designar os negócios jurídicos (Willenserklärung ou Rechtsgeschäft, ou seja, declaração de vontade e negócio jurídico). A expressão negócio jurídico, aliás, não foi traduzida por Guenoux, encontrando-se, no texto francês, apenas déclarations de volonté, de que Freitas faz uso na nota explicativa ao art. 437, não a integrando, contudo, no enunciado normativo. Portanto, não há, no Esboço, a oposição entre atos negociais e não negociais, mas entre a categoria inominada - tanto em Savigny quanto em Freitas - dos atos lícitos que não tiveram por fim imediato alguma aquisição, modificação, ou extinção de direitos e a dos atos jurídicos, enunciada no art. 437, como atos ilícitos cujo fim imediato seja alguma aquisição, modificação, ou extinção de direitos.
-
45
Freitas (1983, p. 150-170) oferece uma detalhada explicação no comentário ao art. 445 do Esboço.
-
46
Moreira Alves (2008MOREIRA ALVES, José Carlos. O papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Comparado, [s. l.], n. 34, p. 141-151, 2008., p. 150-151) não aprofunda na obra citada, ou no artigo sobre o papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro, suas observações acerca da influência savignyana sobre Freitas em matéria de posse. Com relação às noções de detenção, posse perfeita e imperfeita, aduz Moreira Alves que Freitas teria sobreposto parcialmente, na disciplina do Esboço, as noções de simples detenção e posse imperfeita, ao mesmo tempo em que assentaria as noções de posse perfeita e imperfeita naquelas de domínio perfeito e imperfeito, o que não seria o caso no ALR. Conferir Moreira Alves (1993MOREIRA ALVES, José Carlos. Panorama do direito civil brasileiro: das origens aos dias atuais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 88, p. 185-238, 1993., p. 203; 2008MOREIRA ALVES, José Carlos. O papel de Teixeira de Freitas na formação do direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Comparado, [s. l.], n. 34, p. 141-151, 2008., p. 151; 2009MOREIRA ALVES, José Carlos. A formação romanística de Teixeira de Freitas e seu espírito inovador. In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Estudos de direito romano. Brasília: Senado Federal, 2009. p. 417-448., p. 443-444). Para Harke (2017HARKE, Jan Dirk. Pandectística e sua recepção no direito brasileiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, ano 178, n. 473, p. 31-52, 2017., p. 41), o direito brasileiro, como restou codificado em 1916, não seguiu de forma pura seja a teoria pandectística, a de Savigny ou a de Jhering sobre a posse, resultando em uma “ideia independente do autor do Código brasileiro [Clóvis Beviláqua, portanto]. Ele, aqui, não se limitava à adoção da teoria de Jhering, mas a desenvolvia. Criava, assim, uma melhor síntese do que o Código alemão, que havia enquadrado a figura da posse indireta em um conceito da posse, pretendendo veicular uma fusão das teorias de Savigny e Jhering, que ainda poria a vontade como elemento característico da posse” (grifo do autor).
-
47
Em sentido diverso, inserindo o direito privado brasileiro no grupo ibero-americano, marcado pela coexistência de “elementos de direito napoleônico e do direito hispânico e lusitano”, resultando em codificações que seriam “originais na adequação à realidade atual e na ligação à antiga tradição romano”, ver o resumo de Catalano (2006CATALANO, Pierangelo. Abelardo Lobo e o romanismo jurídico latino-americano. In: LOBO, Abelardo Saraiva da Cunha. Curso de direito romano: história, sujeito e objeto do direito. Instituições jurídicas. Brasília: Senado Federal, 2006. p. XI-XXVIII., p. XVI); conferir Flores (2012FLORES, Alfredo de Jesus. Direito natural e codificação: atualidade do método realista clássico de Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, n. 30, p. 7-26, 2012., p. 9-10). Também Sandro Schipani (2015SCHIPANI, Sandro. Sistema jurídico latino-americano e códigos civis. In: SCHIPANI, Sandro; ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes (orgs.). Sistema jurídico romanístico e subsistema jurídico latino-americano. São Paulo: FGV DIREITO SP, 2015. p. 267-335., p. 298) trata a codificação civil na América Latina como uma unidade constituída pela transfusão do direito romano para atender às necessidades do processo de independência: “[...] a independência é fazer Roma na América: com relação a um direito que tendia a ser nacionalizado no continente europeu e na península Ibérica, há uma autônoma apropriação do sistema do direito romano e aquisição de sua perspectiva universalística”.
-
48
No mesmo sentido, Reis (2015aREIS, Thiago. Savigny-Leser in Brasilien um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In: DUVE, Thomas; RÜCKERT, Joachim (orgs.). Savigny international? Frankfurt a.M.: Klostermann, 2015a. p. 1-40., p. 13-14).
-
49
Mais adiante, na mesma obra, Meira (1979MEIRA, Silvio. Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979., p. 247) aduz que o grande merecimento de Freitas está em sua “rebeldia no campo das ideias […], rebeldia contra o seu próprio mestre Savigny, do qual muitas vezes discorda, enfrenta e procura destruir”.
-
50
Paradigmático o tópico contido no discurso de Haroldo Valladão (1960VALLADÃO, Haroldo. Teixeira de Freitas, jurista excelso do Brasil, da América, do mundo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, [s. l.], v. 8, p. 203-222, 1960., p. 217-220), proferido por ocasião do recebimento da Medalha Teixeira de Freitas, a ele oferecida pelo IAB, encabeçado pelo título Teixeira de Freitas, precursor no direito mundial.
-
51
Ver, supra, seção 2.5.
-
52
Com efeito, tal referência está em nota de rodapé compartilhada entre Savigny e Mackeldey, correspondente ao parágrafo do corpo de texto em que se discutem as divergências doutrinárias a respeito da distribuição das matérias na tradicional tripartição baseada na passagem de Gaio encerrada no livro primeiro do Digesto: omne ius uel ad personas pertinet, uel ad res, uel ad actiones. Isso significa que, ao longo das primeiras 90 páginas do total de 192 da Introdução, Savigny é mencionado nominalmente em apenas uma ocasião. Conferir Teixeira de Freitas (1876TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Introdução. In: TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: Garnier, 1876. p. XXIX-CCXXI., p. XLI, nota n. 15). O próprio Silvio Meira (1979MEIRA, Silvio. Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do império. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979., p. 133) observa que, até o início da seção aplicação de princípios, iniciada na página CXII na terceira edição da Consolidação, “Freitas poucas vezes referiu o nome de Savigny”.
-
53
Essa formulação é colhida de Neves (2015NEVES, Marcelo. Ideas in Another Place? Liberal Constitution and the Codification of Private Law at the Turn of the 19th Century in Brazil. In: POLOTTO, María Rosario; KEISER, Thorsten; DUVE, Thomas (orgs.). Derecho privado y modernización: América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal History, 2015. p. 47-81., p. 57-58).
-
Como citar este artigo: ONOFRI, Renato Sedano. O quanto seríamos savignyanos? O lugar-comum da relação entre Friedrich Carl von Savigny e Augusto Teixeira de Freitas na historiografia jurídica brasileira. Revista Direito GV, São Paulo, v. 19, e2306, 2023. https://doi.org/10.1590/2317-6172202306
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
20 Fev 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
21 Dez 2020 -
Aceito
06 Set 2022