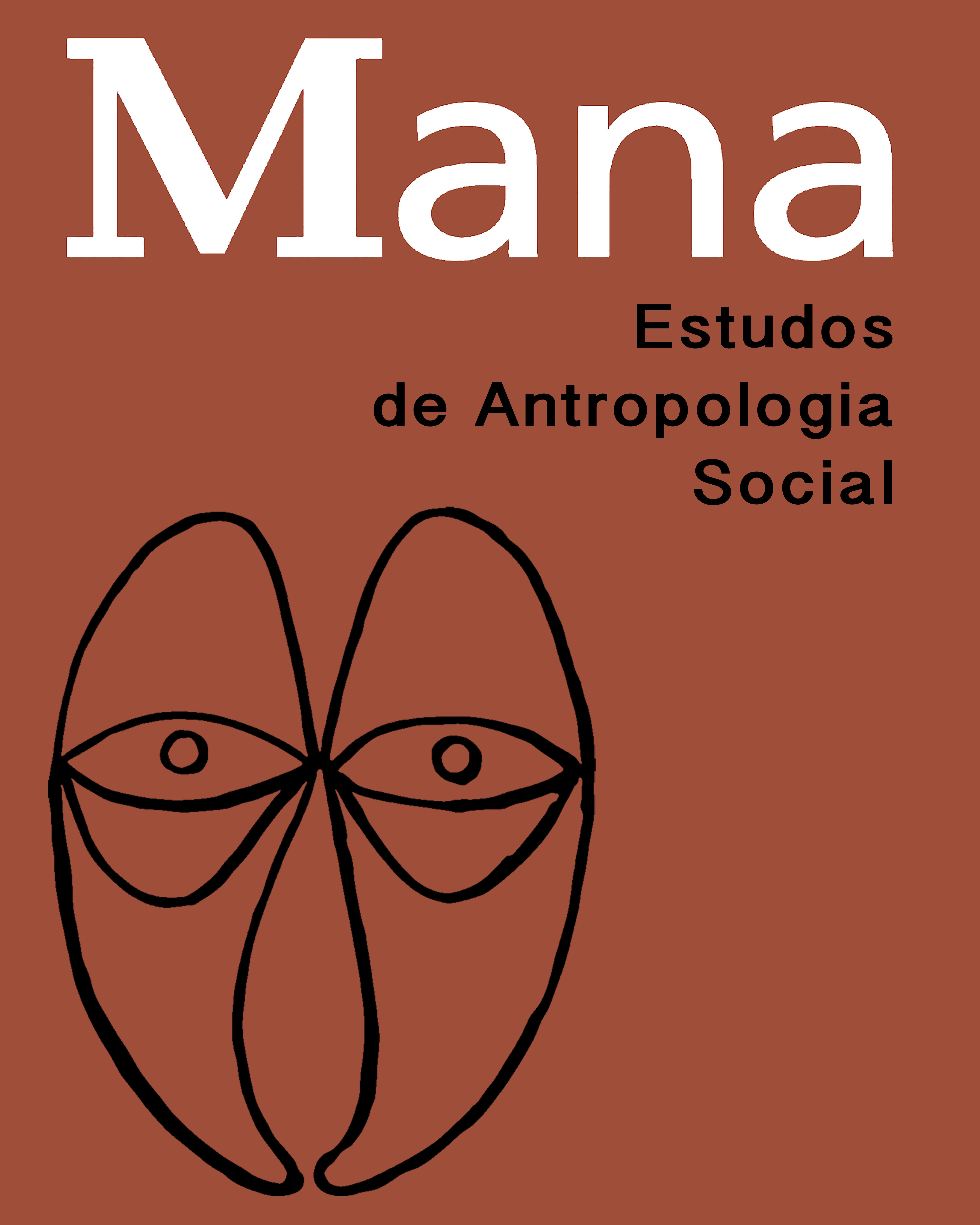RESENHAS
Mauro W. Barbosa de Almeida
Professor, Unicamp
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 2002. A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify. 552 pp.
Resenhar A Inconstância da Alma Selvagem é um ato que, para um não-especialista no campo altamente especializado da etnologia ameríndia, carece de justificativas. Uma delas foi a intrigante sensação de familiaridade que os traços diagnósticos das sociedades ameríndias apresentam a um antropólogo de não-índios da mesma floresta amazônica. Outra razão foi a atração pelo modo de pensar e, em particular, pelas metáforas matemáticas de Viveiros de Castro, em que há métricas, álgebras de Boole, fractais termos que, como se passa com a linguagem transcendental de Kant, também usada aliás de modo generoso no livro, são "obscuros mas cômodos". Se o comentário desses dois pontos se provou irrealizável nos limites de uma resenha, o exercício não deixou por isso de proporcionar a oportunidade para aprender alguma antropologia.
A Inconstância sintetiza e problematiza a hoje enorme literatura sobre a sociologia das sociedades indígenas da floresta amazônica, mas também o estado-da-arte da própria teoria antropológica. É mais que isso, já que registra de modo acessível e revisado publicações do autor que tiveram uma grande influência sobre essa mesma literatura. E, ao fazê-lo, documenta o caminho que levou às importantes descobertas contidas nessas publicações. Balanço de um período de preparação de conceitos, que certamente têm o papel de introdução a grandes obras futuras, o livro dá, contudo, um prazer intelectual e estético que me trouxe a lembrança da leitura de O Pensamento Selvagem há trinta anos. A comparação vai mais longe. Como a obra também "preparatória" de Lévi-Strauss, essa coletânea é uma espécie de álbum de Études à maneira de Chopin e de Villa-Lobos, onde os instrumentos são desenvolvidos com máxima imaginação temática e destreza técnica, com uma liberdade de explorar que não é dada pelas grandes formas. E afinal, a meu ver, são esses Études o melhor da obra de Chopin e de Villa-Lobos.
A Inconstância, lembremos de novo, não é um tratado: é um livro de ensaios em movimento, que deixam à mostra o processo de descoberta. Um dos exemplos é que vemos primeiro o tema de uma pancosmologia ameríndia emergir no fascinante estudo dos modalizadores ontológicos yawalapíti (cap. 1); observamos, então, o jogo de perspectivas instáveis no diálogo do matador e da vítima (cap. 4), antes que o conceito mesmo apareça; e as várias modalidades de alterização através do canibalismo, até que, em um salto de imaginação, alimentada pelo diálogo de professor-aluna, vemos todos esses perspectivismos particulares se unificarem em um perspectivismo generalizado, agora na forma de um programa de pesquisa cheio de entusiasmo, consciente da descoberta de uma solução que é, por sua vez, o ponto de partida para uma "grande teoria unificada".
Há importantes contribuições à antropologia em A Inconstância. Uma primeira são lições de um modo de pensar intrigante e inovador, exemplificado na caracterização e recursiva do dualismo (caps. 2, 8 e outros sobre a sociologia do parentesco ameríndio), bem como na formulação intencionalizante e auto-referencial do perspectivismo ameríndio (caps. 4, 7 e outros sobre a cosmologia ameríndia). Essas são lições sobre como pensar.
Em um plano mais substantivo, o livro contém uma teoria do parentesco ameríndio (caps. 2, 8) guiada pelo conceito de afinidade potencial. Nela, uma tensão dialética entre dualismo terminológico e concentricidade sociológica leva à noção sintética de "afinidade potencial", que estoura o campo da análise, por um lado, para o não-parentesco, ou seja, a totalidade dos fatos sociais, e, por outro, para o exterior dos grupos locais, o espaço em estruturação e desestruturação onde se conectam entre si os grupos locais. Há ainda alguns outros grandes temas que recompensam a leitura cuidadosa, a começar por uma teoria da cosmologia ameríndia, apoiada em estudos da linguagem, do canibalismo e do sacrifício (caps. 1, 3, 4, 9), dos quais emerge a exploração de uma alteridade generalizada que inclui os nexos entre "os vivos e os mortos, os xamãs e os guerreiros, os homens e as mulheres, os concidadãos e os inimigos", sob o ângulo geral do que se poderia chamar alusivamente de uma ontologia de modos de predação.
Em conexão íntima com essa visão ontológica emerge uma visão epistemológica quase desnorteadora por sua novidade, que é a teoria do perspectivismo ameríndio. Sem procurar resumi-la, essa teoria aponta para um aspecto crucial da pensée sauvage, mostrando os ameríndios como naturalistas que não apenas são taxonomistas ao estilo de Lineu, mas também argutos defensores, como Darwin, da unidade profunda que liga plantas, animais e humanidade, embora vendo essa unidade de um ângulo, por assim dizer, oposto, ao trazerem a animalidade para o domínio da humanidade (cap. 7). E, finalmente, há um tema embutido nos anteriores, que é a centralidade do corpo como matéria do social. Este ponto, no qual, implicitamente, Viveiros de Castro remete a Tomás de Aquino e a noções da antiguidade clássica, leva-nos a conjeturar que o corpo é a forma elementar da cultura em sociedades em que predomina o modo de predação ameríndio (cf. caps. 2, 3, 5, 7, 9).
Viveiros de Castro representa, enfim, um projeto de imergir o estruturalismo no devir, e indica repetidamente que o germe disto está no próprio mestre das Mitológicas, como nas brilhantes e célebres páginas "cromáticas" dessa obra. Em conversa havida há mais de uma década, Viveiros de Castro aludiu ao fato de que, ao contrário do que se pensa, a desordem é tão presente em Lévi-Strauss como a ordem. Vale também fazer uma observação a respeito da presença de Marx. Parece-me que o interlocutor da antropologia do devir é a economia política antropológica formulada por interpostas pessoas, como Peter Rivière, Chris Gregory, Terry Turner, Nancy Munn e Marilyn Strathern sem falar em Bataille e Baudrillard.
Caberia talvez mencionar um ponto que aparece na entrevista que encerra o livro. Nela, Viveiros de Castro distingue uma antropologia no Brasil e uma antropologia do Brasil, evocando uma sutileza terminológica usada por Carlos Alberto Ricardo. Ambas tratam das sociedades indígenas, mas cada qual de modo muito diferente. A primeira trataria da sociologia e do pensamento indígena internamente, tendo o Estado nacional como horizonte externo. A segunda focalizaria o Estado nacional, no interior do qual se travam a luta pela terra e as políticas identitárias que a apóiam. Como grande parte do que faço é justamente esse segundo tipo de antropologia, sinto-me à vontade para sugerir que se trata aqui de disciplinas diferentes, e talvez até complementares. Por que complementares? A pesquisa antropológica apoiada no método dos quatro campos e na grande tradição do pensamento teórico contribuirá a longo prazo tanto para a auto-imagem brasileira permeada pela pluralidade, como para registrar e dignificar o patrimônio mitológico, lingüístico, arqueológico e sociológico sem o qual toda política identitária corre o risco de se ver contestada e deslegitimada na arena evanescente em que toda tradição é "invenção" e toda comunidade é "imaginada". Os Estados nacionais assim se constituíram, não apenas em processos políticos de unificação e autonomia territorial, mas também mediante a acumulação originária de conhecimentos sobre língua, mitos, costumes, os quais constituem a constância da alma nacional.
Finalmente, há um traço geral no livro, à primeira vista estilístico, que é o esforço de originalidade de construtos teóricos, as comparações extremas, os saltos rumo a novas idéias que surpreendem. Há mais que estilo nisso. Pois tudo é parte integrante do que Viveiros de Castro chama de "luta contra os automatismos intelectuais de nossa tradição", por meio de um forcing da imaginação em busca de modelos fora do padrão. O que Viveiros de Castro chama de imaginação é o componente não canônico do pensamento, sinônimo da capacidade de desconstruir modelos dados e de conjeturar modelos novos. A esse procedimento, Peirce chamou de abdução, e ainda guess. São idéias que nem a indução nem a dedução justificam, e que apontam para uma modalidade do pensamento humano que é irredutível a qualquer cânone, já que se o fosse não poderia haver destruição e reconstrução de cânones (como ensina o filósofo Newton da Costa).
Mas Viveiros de Castro não é desconstrucionista, e menos ainda um pós-modernista. O pensamento de A Inconstância, com sua fervilhante imaginação anticanônica, está firmemente ancorado no profundo e completo domínio dos cânones da disciplina, de tal forma que a crítica e a conjetura não são nunca o fim, nem levam à autocomplacência com a falta de rigor, mas são o que Lévi-Strauss chamou (no Pensamento Selvagem) de componente dialético da razão a arte de transpor abismos entre cânones analíticos. Esse componente da razão vai então junto com o outro, que é analítico e sintético (dialética não é o mesmo que síntese), e que constrói paradigmas que balizam então, como disciplina, a colocação de novos problemas e de novos rumos para a pesquisa empírica. É o papel de verdadeiros mestres.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
08 Jul 2003 -
Data do Fascículo
Abr 2003