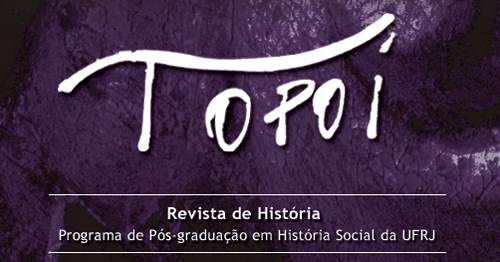RESUMO
O texto analisa a questão do direito constitucional à propriedade no mundo luso-brasileiro em meio às guerras de Independência. Para tanto, aponta para a secundarização do tema por uma historiografia clássica dedicada à Independência e ressalta avanços importantes constituídos mais recentemente; em seguida, explora os sentidos do conceito de propriedade nas constituições de Portugal (1822 e 1826) e do Brasil (1824) e a dinâmica das negociações que culminaram com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança e a instituição da Comissão Mista Brasil-Portugal, responsável pela análise das reclamações sobre os prejuízos que portugueses e brasileiros sofreram durante as guerras. Contudo, ressalta a anterioridade da discussão sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos, em relação a negociações sobre o Reconhecimento da Independência, fundamentada, acreditamos, em preceitos que ganhavam foro constitucional naquele momento.
Palavras-chave:
propriedade; Constituição; Independência; mundo luso-brasileiro
ABSTRACT
The text analyzes the constitucional right to property in the Portuguese-Brazilian world in the midst of the wars of Independence. To this end, it points to the secondaryization of the theme by a classical historiography dedicated to Independence and highlights important advances more recently constituted. It then explores the meanings of the concept of property in the Constitutions of Portugal (1822 and 1826) and Brazil (1824) and the dynamics of the negotiations that culminated with the signing of the Peace and Alliance Treaty and the institution of the Brazil-Portugal Joint Commission, responsible for analyzing complaints about the losses that Portuguese and Brazilians suffered during the wars. However, it highlights the previous discussion about the reimbursement of possible losses, in relation to negotiations on the Recognition of Independence, based, we believe, in precepts that earned constitutional forum at that time.
Keywords:
property; Constitution; Independence; Portuguese-Brazilian world
RESUMEN
El texto analiza la cuestión de derecho constitucional a la propiedad en el mundo luso-brasileño en medio de las guerras de independencia. Por lo tanto, apunta para un interés secundario del tema por una historiografía clásica dedicada a la independencia y resalta avances importantes constituidos más recientemente; luego, explora los sentidos del concepto de propiedad en las Constituciones de Portugal (1822 y 1826) y de Brasil (1824) y la dinámica de las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Paz y Alianza y la institución de la Comisión Mixta Brasil-Portugal, responsable por el análisis de las reclamaciones sobre los estragos que portugueses y brasileños sufrieron durante las guerras. No obstante, resalta la anterioridad de la discusión sobre la compensación de eventuales daños, en relación a negociaciones sobre el Reconocimiento de la Independencia, fundamentada, creemos, en preceptos que ganaban foro constitucional en ese momento.
Palabras clave:
propiedad; Constitución; Independencia; mundo luso-brasileño
As primeiras narrativas sobre a Independência do Brasil que abrangeram a questão do Reconhecimento, invariavelmente, atentaram para três aspectos da negociação entre Brasil e Portugal, intermediada pela Inglaterra: a soberania, a indenização a ser paga a Portugal e a questão dinástica.1 1 Afirmação sustentada nas leituras de: Armitage (1835), Varnhagen (1916), Oliveira Lima (1901) e Monteiro (1939). Quanto aos dois primeiros aspectos, os documentos coligidos no Archivo Diplomático da Independência (1925, p. 61-201) corroboram essa assertiva; já a questão dinástica, evitada a todo custo pelas autoridades brasileiras durante as negociações, ganhou ainda mais importância nos anos seguintes, com o crescente envolvimento do Imperador Pedro I na questão sucessória em Portugal, fato que parece reforçar a pertinência do tema nessas narrativas. Autores como Armitage (1835) e Oliveira Lima (1901) tocaram apenas pontualmente na questão das propriedades a serem restituídas ou indenizadas, como previsto nos artigos 6º e 7º do Tratado de Paz e Aliança, assinado em agosto de 1825, e que marcou o fim das hostilidades entre os dois países. Pouco acrescentando ao texto da lei, observaram que
O sexto e o sétimo [artigos] estatuíam a restituição de toda a propriedade, navios, e carregamentos confiscados. O oitavo instituía uma comissão mista brasileira e portuguesa para decidir sobre as matérias dos dois precedentes artigos (ARMITAGE, 1943ARMITAGE, John [1835]. História do Brasil. Desde o período da chegada da família de Bragança, em 1808, até a abdicação de D. Pedro I, em 1831. 3. ed. Rio de Janeiro: Zelio Valverde, 1943., p. 154).2 2 Utilizamos a terceira edição. A ortografia de todas as citações foi atualizada.
Diziam respeito o sexto e sétimo [artigos] à mútua entrega, ou correspondente indenização, de propriedades confiscadas e sequestradas, e embarcações e cargas apresadas, na forma constante do artigo oitavo, que estabelecia uma comissão mista, cujas deliberações teriam como desempatador o representante do Soberano Mediador (OLIVEIRA LIMA, 1901, p. 242).
Caminho similar foi trilhado por Tobias Monteiro (1939, p. 417) ao limitar-se a observar que “[...] houve acordo em relação às cláusulas [referentes à propriedade]”.
Em publicações mais recentes, a relação entre propriedade e Reconhecimento da Independência ganhou espaço por intermédio da análise do trabalho da Comissão Mista-Brasil-Portugal3 3 Prevista pelo artigo 8º do Tratado, a Comissão iniciou seu trabalho em 1827 e teve como objetivo avaliar as reclamações de prejuízos à propriedade durante as guerras de Independência e julgar o mérito de ressarcimentos e indenizações solicitadas. , tangenciada pelos autores supracitados. Amado Cervo e José Calvet de Magalhães (2000) e, especialmente, Gladys Sabina Ribeiro (2007RIBEIRO, Gladys Sabina. O Tratado de 1825 e a construção de uma determinada identidade nacional: os sequestros de bens e a Comissão Mista Brasil-Portugal. In: CARVALHO, José Murilo de (org.). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 2007. p. 395-420., 20084 4 Em coautoria com Eliane Paiva da Rocha. e 2011RIBEIRO, Gladys Sabina. Identidade ou causa nacional? Uma discussão a partir dos sequestros, tratado e comissão mista Brasil-Portugal (1822-1828). In: CARVALHO, José Murilo de et al. Linguagens e fronteiras do poder. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 186-198.) avançaram sobre a articulação entre as guerras de Independência e os prejuízos à propriedade individual.
Para os propósitos deste texto, cabe registrar que a questão das eventuais restituições ou indenizações de prejuízos sofridos por portugueses remonta a meados de 1823 e, portanto, antecede as negociações sobre o Reconhecimento da Independência, que só tomariam corpo nos primeiros meses de 1825. Possível razão para que não se constituísse em ponto de atrito das negociações que culminaram com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança, tal antecedência sustentava-se, parece-nos, no fato de as Constituições promulgadas no mundo luso-brasileiro, em 1822 e 1824, instituírem/reiterarem o princípio da propriedade de cariz liberal5 5 Princípio reiterado pela Constituição portuguesa de 1826, como se verá. , uma das chaves de articulação aqui propostas.
Ainda sobre o Tratado, o artigo 8º estabeleceu que, no prazo de um ano, fosse criada uma Comissão, para avaliar as reclamações decorrentes dos direitos estabelecidos pelos artigos 6º e 7º. Essa decisão evitou, de algum modo, eventuais entraves nas negociações para o Reconhecimento da Independência, já que transferiu para a Comissão a responsabilidade futura sobre esse trabalho; ademais, a decisão reconhecia a complexidade e abrangência do tema, já que os prejuízos à propriedade haviam sido causados, em larga escala, pelas guerras de Independência, que se estenderam entre 1823 e 1825, especialmente nas províncias do Norte.
Assim, princípios constitucionais, propriedade, guerras de Independência e Tratado de Paz e Aliança serão aqui articulados, com o propósito principal de evidenciar a precedência do direito constitucional à propriedade em relação ao imprevisto desfecho das guerras de Independência e salientar a posterior incorporação desse direito ao Tratado de Paz e Aliança, firmado entre Brasil e Portugal em agosto de 1825.
Para tanto, exploramos inicialmente certa historicidade do direito à propriedade no mundo luso-brasileiro, materializada nos textos constitucionais6 6 Como o título afirma, trata-se de artigo sobre “direito constitucional de propriedade”. O texto não despreza a riqueza e mesmo a possível preponderância da discussão em torno da posse e da propriedade na esfera do direito internacional, bem mais fragmentado e atrelado a costumes assentados em contextos de guerra, ou, ainda, do chamado direito das gentes (ius gentium), associado à ideia de um direito natural, imanente aos homens e condicionante da relação entre Estado e súditos (HERZOG, 2019, p. 193-195). O recorte feito para a produção deste ensaio, embora não tenha como foco essas tradições jurídicas, entende-as como vitais para a compreensão do direito constitucional luso-brasileiro do século XIX. vigentes em Portugal e no Brasil a partir do início da década de 1820; em seguida, o impacto das guerras de Independência é apreendido pelos prejuízos à propriedade, captados desde as primeiras tentativas de restituição patrimonial a súditos portugueses, em setembro de 1823, momento em que a questão do Reconhecimento da Independência não estava em pauta; por fim, o texto do Tratado e as negociações que o antecederam são lidos a partir da questão do direito à propriedade, objeto de apreciação futura da Comissão Mista Brasil-Portugal.
Propriedade: sentidos do conceito e inscrições constitucionais
A transição entre os séculos XVIII e XIX trouxe relevantes alterações ao constitucionalismo do Ocidente. Eventos politicamente revolucionários, como a Independência dos Estados Unidos da América e a Revolução Francesa, projetaram uma nova noção de direitos do cidadão e de poderes do Estado. Marcadamente modernas, as teorias constitucionais passaram a apontar para um “novo pacto” entre reis e súditos, pautado, essencialmente, na garantia de direitos e deveres dos indivíduos e, por isso mesmo, na limitação das prerrogativas do trono.
O mundo luso-brasileiro recebeu tal influência a partir da década de 1820. Segundo Lúcia Neves e Guilherme Neves (2009, p. 339), o movimento revolucionário e liberal iniciado no Porto trouxe mais concretamente a Portugal e a porção americana do Reino Unido o constitucionalismo moderno, em boa medida evidenciado pela acelerada circulação de novas ideias. O impulso nacional do contexto, expresso, inclusive, na Constituição lusitana de 1822, teve como relevante propulsora a contestação da permanência da Corte na América portuguesa, onde se radicara desde 1808 (BOTELHO, 2013BOTELHO, Catarina Salgado. A história faz a Constituição ou a Constituição faz a história? Reflexões sobre a história constitucional portuguesa. RIDB, Lisboa, ano 2, n. 1, p. 229-247, 2013., p. 232).
Certamente, o constitucionalismo luso-brasileiro da década de 1820 não revolucionou a noção de propriedade. Em boa medida, recepcionou a tradição do Antigo Regime, que concebia as liberdades individuais dos cidadãos como prerrogativas decorrentes da propriedade. Os chamados “foros e liberdades” dos indivíduos, consistentes no direito de fazer ou de não fazer e, regra geral, oponíveis ao Estado, tinham sua forma de exercício marcada pela ordem jurídica que regulamentava a propriedade.
Noutro sentido, o direito vintista deu à noção de liberdade um tom marcadamente político, no sentido de se relacionar com a vida pública dos cidadãos. À propriedade sobre as coisas foi agregada a noção de “propriedade sobre si mesmo”, consistente na segurança individual contra abusos do Estado. A liberdade para a posse, propriedade e disposição dos bens não mais bastava. Era necessária a garantia da liberdade individual (ou civil) (HESPANHA, 2012HESPANHA, Antonio Manuel. O constitucionalismo monárquico português: breve síntese. História Constitucional, Oviedo, n. 13, p. 477-526, 2012., p. 492).
Segundo Grinberg (2002GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 2002., p. 209-210), a cultura jurídica brasileira e portuguesa do início do Oitocentos herdou uma concepção não muito bem sedimentada sobre o conceito de propriedade, inclusive havendo controvérsias sobre o caráter absoluto dessa garantia. A despeito da influência da França revolucionária, que, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789, fincou baliza na afirmação da propriedade como direito natural, imprescindível, sagrado e inviolável, não havia um consenso sobre a definição desse instituto.
A imprecisão se projetou por todo o século XIX. Diferentes concepções de propriedade, seja em sua dimensão individual, coletiva ou mesmo pública, permaneceram lacunosas, sobretudo pela não revogação de disposições do direito em vigor no Antigo Regime, agora conviventes com o paradigma advindo das revoluções burguesas.
O caráter absoluto da propriedade, bem mais interessante à tradição revolucionária francesa, consolidou o pensamento de teóricos que antecederam esse contexto, tal como o filósofo inglês John Locke, para quem o fundamento da supremacia da propriedade residia no fato de essa garantia ser anterior ao chamado “contrato social” e, por conseguinte, ao Estado. Para Campos (2002, p. 209), essa concepção não superava um contrassenso: “[...] a propriedade era simultaneamente direito natural - e, portanto, absoluto - e sua regulamentação, ou a garantia de que o Estado iria protegê-la, era um direito positivo, porque fundamentado nas relações sociais”.
Não por outra razão, a tradição liberal do Oitocentos deu vazão à ideia de propriedade como direito construído socialmente. Mais do que isso, consolidou tal noção como elemento essencial à definição dos privilégios políticos e da cidadania. Um dos usos mais propagados nesse sentido foi o do pensador francês Benjamin Constant, para quem o direito à propriedade privada fazia parte da “convenção social”. Não seria natural, muito menos abstrato, mas nem por isso deixava de ser necessário e mesmo inviolável. Para Constant, sem a propriedade não haveria desenvolvimento da sociedade. A cidadania, por sua vez, deveria estar baseada em critérios adquiridos, e não herdados. Daí porque a propriedade, tal como a cidadania, poderia ser adquirida ou perdida, bem como comportava diferentes clivagens (CAMPOS, 2003CAMPOS, Adriana Pereira. Nas barras dos tribunais: direito e escravidão no Espírito Santo do século XIX. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003., p. 118).
Sobre a estratificação da cidadania advinda do conceito liberal e moderno de propriedade, mirando a sociedade brasileira do século XIX, observa Carvalho:
Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos. [...] É possível haver direitos civis sem direitos políticos. Estes se referem à participação do cidadão no governo da sociedade. Seu exercício é limitado a parcela da população e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado (CARVALHO, 2002CARVALHO, Maria Amália Vaz de. Vida do Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa e Holstein. Lisboa: Imprensa Nacional, 1898, v.1. , p. 9).
Independentemente de controvérsias, indefinições e mesmo contrassensos, pode-se afirmar que o século XIX consolidou a propriedade como direito fundamental, colocando-o no mesmo grau de importância dos valores de liberdade e segurança individual, noções essas fortemente propagadas pelos movimentos liberais europeus.
De qualquer forma, o denso contexto histórico de transformação do conceito de propriedade se constituiu em um conjunto de concepções e costumes distintos sobre a forma de tratar os bens legítima e ilegitimamente adquiridos. Ao Estado coube regulamentar - ou tentar o fazer - o tênue limite do acesso justo e injusto à propriedade.7 7 Segundo Márcia Motta, ao comentar o que concebe como longo processo de territorialização da Coroa portuguesa em terras americanas, preencheu o centro desse debate a “[...] busca de um título legítimo, os jogos instaurados pelos esforços de legalização da propriedade, a incorporação legítima de terras pelo sistema de posses e a invasão das áreas de outrem” (MOTTA, 2012, p. 234).
Com efeito, a garantia da propriedade individual traduzia a proteção contra eventuais abusos cometidos por práticas absolutistas da monarquia. A propriedade se tornou pedra fundamental nos diferentes arranjos constitucionais do Ocidente ao longo do século XIX, havendo sua previsão, com destaque, em todos os textos políticos do período. Algumas constituições deram à propriedade um caráter quase absoluto; outras a relativizaram, na medida em que flexibilizaram essa garantia frente a outros direitos.
Dessa forma, o constitucionalismo moderno caminhou de mãos dadas com a proteção liberal à propriedade. Não por outra razão, as diferentes vertentes doutrinárias que legitimavam o constitucionalismo no mundo luso-brasileiro da década de 1820, ainda que pautadas em distintas bases de sustentação, afirmaram a propriedade de forma central.
Embora com variações, a ideologia liberal teve forte penetração no Brasil, sendo utilizada para a reorganização da ideia de propriedade no século XIX, em um ambiente no qual tal conceito, com contornos modernos e burgueses, encontrou terreno propício para sua (re)apropriação em meio a uma tradição conservadora e patrimonial. Superestimado, o direito de propriedade tornou-se uma espécie de filtro para outras garantias individuais, chegando a servir como critério predominante na definição da cidadania.
No tocante especificamente aos negros escravizados e a seus descendentes, a relação entre cidadania e direito de propriedade:
Se concentrou na singela e ao mesmo tempo relevante regra de que o status de propriedade era inconciliável com o de cidadania, pois não poderia haver cidadão que fosse considerado patrimônio de outrem. Segundo tal entendimento, era justamente a incapacidade do cativo em adquirir, manter e transmitir a propriedade um dos principais fatores a justificar o cativeiro. Só poderia ter liberdade quem tivesse posses. Dito de outra maneira, aquele que demonstrasse o legítimo domínio de bens, sobretudo de propriedades vultosas, como regra, não poderia ter sua liberdade cerceada (COSTA, 2019COSTA, Wilma Peres. A Independência na historiografia brasileira. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2005. p. 53-118., p. 254-255).
Exemplifica tal afirmação o direito de fiança, ou seja, do preso responder à acusação de um crime em liberdade caso entregue à autoridade policial ou judicial determinado valor. Tal instituto, que teve no século XIX um acabamento normativo até hoje presente, refletia a estreita relação entre propriedade, liberdade e cidadania, por afirmar a regra de que quem tivesse posse não ficaria preso durante a investigação do crime, ainda que em flagrante, sobretudo em uma sociedade na qual não existiam crimes inafiançáveis.
Cronologicamente, a incorporação de uma noção moderna de propriedade aos textos constitucionais luso-brasileiros foi inaugurada com as Bases da Constituição Política da Monarquia Portuguesa, ou simplesmente Bases, a cargo da Assembleia Constituinte reunida em Portugal a partir de janeiro de 1821.
Desde a instalação da Assembleia, ficou evidente que a elaboração das Bases teria que enfrentar dois principais desafios. O primeiro era delimitar os princípios que guiariam a modernização do documento constitucional, possibilitando a transição entre as compilações de leis fundamentais do Estado português e um novo pacto social, pautado numa ideologia declaradamente liberal. O segundo desafio consistia em delimitar as próprias atribuições e limites de poder da Constituinte que seria instalada, o que significava, em grande medida, condicionar e lançar diretrizes sobre o futuro texto constitucional.
Para Antônio Manoel Hespanha, as Bases foram influenciadas de forma acentuada pelo constitucionalismo francês, inglês e, sobretudo, espanhol. “O modelo [espanhol] era sedutor, num momento em que havia uma grande necessidade de acomodar a sensibilidade democrática com as correntes tradicionalistas abertas a uma certa modernização do regime político” (HESPANHA, 2012HESPANHA, Antonio Manuel. O constitucionalismo monárquico português: breve síntese. História Constitucional, Oviedo, n. 13, p. 477-526, 2012., p. 483). Essa mesma influência, não coincidentemente, consagrou expressamente no texto constitucional de Cádis, de 1812, e nas Bases, a preponderância do direito estabelecido (direito civil) sobre os direitos naturais dos cidadãos (direito natural). Similares foram, também, os modelos de organização dos poderes e as próprias disposições das duas normas (HESPANHA, 2012HESPANHA, Antonio Manuel. O constitucionalismo monárquico português: breve síntese. História Constitucional, Oviedo, n. 13, p. 477-526, 2012., p. 483).
Para além das influências e previsões gerais, é relevante entender qual arquétipo político as Bases apresentaram para Portugal. Certamente, a discussão passou pelo conceito inovador de Nação apresentado no documento, que ganhou protagonismo ao ser associado umbilicalmente à ideia de soberania. Ao contrário da tradição jacobina, que fundava as leis na vontade, ainda que momentânea, expressas pelos cidadãos (“Povo”), nas Bases a Nação foi legitimada numa “[...] realidade histórico-natural, que não se determina pela livre vontade dos indivíduos”, impedindo que “[...] a vontade de maiorias conjunturais ou geracionais pudesse estabelecer normas constitucionais” (HESPANHA, 2012HESPANHA, Antonio Manuel. O constitucionalismo monárquico português: breve síntese. História Constitucional, Oviedo, n. 13, p. 477-526, 2012., p. 484).
Desde seu preâmbulo, as Bases destacaram textualmente os chamados direitos do cidadão como esfera de proteção prioritária. Apresentaram a “segurança dos direitos individuais” como pressuposto para se “estabelecer a organização e limites dos poderes públicos do Estado”. O liberalismo foi assim coroado como base da Nação portuguesa, tendo a propriedade um de seus pilares de sustentação.8 8 Eis algumas das disposições iniciais das Bases que consolidam essas noções: “1. A Constituição Política da Nação Portuguesa deve manter a liberdade, segurança e propriedade de todo o cidadão. 2. A liberdade consiste na faculdade que compete a cada um de fazer tudo o que a lei não proíbe. A conservação desta liberdade depende da exata observância das leis. [...] 7. A propriedade é um direito sagrado e inviolável que tem todo o cidadão de dispor à sua vontade de todos os seus bens, segundo a lei. Quando por alguma circunstância de necessidade pública e urgente for preciso que um cidadão seja privado deste direito, deve ser primeiro indenizado pela maneira que as leis estabeleceram” (BASES da Constituição Política da Monarquia Portuguesa, 1821, arts. 1-7) (grifou-se).
A Constituição lusitana de 1822, como era de se esperar, seguiu as diretrizes das Bases, sendo igualmente influenciada por doutrinas importadas de sistemas constitucionais estrangeiros, sobretudo o espanhol, o inglês e o francês. Reconheceu o conceito de soberania nacional, rompendo com a centralidade do monarca na estrutura política do Estado. Valorizou ainda, desde suas disposições preambulares, a segurança dos direitos fundamentais dos cidadãos, elencando tal elemento como condicionante dos limites dos poderes do Estado.
Não apenas por influência da doutrina liberal, a “Constituição vintista”, como ficou conhecida a Carta de 1822, teve grande preocupação com a limitação das prerrogativas do Rei. O modelo constitucional adotado atendia aos anseios das elites políticas portuguesas, fortemente incomodadas com o fato de que, há mais de uma década, o monarca se encontrava na América portuguesa. Nesse sentido, não se pode esquecer de que o documento é fruto de quase dois anos de construção, segundo Maria de Fátima Bonifácio, em boa medida consolidando o trabalho de uma Constituinte que se dedicou a elaborar “uma República disfarçada de Monarquia” (BONIFÁCIO, 2002BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A segunda ascensão e queda de Costa Cabral. Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2002., p. 26).
A limitação dos privilégios do trono foi atrelada, em sentido inverso, ao elevado grau de garantia das liberdades do cidadão. Logo após o artigo inaugural da Constituição de 1822 elencar a liberdade com um dos “objetos da Nação Portuguesa”, como já fizeram as Bases, a segunda disposição definiu a máxima do liberalismo adotada na Carta: “[...] a liberdade consiste em não serem obrigados [os cidadãos] a fazer o que a lei não manda, nem a deixar de fazer o que ela não proíbe. A conservação desta liberdade depende da exata observância das leis”.9 9 CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1822, art. 2.
Seguindo o sentido das Bases, a Constituição de 1822 consolidou a propriedade como garantia substancial dos portugueses, sendo tomada como um direito “sagrado e inviolável”, vindo logo após a liberdade e antes das demais garantias.10 10 “A propriedade é um direito sagrado e inviolável, que tem qualquer português, de dispor à sua vontade de todos os seus bens, segundo as leis. Quando por alguma razão de necessidade pública, e urgente, for preciso que ele seja privado deste direito, será primeiramente indenizado, na forma que as leis estabelecerem” (CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1822, art. 6).
Marco do liberalismo português vintista, o direito de propriedade, como “inviolável”, somente poderia ser suspenso por alguma “necessidade pública e urgente”, e desde que o cidadão fosse “primeiramente indenizado”11 11 O texto constitucional fazia ainda outras duas referências à questão da propriedade: no artigo 13, estabelecia que “[...] os ofícios públicos não são propriedade de pessoa alguma”; já o artigo 159 responsabilizava os secretários de Estado junto às Cortes, caso obrassem “[...] contra a liberdade, segurança, ou propriedade dos cidadãos” (CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1822, arts. 13; 159). . Aqui, de algum modo se estabeleceu a relação entre confisco e reparação que embasou as demandas exploradas adiante neste ensaio. Durante as guerras de Independência, aos olhos das autoridades portuguesas, só havia um Estado, que ao superar aquele momento de divergências internas deveria restituir ou indenizar os seus cidadãos.
Em terras americanas, o constitucionalismo da década de 1820 trilhou caminhos próprios, embora tendo influências similares. A dissolução da Assembleia Constituinte, instalada em 1823, e a outorga da Carta de 1824 pelo Imperador brasileiro trouxeram sensíveis rupturas à ideia de que o documento seria legitimado na representatividade de um colegiado nacional. De toda forma, a influência do constitucionalismo espanhol, inglês e francês do final do século XVIII e princípio do século XIX, presente no projeto de 1823, também garantiu algum caráter liberal à Carta de 1824, referendada pelas câmaras como mecanismo de legitimidade e representatividade de um documento concebido fora do âmbito de uma Assembleia Constituinte.
Diferentemente da Carta lusitana de 1822, a Constituição do Brasil de 1824 não inicia com a apresentação de um rol de direitos individuais, portanto, não os posiciona de forma a valorizá-los como espinha dorsal do documento. As primeiras disposições priorizaram a força do Império, a proteção de seu território e a previsão de um governo monárquico e hereditário (NEVES; NEVES, 2009NEVES, Lúcia Marias Bastos Pereira das; NEVES, Guilherme Pereira das. Constitución - Brasil. In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano: la era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina, 2009. p. 337-351., p. 343). A declaração da separação de poderes revelava uma nítida influência da doutrina de Montesquieu, mas a previsão de um quarto poder, o Moderador, em boa medida, esvaziou o significado político da teoria francesa.
Mas, como já afirmado, o texto de 1824 não esteve despido da influência liberal. Trouxe a garantia de “direitos civis e políticos dos cidadãos”, e valorizou “a liberdade, a segurança individual e a propriedade”.12 12 CONSTITUIÇÃO Política do Império do Brasil, 1824, art. 179. Outros artigos, como os de números 9 e 16, previam igualmente o dever do Império de respeitar os direitos civis.
O liberalismo brasileiro, no entanto, conviveu com sensíveis particularidades, construindo algo bem distinto da doutrina desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos. A emergência e a circulação de elementos do ideário burguês ocidental, a exemplo das noções de liberdade e igualdade, desafiaram as elites brasileiras a desenvolver novas representações, capazes, por exemplo, de limitar direitos de negros e pardos, ainda quando libertos.
O direito de propriedade, um dos principais elementos de sustentação do liberalismo, teve na Constituição de 1824 previsão e proteção destacadas.13 13 Eis as principais disposições do texto constitucional na proteção à propriedade individual, inclusive prevendo uma única exceção a sua plenitude: “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. [...] XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A Lei marcará os casos, em que terá lugar esta única exceção, e dará as regras para se determinar a indenização” (Idem) (grifou-se). Porém, seguindo a tendência de mitigação da doutrina liberal desenvolvida pelas elites no Brasil, encontrou consistentes elementos de relativização.
Em verdade, o direito de propriedade foi o principal critério previsto na Carta para distinção entre cidadãos ativos e passivos do Império, servindo a comprovação de posses ou de renda como condição para o exercício pleno dos direitos políticos. Foi ainda a propriedade o elemento que consolidou a exclusão de negros escravizados de quaisquer direitos civis, afastando a necessidade de que as elites justificassem hierarquias sociais, ao menos no âmbito normativo, na inferioridade racial. Bastava, por um lado, recrudescer o tratamento formal do escravizado como coisa e, por outro, manter a máxima de que não poderia existir uma propriedade que possuísse outra propriedade.
O tratamento formal do escravo como propriedade fazia com que qualquer bem que o cativo possuísse ou produzisse, tal como o fruto de seu trabalho ou mesmo seus filhos, fosse considerado patrimônio de seu senhor. Era juridicamente impossível ao escravo adquirir, vender ou doar qualquer bem material, bem como impraticável a constituição formal de família (COSTA, 2019COSTA, Yuri. Justiça infame: crime, escravidão e poder no Brasil imperial. São Paulo: Alameda, 2019., p. 270-271).
Com efeito, a previsão do censo para qualificação dos cidadãos serviu para a conservação e reprodução de hierarquias tradicionais à ordem escravista, que podiam agora ser interpretadas à luz de exigências do texto constitucional. Dessa forma, “[...] a associação entre cidadania, liberdade e propriedade se converteu na referência das desigualdades que deveriam existir entre livres e proprietários (os cidadãos ativos), livre e não proprietários (cidadãos passivos) e livres e não proprietários (os não cidadãos)” (SANTOS; FERREIRA, 2009SANTOS, Beatriz Catão Cruz; FERREIRA, Bernardo. Ciudadano - Brasil. In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano: la era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina , 2009. p. 211-222., p. 220).
Retornemos a Portugal, mas ainda seguindo a cronologia dos textos constitucionais da década de 1820. Cabe lembrar que a Constituição de 1822 foi dissolvida nos primeiros meses de 1823, no contexto da Revolta de Vila Franca, que culminou com o restabelecimento dos plenos poderes do monarca. Na sequência, D. João VI nomeou uma “Junta” com o propósito de redigir um novo documento constitucional. A recusa dos projetos inicialmente apresentados, somada ao falecimento do monarca, em 1826, inviabilizou aquela proposição. O sucessor do trono, D. Pedro IV, que havia assumido o Império do Brasil - como D. Pedro I -, outorgou a Portugal, em abril de 1826, uma Carta Constitucional. Logo após, abdicou da coroa lusitana.
A Carta de 1826 foi o texto constitucional com maior duração na história portuguesa, pois, mesmo com algumas interrupções, vigorou até 1910. A Constituição possuiu grande influência da Carta Política brasileira de 1824. Ambas outorgadas pelo mesmo rei, igualmente previram o Poder Moderador do monarca. Tal como na Carta brasileira do Império, o documento lusitano evidenciou que a influência recebida do liberalismo francês encontrava sensível obstáculo na autolimitação dos poderes do Rei. Pretendeu, assim, ser “[...] um ‘meio-termo’, uma ‘via compromissória’ entre a ideia de soberania nacional, defendida pela esquerda liberal, e a intenção de reforçar as prerrogativas régias, pugnada pela direita absolutista e pela direita liberal conservadora” (BOTELHO, 2013BOTELHO, Catarina Salgado. A história faz a Constituição ou a Constituição faz a história? Reflexões sobre a história constitucional portuguesa. RIDB, Lisboa, ano 2, n. 1, p. 229-247, 2013., p. 234-235).
De forma similar ao texto brasileiro, também não iniciou suas disposições apresentando um rol de direitos do cidadão. Priorizou, isso sim, a organização do território, governo, dinastia e religião portuguesas. Não obstante uma localização menos privilegiada dos artigos sobre os direitos individuais, a Carta de 1826 consolidou em seu extenso artigo 145 a tríade “liberdade, segurança e propriedade” como bases dos direitos fundamentais. De forma quase literal à Constituição brasileira de 182414 14 Sobre as similitudes entre as Constituições de 1824 e 1826, uma discussão mais atual pode ser acompanhada em José Murilo de Carvalho (2018). , protegeu o direito à propriedade “em sua plenitude”.15 15 “Art. 145. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Portugueses, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Reino, pela maneira seguinte [...]. § 21. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o Bem Público, legalmente verificado, exigir o uso e emprego da propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A Lei marcará os casos, em que terá lugar esta única exceção, e dará as regras para se determinar a indenização” (CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1826, art. 145) (grifou-se).
A pretensa plenitude da propriedade sofreu, porém, sérias restrições quando se colocava em choque interesses entre particulares e Estado. Na interpretação de Hespanha (2012), o sistema constitucional de 1826 inaugurou práticas nas quais situações de litígio entre os cidadãos e o Reino pesavam, e muito, para o predomínio das prerrogativas do monarca.
A perspectiva tendenciosa aos interesses do Rei influenciou os órgãos administrativos e jurisdicionais com atribuição de solucionar os conflitos, comprometendo mesmo sua neutralidade. Ao fim e ao cabo, tais órgãos podiam apenas avaliar a legalidade do procedimento adotado em demandas envolvendo o tratamento dado pelo Estado português com relação à propriedade de particulares. As razões do agir do Estado foram tomadas como decisões políticas, reduzidas à máxima do “poder discricionário da administração”, sendo praticamente inquestionáveis. Os atos administrativos, por essa mesma razão, poderiam ser no máximo anulados, nunca substituídos (HESPANHA, 2012HESPANHA, Antonio Manuel. O constitucionalismo monárquico português: breve síntese. História Constitucional, Oviedo, n. 13, p. 477-526, 2012., p. 501).
Hespanha credita o enfraquecimento das prerrogativas dos cidadãos sobre a propriedade à retomada, em Portugal, de uma tradição do século XVIII, mesclada com doutrinas pretensamente modernas.
A proteção [ao direito de propriedade] diminuiu muito. Não só o âmbito do que se entendia agora por propriedade era menor, como a instância de recurso era constituído por funcionários da própria administração ou por um órgão político - o Conselho de Estado [...]. Esta tibieza no reconhecimento de direitos dos cidadãos contra o Estado e na institucionalização de meios de os tornar efetivos era o produto de uma longa tradição. Não tanto a tradição do direito comum do Antigo Regime, como se viu. Mas, sobretudo, a tradição combinada do absolutismo monárquico setecentista (e, mesmo, oitocentista) e do jacobinismo revolucionário. Perante o interesse público - fosse ele representado pelo rei ou pelo parlamento - o indivíduo poucos direitos teria (HESPANHA, 2012HESPANHA, Antonio Manuel. O constitucionalismo monárquico português: breve síntese. História Constitucional, Oviedo, n. 13, p. 477-526, 2012., p. 501-502).
Cabe lembrar que as guerras de independência deram-se em meio à instabilidade constitucional em Portugal. A Constituição de 1822 não mais vigorava em maio de 1823, mas os princípios aqui em questão foram retomados em 1826, indício de que balizaram de algum modo o período.16 16 Ao longo do ano de 1823, o governo de Dom João VI flertou com a possibilidade de aprovar nova Constituição, fundamentada em projeto de Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, membro da junta de governo. Antonio Manuel Hespanha (1982, p. 78) sustenta que muitos traços do projeto de Morato mantiveram-se na Carta Constitucional de 1826.
As investidas do Estado sobre o direito de propriedade de particulares ao longo da década de 1820, sobretudo com a Carta de 1826, não significaram que posse e renda deixassem de ser critérios vitais na qualificação dos cidadãos. Ainda que relativizado, o direito de propriedade se perpetuou, ao longo do Oitocentos, como uma das principais garantias do liberalismo que marcou o constitucionalismo luso-brasileiro.
O quadro normativo aqui tratado em boa medida organizou a propriedade segundo a doutrina liberal do Oitocentos. As fissuras deixadas pela Independência política do Brasil, no entanto, desafiaram algo bem maior que a redefinição de leis e procedimentos. A desvinculação da porção americana do Reino Unido português lançou particulares, firmas e o próprio Estado, de ambas as localidades, em um complexo cenário de insegurança política e jurídica. Era preciso dar garantias a proprietários e resolver conflitos que invariavelmente apareceriam. O desafio era imenso e a solução não se deu em curto prazo.
A propriedade em meio a incertezas
Desde a chegada em Portugal das notícias sobre a Independência, as incertezas sobre o futuro, aguçadas em tempos revolucionários, contaram com variados componentes. Na imprensa portuguesa, a partir do final de 1822, planos de resistência eram conjeturados.17 17 Valentim Alexandre (1993, p. 722) explorou as notícias publicadas pelos jornais Campeão Lisbonense e Gazeta de Portugal, nos últimos meses de 1822, incitando a organização da resistência armada. Os planos incluíam propostas de bloqueio a Pernambuco, reunião de forças militares na Bahia e o bloqueio de parte da costa brasileira. A expectativa do desembarque de tropas portuguesas esteve presente no debate político brasileiro até 1825. André Roberto de Arruda Machado (2006, p. 164-179) cunhou a expressão “esquadras imaginárias” no estudo que desenvolveu sobre essa questão na província do Grão-Pará. A rigor, tais expectativas tinham como substrato a movimentação de autoridades portuguesas como o conde de Palmela, ministro dos negócios estrangeiros, que entre 1823 e 1824 tentou criar as condições para uma reação militar (PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 412; 420-422; CARVALHO, Maria Amália Vaz de. Vida do Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa e Holstein. Lisboa: Imprensa Nacional, 1898, v.1, p. 434-435). Ademais, as pressões da Santa Aliança para a manutenção dos impérios coloniais somavam-se às esperanças trazidas pela Revolta de Vila Franca, de certo modo comprometidas no ano seguinte, pela Abrilada.18 18 A instabilidade política provocada pelo episódio forçou o conde de Palmela a abandonar os planos de reaver o Brasil. Cf. Alexandre (1993, p. 761-762). Contudo, até pelo menos junho de 1824, Palmela instruiu o Conde de Vila Real (ministro de Portugal em Londres) a que fizessem acreditar no poderio bélico português, materializado em uma expedição militar que se dirigiria ao Brasil (PALMELLA, 1851, p. 420-422). No Brasil, as convulsões irradiadas a partir de Pernambuco em 1824 aumentavam o cenário de instabilidade.
No campo diplomático, em setembro de 1823, a missão do Conde Rio Maior desembarcou no Rio de Janeiro com o intuito de promover uma conciliação, crença alimentada pela vitória da Revolta de Vila Franca que, acreditava-se, restauraria os laços entre Portugal e Brasil, abalados pelos tempos constitucionais, agora sepultados.19 19 Com base em registro deixado por Mouzinho da Silveira, membro da junta de governo nomeada por D. João VI após o restabelecimento de seus plenos poderes, a junta se manifestou, logo na primeira reunião, a favor do envio imediato ao Rio de Janeiro do conde de Rio Maior, com o objetivo de dar a conhecer ao príncipe que estava “[...] esmagada a facção de Manoel Fernandes, e que Sua Majestade tinha recuperado os seus direitos inauferíveis”, esperando-se por isso que D. Pedro voltasse à “obediência de seu pai”, o que permitiria que tudo regressasse “ao antigo pé”, “[...] ficando o príncipe regendo o Brasil, como parte da monarquia”. Cf. Alexandre (1993, p. 754).
Ao explicar o objetivo da missão às autoridades brasileiras, Rio Maior apressou-se em lembrar as “[...] novas circunstâncias políticas de Portugal”, razão suficiente para a cessão das hostilidades. Também informou que estava autorizado a tratar da “[...] sorte e situação de diversos europeus portugueses, que se acham no Brasil”.20 20 Resposta de Rio Maior ao ministro Carneiro de Campos, em 19 de setembro de 1823. ARCHIVO Diplomático da Independência. Portugal. Rio de Janeiro: Lith-Typ. Fluminense, 1925, v. VI, p. 30-31
A historiografia sobre o tema ressaltou o fracasso da missão Rio Maior, que sequer foi recebida pelas autoridades brasileiras, pelo fato de não estar autorizada a abrir negociações sobre o Reconhecimento da Independência. Cabe ressaltar, porém, seu aceno para mais autonomia da porção americana do Reino Unido português21 21 Um resumo das instruções diplomáticas recebidas por Rio Maior pode ser consultado em Lyra (1925, p. XIII-XIV). Antes, em março de 1823, as Cortes portuguesas refutaram um projeto que aceitava a Independência, excetuado os territórios do Pará, Maranhão e Guiana Portuguesa. De todo modo, esse projeto denota a antecedência da discussão sobre tal possibilidade, só aceita formalmente no campo diplomático em 1825. Sobre o projeto, ver o Diário das Cortes de 13 de março de 1823. Para uma discussão a respeito, ver Alexandre (1993, p. 732). e, o que nos interessa mais de perto, o propósito de assegurar/restituir as propriedades pertencentes aos súditos portugueses, perspectiva que ficaria mais evidente na sequência dos acontecimentos.
Note-se aqui, e nos exemplos a seguir, até os primeiros meses de 1825, o propósito do governo português de discutir restituição/indenização aos proprietários, sem qualquer vinculação à questão do Reconhecimento da Independência. Ainda que se tratasse de estratégia diplomática - dimensão não explorada neste texto -, assentava-se em premissa compartilhada com o governo brasileiro, que não refutava essa hipótese, mas vinculava-a à questão do Reconhecimento, como se verá.
Em março de 1824, recorrendo à intermediação britânica, o Conde de Vila Real pedia ajuda para que o governo do Rio de Janeiro atendesse a quatro quesitos, dentre os quais: “[...] 1º a cessação de hostilidades por parte desse governo contra os súditos e navios portugueses; 2º a restituição da propriedade portuguesa, que há sido injustamente sequestrada”.22 22 PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 366. Sem o cumprimento dessas exigências, Palmela orientava Vila Real, em 21 de maio de 1824, a que não fizesse “nenhum oferecimento”.23 23 Ibidem, p. 412.
Varnhagen (1916, p. 363-368) situou a recorrência dessas exigências em dois outros momentos do ano de 1824, acrescentando-lhes alguns detalhes. Primeiro, observou que Portugal autorizara, em meados de 1824, Vila Real a “[...] ouvir os agentes brasileiros e a tratar com eles, só no caso que estes começassem por admitir: 1) a imediata cessação de hostilidades; 2) a restituição aos Portugueses de toda a propriedade confiscada [...]”; a seguir, ressaltou que em reunião com George Canning24 24 Secretário britânico de Negócios Estrangeiros. Na edição do texto de Varnhagen (1916, p. 363) aqui utilizada, consta uma nota do IHGB, responsável pela publicação, informando que o autor baseara-se no livro Vida de Jorge Canning, e que uma tradução da obra fora publicada na Revista do Instituto, tomo XXIII. , em 12 de agosto de 1824, Vila Real reiterou os “direitos de soberania de seu amo”, para em seguida reclamar três coisas: armistício, restabelecimento das relações comerciais e restituição das propriedades confiscadas.
As observações de Varnhagen referem-se a um conjunto de reuniões entre representantes brasileiros e portugueses, intermediadas pela Inglaterra, que pouco avançaram sobre a questão do Reconhecimento da Independência.
Contudo, no âmbito daquelas reuniões, Canning apresentara, no início de agosto, uma proposta que reconhecia a Independência do Brasil, embora mantivesse a Casa de Bragança como ponto de convergência entre as duas nações. Sobre o aspecto que nos interessa aqui, estabelecia:
Artigo 4º Subentende-se que todas as hostilidades por parte do Brasil contra os territórios, os navios e os súditos de Portugal já terminaram.
Todos os navios e bens até agora tomados serão restituídos, ou, se for impraticável a restituição, será dada aos possuidores uma justa indenização, quer esses bens pertençam ao governo português, quer a particulares.
Artigo 5º Do mesmo modo todos os brasileiros e seus bens tomados em Portugal serão imediatamente libertados e restituídos, ou, se a restituição dos bens for impraticável, será dada uma indenização ao possuidor, quer esses bens pertençam ao Governo Brasileiro, quer a particulares.25 25 BIKER, Julio Firmino Judice. Supplemento a Collecção dos Tratados, Convenções, Contratos e Actos Publicos celebrados entre a Corôa de Portugal e as mais notáveis potências desde 1640. Lisboa: Imprensa Nacional, 1880, t. XXII, p. 195. Esses artigos compuseram o Projecto de Tratado de reconciliação e amizade entre Portugal e o Brasil, apresentado por Mr. Canning na terceira conferência dos Plenipotenciários em Londres, em 9 de agosto de 1824.
Sob pelo menos dois aspectos, os princípios defendidos por Canning, nesses artigos, foram retomados no ano seguinte, nas negociações que culminaram com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança: a reciprocidade, ao reconhecer os prejuízos acumulados por brasileiros, ainda que sem a ressalva “em Portugal”; e a impraticabilidade, em alguns casos, de restituição, abrindo a possibilidade do pagamento de indenizações. Por fim, o artigo 8º da proposta de Canning estabelecia que “Serão nomeados sem demora comissários para a devida execução dos artigos 4º e 5º deste Tratado”, princípio também incorporado pelo Tratado e que, de algum modo, como já observado, transferiu para a Comissão a ser instituída debates que poderiam retardar as negociações.
No início de outubro de 1824, como forma de reiterar a disposição portuguesa de negociação sem o Reconhecimento da Independência, Palmela escreveu ao Conde de Vila Real para instruí-lo sobre a apresentação de um Ato de Conciliação, em conferência com os plenipotenciários da Inglaterra e Áustria, e representantes do Brasil26 26 Oliveira Lima (1901, p. 130) informa que Vila Real apresentou formalmente a proposta ao Foreign Office, em 11 de novembro de 1824. . Na proposta, insistia no princípio de que:
Art. 14 Cessarão imediatamente todas as hostilidades. As presas de navios ou propriedades confiscadas serão restituídas ou indenizadas pelo Brasil (não podendo neste artigo estipular-se reciprocidade, por quanto S. M. Fidelíssima não tem mandado praticar, nem permitido ato algum desta natureza.27 27 PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 487.
Da proposta de Canning, Palmela parece ter incorporado apenas a possibilidade de indenização; já a reciprocidade não seria concebível, dado o caráter unilateral das hostilidades. O Brasil, tomado como entidade política a quem caberia “restituir ou indenizar”, permaneceria como parte americana da monarquia.
Note, nesse percurso aqui construído, certa indissociação entre restituição/indenização e a cessação das hostilidades. Escrevendo a D. Antonio de Saldanha da Gama28 28 Ministro de Portugal na Espanha. em 3 de outubro de 1823, Palmela informava que “[...] Chegou a esquadra e comboio da Bahia, faltando onze embarcações, que foram com vergonha da nossa marinha apresadas por Lord Cochrane. Ainda conservamos o Maranhão e Pará (receio que por pouco tempo), e esperamos ansiosamente respostas do Rio de Janeiro”.29 29 PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 265. Os receios sobre o Maranhão e o Pará se concretizariam logo em seguida; as respostas do Rio de Janeiro, sobre a missão de Rio Maior, seriam as piores possíveis.
Quinze dias depois, Palmela queixar-se-ia novamente, agora ao Barão de Binder, ministro da Áustria em Portugal. Já informado sobre a perda do Maranhão, observava que “[...] a esquadra comandada por Lord Cochrane exerce contra o exército português as mais terríveis piratarias; e não contente de ter saqueado em seu proveito os importantes portos da Bahia e do Maranhão” e provocava uma “guerra parricida”.30 30 Ibidem, p. 280.
As reclamações de Palmela e de outras autoridades portuguesas acompanharam o tempo de atuação do almirante Cochrane nas províncias do Norte, com incursões pela costa portuguesa, entre meados de 1823 e de 1825, incluindo intervalos e retornos variáveis conforme a província.31 31 Para a atuação de Cochrane nas costas brasileira e portuguesa naquele momento, ver Vale (2002).
Esse ponto ajuda a entender outra articulação, antecipada pela proposta de George Canning e presente no Tratado de Paz e Aliança. Se os artigos 6º e 7º versaram sobre restituições e indenizações, o cumprimento dessas orientações exigiria análise pormenorizada das condições em que os prejuízos foram contraídos, dada a longevidade e a diversidade geográfica das animosidades. Para tanto, o Tratado previu, no artigo 8º, a instituição de uma Comissão Mista Brasil-Portugal para avaliar as reclamações que lhe seriam dirigidas.32 32 Não é propósito deste texto enveredar pelo trabalho da Comissão, mas cabe registrar que foram recebidas 509 reclamações. Não por acaso, mais de 80% tiveram como origem as províncias do Norte. Em 31 de outubro de 1836, os comissários registraram que: “[...] a soma de todas as reclamações de súditos portugueses por prejuízos e extorsões feitas pelo almirante brasileiro Lord Cochrane, e apresentadas em tempo, montam 243:221$917” (ARQUIVO Nacional da Torre do Tombo. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Livro 46A). Para a praça do Maranhão, o próprio Cochrane produziu estimativa, em 1859, sobre as apreensões de mercadorias e navios (COCHRANE, 2003, p. 114). Sobre esse elevado percentual de reclamações radicadas no Norte, Gladys Sabina Ribeiro (2007) observou que, para além das guerras travadas na região, ele se justifica pelo fato de, no Rio de Janeiro, ter se instituído ainda em 1822 o Juizado dos Sequestros de Bens de Portugueses, que recebeu quase que exclusivamente reclamações radicadas no Rio de Janeiro. Nas palavras da autora: “Já no Norte e no Nordeste os sequestrados tiveram que aguardar a paz e o estabelecimento da comissão própria para obter indenizações ou ver solucionados seus pedidos de levantamento de sequestros” (2007, p. 402).
O direito à propriedade no Tratado de Paz e Aliança
Em julho de 1825, teve início no Rio de Janeiro as negociações para o Reconhecimento da Independência do Brasil. Charles Stuart, diplomata britânico autorizado por Dom João VI a conduzir as negociações em nome de Portugal33 33 Stuart chegou ao Rio de Janeiro em 17 de julho. Para as instruções recebidas por Stuart, sobre os princípios que deveriam nortear o Tratado, ver Lyra (1925, p. XXII). , deixou transparecer, desde as primeiras reuniões, os pontos que dispenderiam maiores negociações, como as já salientadas questões da soberania e da indenização a ser paga a Portugal.
A ata de 25 de julho registrou o consenso em se adiantar “outros artigos”, tendo em vista o adiamento de matérias que geraram impasse. Entre os dez pontos a serem adiantados, constavam: 1º Cessão de hostilidades; 4º Restituição de presas e propriedades e levantamento de sequestros; 5º Segurança de bens de raiz; 6º Indenização aos particulares; 7º Indenização de ofícios vitalícios34 34 Esse ponto não foi incorporado ao texto do Tratado, mas foi objeto de diversas reclamações à Comissão Mista. Voltaremos ao tema. .35 35 ARCHIVO Diplomático da Independência. Portugal. Rio de Janeiro: Lith-Typ. Fluminense, 1925, v. VI, p. 125. Cf. Livro de Registro de Protocolos. Rio, 25 jul. a 29 ago. 1825.
De fato, os pontos relacionados às propriedades particulares pareciam, ao menos por ora, de fácil resolução, quer pelos pressupostos constitucionais, hipótese que nos orienta, quer pela consequente anterioridade do tema; já a cessão das hostilidades foi condicionada pelo Brasil, desde a missão de Rio Maior, à abertura das negociações para o Reconhecimento da Independência, agora iniciadas.
Ainda assim, por receios de que a cessão das hostilidades não ficasse evidentemente vinculada ao Reconhecimento da Independência, o tema foi objeto de propostas e negociações entre 28 de julho e 1 de agosto36 36 Ibidem, p. 75-87. , e permaneceu conectado à questão da propriedade dos portugueses:
-
º Haverá suspensão de hostilidades por Mar e por Terra durante as Negociações desde a data desta até a conclusão da Paz, em Tratado definitivo.
-
º Não se farão presas, e não se sequestrarão da data desta em diante as propriedades de Portugueses que existirem aqui e ainda não estiverem sequestradas.
-
º Fica porém entendido que por este ajuste não ficam abertos os Portos para o comércio franco com os Portugueses.37 37 Ibidem, p. 87. Minuta do secretário Luiz Mouttinho, em 1 de agosto de 1825. No texto do Tratado, a cessão das hostilidades aparece de algum modo, em dois momentos: no preambulo, ao manifestar o desejo de “[...] restabelecer a Paz, Amizade, e boa harmonia entre Povos Irmãos [...]”; e no artigo 4º, em que valores como “Paz e Aliança” e “perfeita amizade”, vinculam-se ao “[...] total esquecimento das desavenças passadas entre os povos respectivos”.
Quanto à restituição das propriedades, ajustada em artigos depois de duas ou três propostas, o secretário Luiz Mouttinho registrou, em opinião sobre o protocolo do Tratado, que: “[...] a restituição das presas, quando estas por força se hão de restituir, principalmente aos particulares, que se não podem reter sempre sem ir contra o direito natural, base de toda a justiça pública”.38 38 Ibidem, p. 96. Apontamento de Luiz Mouttinho.
Como visto aqui, a propriedade era tida como um direito natural, ou seja, não socialmente construído. Segundo esse raciocínio, qualquer prerrogativa ou instituição historicamente inventada pelo homem, a exemplo do próprio Estado, não poderia ser condicionante do exercício da propriedade. Ainda assim, quando apreendida pelo Estado, sofreu restrições à garantia de sua restituição.
Os artigos 6º e 7º do Tratado definiram como propriedades passíveis de restituição ou indenização: bens de raiz ou móveis, ações, rendimentos, embarcações e carga.
A propriedade de ofícios vitalícios, presente na pauta de Stuart, não teve lugar no texto do Tratado, mas foi objeto de reclamações encaminhadas à Comissão Mista Brasil-Portugal, e analisadas após consenso firmado a respeito. Cabe lembrar que a Constituição portuguesa de 1822, não mais vigente, estabelecia no artigo 13 que ofícios públicos não eram propriedade de pessoa alguma; já as Constituições de 1824 e 1826 silenciaram sobre o tema.
De todo modo, o trabalho da Comissão Mista Brasil-Portugal, iniciado em 1827 e encerrado em 1842, alimentou o debate sobre a propriedade no mundo luso-brasileiro, articulando-o às guerras de Independência, tema delicado para uma historiografia brasileira construída sobre as bases do legado português (COSTA, 2005COSTA, Wilma Peres. A Independência na historiografia brasileira. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2005. p. 53-118.), e que talvez por esse motivo tenha optado por apenas atestar a menor importância da questão durante as negociações do Tratado, sem maiores articulações com o histórico das queixas, desde meados de 1823.
Considerações finais
O contexto do bicentenário da emancipação política do Brasil seguramente enseja um conjunto de revisitações a um tema caro à historiografia brasileira39 39 São muitos os balanços historiográficos que transparecem a centralidade do tema para a historiografia brasileira. Apenas como exemplo, ver Costa (2005). . Nesse movimento, o Reconhecimento da Independência, secundarizado até então, talvez mereça maior atenção, ante a perspectiva de reflexões circunscritas à “Independência propriamente dita” ou integradas às experiências revolucionárias desde a Revolução Francesa, particularmente aquelas vividas no mundo ibérico.40 40 Referimo-nos aos importantes estudos desenvolvidos a partir de Guerra (1992), Jancsó (2005) e Pimenta (2017).
Aqui, propusemos uma leitura do período a partir da noção de direito constitucional de propriedade. As guerras de Independência e a formalização da paz serviram como substrato para pensar a permanente questão da propriedade nas negociações propostas pelas autoridades portuguesas, a partir de princípios que tomavam foro constitucional naquele momento. Às incertezas sobre o futuro, contrapunha-se a convicção de que o direito de propriedade, ao menos em tempos de paz, era um bem inegociável.
Documentos
- ARCHIVO Diplomático da Independência. Portugal. Rio de Janeiro: Lith-Typ. Fluminense, 1925, v. VI.
- ARQUIVO Nacional da Torre do Tombo. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Livro 46A.
- BASES da Constituição Política da Monarquia Portuguesa, 1821.
- BIKER, Julio Firmino Judice. Supplemento a Collecção dos Tratados, Convenções, Contratos e Actos Publicos celebrados entre a Corôa de Portugal e as mais notáveis potências desde 1640. Lisboa: Imprensa Nacional, 1880, t. XXII.
- CARVALHO, Maria Amália Vaz de. Vida do Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa e Holstein. Lisboa: Imprensa Nacional, 1898, v.1.
- CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1822.
- CONSTITUIÇÃO Política do Império do Brasil, 1824.
- CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1826.
- DIÁRIO das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza. Disponível em: Disponível em: http://debates.parlamento.pt Acesso em: 17 out. 2020.
» http://debates.parlamento.pt - PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos.
- TRATADO de paz e aliança concluído entre D. João VI, e o Seu Augusto Filho D. Pedro, Imperador do Brasil, aos 29 de agosto de 1825.
Referências
- ACCIOLY, Hildebrando. A Missão Stuart. Notícia histórica. In: ARCHIVO Diplomático da Independência Portugal. Rio de Janeiro: Lith-Typ. Fluminense , 1925, v. VI. p. XVII-XXXVI.
- ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do Império Questão nacional e questão colonial na crise do Antigo Regime português Porto: Edições Afrontamento, 1993.
- ARMITAGE, John [1835]. História do Brasil Desde o período da chegada da família de Bragança, em 1808, até a abdicação de D. Pedro I, em 1831. 3. ed. Rio de Janeiro: Zelio Valverde, 1943.
- BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A segunda ascensão e queda de Costa Cabral Lisboa: Imprensa das Ciências Sociais, 2002.
- BOTELHO, Catarina Salgado. A história faz a Constituição ou a Constituição faz a história? Reflexões sobre a história constitucional portuguesa. RIDB, Lisboa, ano 2, n. 1, p. 229-247, 2013.
- CAMPOS, Adriana Pereira. Nas barras dos tribunais: direito e escravidão no Espírito Santo do século XIX. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.
- CARVALHO, José Murilo de. O rei e a representação da nação. In: CARVALHO, José Murilo de; RAMOS, Rui; SILVA, Isabel Corrêa da (dir.). A Monarquia Constitucional dos Braganças em Portugal e no Brasil (1822-1910): uma história paralela de Portugal e do Brasil depois da Independência brasileira. Alfragide: Dom Quixote, 2018. p. 123-144.
- CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
- CERVO, Amado Luiz; MAGALHÃES, José Calvet de. Depois das caravelas: as relações entre Portugal e Brasil 1808-2000. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.
- COCHRANE, Thomas John [1859]. Narrativa de serviços no libertar-se o Brasil da dominação portuguesa Brasília: Senado Federal, 2003.
- COSTA, Wilma Peres. A Independência na historiografia brasileira. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2005. p. 53-118.
- COSTA, Yuri. Justiça infame: crime, escravidão e poder no Brasil imperial. São Paulo: Alameda, 2019.
- GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 2002.
- GUERRA, François-Xavier [1992]. Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas. 3. ed. México: FCE, MAPFRE, 2000.HERZOG, Tamar. Una breve historia del derecho europeo: los últimos 2.500 años. Madrid: Allanza Editorial, 2019.
- HESPANHA, Antonio Manuel. O constitucionalismo monárquico português: breve síntese. História Constitucional, Oviedo, n. 13, p. 477-526, 2012.
- HESPANHA, Antonio Manuel. O projeto institucional do tradicionalismo reformista: um projecto de Constituição de Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato (1823). In: PEREIRA, Miriam Halpern (dir.). O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982. p. 63-90.
- JANCSÓ, István. Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec; Fapesp , 2005.
- LYRA, Heitor. A missão de Luiz Paulino e Rio-Maior. In: ARCHIVO Diplomático da Independência Portugal. Rio de Janeiro: Lith-Typ. Fluminense , 1925, v. VI. p. VIII-XV.
- MACHADO, André Roberto de Arruda. A quebra da mola real das sociedades A crise política do Antigo Regime português na província do Grão-Pará (1821-1825). Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- MONTEIRO, Tobias. História do Império O Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., 1939, t. I.
- MOTTA, Márcia Maria Menendes. Direito à terra no Brasil: a gestação do conflito (1795-1824). 2. ed. São Paulo: Alameda , 2012.
- NEVES, Lúcia Marias Bastos Pereira das; NEVES, Guilherme Pereira das. Constitución - Brasil. In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano: la era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina, 2009. p. 337-351.
- OLIVEIRA LIMA, Manuel de. História diplomática do Brasil. O Reconhecimento do Império Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1901.
- PIMENTA, João Paulo Garrido. Tempos e espaços das independências A inserção do Brasil no mundo ocidental (1780-1830) São Paulo: Intermeios: USP, Programa de Pós-Graduação em História Social, 2017.
- RIBEIRO, Gladys Sabina. Identidade ou causa nacional? Uma discussão a partir dos sequestros, tratado e comissão mista Brasil-Portugal (1822-1828). In: CARVALHO, José Murilo de et al Linguagens e fronteiras do poder Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 186-198.
- RIBEIRO, Gladys Sabina. O Tratado de 1825 e a construção de uma determinada identidade nacional: os sequestros de bens e a Comissão Mista Brasil-Portugal. In: CARVALHO, José Murilo de (org.). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 2007. p. 395-420.
- RIBEIRO, Gladys Sabina; MACHADO, Eliane Paiva da Rocha. O funcionamento da Comissão Mista Brasil-Portugal do Tratado de Paz e Aliança de 1825 e os sequestros de bens. In: MATOS, Maria Izilda; SOUSA, Fernando de; HECKER, Alexandre (orgs.). Deslocamentos & Histórias: os portugueses. Bauru, SP: EDUSC, 2008. p. 171-188.
- SANTOS, Beatriz Catão Cruz; FERREIRA, Bernardo. Ciudadano - Brasil. In: SEBASTIÁN, Javier Fernández (dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano: la era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina , 2009. p. 211-222.
- VALE, Brian. A ação da Marinha nas guerras da Independência. In: História Naval Brasileira Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 2002, v. 3, t. I.
- VARNHAGEN, Francisco Adolfo de [1916, mas escrita, possivelmente, em 1876]. História da Independência do Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro, Rio de Janeiro, v. 173, p. 23-634, 1938.
-
1
Afirmação sustentada nas leituras de: Armitage (1835), Varnhagen (1916), Oliveira Lima (1901) e Monteiro (1939). Quanto aos dois primeiros aspectos, os documentos coligidos no Archivo Diplomático da Independência (1925, p. 61-201) corroboram essa assertiva; já a questão dinástica, evitada a todo custo pelas autoridades brasileiras durante as negociações, ganhou ainda mais importância nos anos seguintes, com o crescente envolvimento do Imperador Pedro I na questão sucessória em Portugal, fato que parece reforçar a pertinência do tema nessas narrativas.
-
2
Utilizamos a terceira edição. A ortografia de todas as citações foi atualizada.
-
3
Prevista pelo artigo 8º do Tratado, a Comissão iniciou seu trabalho em 1827 e teve como objetivo avaliar as reclamações de prejuízos à propriedade durante as guerras de Independência e julgar o mérito de ressarcimentos e indenizações solicitadas.
-
4
Em coautoria com Eliane Paiva da Rocha.
-
5
Princípio reiterado pela Constituição portuguesa de 1826, como se verá.
-
6
Como o título afirma, trata-se de artigo sobre “direito constitucional de propriedade”. O texto não despreza a riqueza e mesmo a possível preponderância da discussão em torno da posse e da propriedade na esfera do direito internacional, bem mais fragmentado e atrelado a costumes assentados em contextos de guerra, ou, ainda, do chamado direito das gentes (ius gentium), associado à ideia de um direito natural, imanente aos homens e condicionante da relação entre Estado e súditos (HERZOG, 2019, p. 193-195). O recorte feito para a produção deste ensaio, embora não tenha como foco essas tradições jurídicas, entende-as como vitais para a compreensão do direito constitucional luso-brasileiro do século XIX.
-
7
Segundo Márcia Motta, ao comentar o que concebe como longo processo de territorialização da Coroa portuguesa em terras americanas, preencheu o centro desse debate a “[...] busca de um título legítimo, os jogos instaurados pelos esforços de legalização da propriedade, a incorporação legítima de terras pelo sistema de posses e a invasão das áreas de outrem” (MOTTA, 2012, p. 234).
-
8
Eis algumas das disposições iniciais das Bases que consolidam essas noções: “1. A Constituição Política da Nação Portuguesa deve manter a liberdade, segurança e propriedade de todo o cidadão. 2. A liberdade consiste na faculdade que compete a cada um de fazer tudo o que a lei não proíbe. A conservação desta liberdade depende da exata observância das leis. [...] 7. A propriedade é um direito sagrado e inviolável que tem todo o cidadão de dispor à sua vontade de todos os seus bens, segundo a lei. Quando por alguma circunstância de necessidade pública e urgente for preciso que um cidadão seja privado deste direito, deve ser primeiro indenizado pela maneira que as leis estabeleceram” (BASES da Constituição Política da Monarquia Portuguesa, 1821, arts. 1-7) (grifou-se).
-
9
CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1822, art. 2.
-
10
“A propriedade é um direito sagrado e inviolável, que tem qualquer português, de dispor à sua vontade de todos os seus bens, segundo as leis. Quando por alguma razão de necessidade pública, e urgente, for preciso que ele seja privado deste direito, será primeiramente indenizado, na forma que as leis estabelecerem” (CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1822, art. 6).
-
11
O texto constitucional fazia ainda outras duas referências à questão da propriedade: no artigo 13, estabelecia que “[...] os ofícios públicos não são propriedade de pessoa alguma”; já o artigo 159 responsabilizava os secretários de Estado junto às Cortes, caso obrassem “[...] contra a liberdade, segurança, ou propriedade dos cidadãos” (CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1822, arts. 13; 159).
-
12
CONSTITUIÇÃO Política do Império do Brasil, 1824, art. 179.
-
13
Eis as principais disposições do texto constitucional na proteção à propriedade individual, inclusive prevendo uma única exceção a sua plenitude: “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. [...] XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A Lei marcará os casos, em que terá lugar esta única exceção, e dará as regras para se determinar a indenização” (Idem) (grifou-se).
-
14
Sobre as similitudes entre as Constituições de 1824 e 1826, uma discussão mais atual pode ser acompanhada em José Murilo de Carvalho (2018).
-
15
“Art. 145. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Portugueses, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Reino, pela maneira seguinte [...]. § 21. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o Bem Público, legalmente verificado, exigir o uso e emprego da propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A Lei marcará os casos, em que terá lugar esta única exceção, e dará as regras para se determinar a indenização” (CONSTITUIÇÃO Política da Monarquia Portuguesa, 1826, art. 145) (grifou-se).
-
16
Ao longo do ano de 1823, o governo de Dom João VI flertou com a possibilidade de aprovar nova Constituição, fundamentada em projeto de Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, membro da junta de governo. Antonio Manuel Hespanha (1982, p. 78) sustenta que muitos traços do projeto de Morato mantiveram-se na Carta Constitucional de 1826.
-
17
Valentim Alexandre (1993, p. 722) explorou as notícias publicadas pelos jornais Campeão Lisbonense e Gazeta de Portugal, nos últimos meses de 1822, incitando a organização da resistência armada. Os planos incluíam propostas de bloqueio a Pernambuco, reunião de forças militares na Bahia e o bloqueio de parte da costa brasileira. A expectativa do desembarque de tropas portuguesas esteve presente no debate político brasileiro até 1825. André Roberto de Arruda Machado (2006, p. 164-179) cunhou a expressão “esquadras imaginárias” no estudo que desenvolveu sobre essa questão na província do Grão-Pará. A rigor, tais expectativas tinham como substrato a movimentação de autoridades portuguesas como o conde de Palmela, ministro dos negócios estrangeiros, que entre 1823 e 1824 tentou criar as condições para uma reação militar (PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 412; 420-422; CARVALHO, Maria Amália Vaz de. Vida do Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa e Holstein. Lisboa: Imprensa Nacional, 1898, v.1, p. 434-435).
-
18
A instabilidade política provocada pelo episódio forçou o conde de Palmela a abandonar os planos de reaver o Brasil. Cf. Alexandre (1993, p. 761-762). Contudo, até pelo menos junho de 1824, Palmela instruiu o Conde de Vila Real (ministro de Portugal em Londres) a que fizessem acreditar no poderio bélico português, materializado em uma expedição militar que se dirigiria ao Brasil (PALMELLA, 1851, p. 420-422).
-
19
Com base em registro deixado por Mouzinho da Silveira, membro da junta de governo nomeada por D. João VI após o restabelecimento de seus plenos poderes, a junta se manifestou, logo na primeira reunião, a favor do envio imediato ao Rio de Janeiro do conde de Rio Maior, com o objetivo de dar a conhecer ao príncipe que estava “[...] esmagada a facção de Manoel Fernandes, e que Sua Majestade tinha recuperado os seus direitos inauferíveis”, esperando-se por isso que D. Pedro voltasse à “obediência de seu pai”, o que permitiria que tudo regressasse “ao antigo pé”, “[...] ficando o príncipe regendo o Brasil, como parte da monarquia”. Cf. Alexandre (1993, p. 754).
-
20
Resposta de Rio Maior ao ministro Carneiro de Campos, em 19 de setembro de 1823. ARCHIVO Diplomático da Independência. Portugal. Rio de Janeiro: Lith-Typ. Fluminense, 1925, v. VI, p. 30-31
-
21
Um resumo das instruções diplomáticas recebidas por Rio Maior pode ser consultado em Lyra (1925, p. XIII-XIV). Antes, em março de 1823, as Cortes portuguesas refutaram um projeto que aceitava a Independência, excetuado os territórios do Pará, Maranhão e Guiana Portuguesa. De todo modo, esse projeto denota a antecedência da discussão sobre tal possibilidade, só aceita formalmente no campo diplomático em 1825. Sobre o projeto, ver o Diário das Cortes de 13 de março de 1823. Para uma discussão a respeito, ver Alexandre (1993, p. 732).
-
22
PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 366.
-
23
Ibidem, p. 412.
-
24
Secretário britânico de Negócios Estrangeiros. Na edição do texto de Varnhagen (1916, p. 363) aqui utilizada, consta uma nota do IHGB, responsável pela publicação, informando que o autor baseara-se no livro Vida de Jorge Canning, e que uma tradução da obra fora publicada na Revista do Instituto, tomo XXIII.
-
25
BIKER, Julio Firmino Judice. Supplemento a Collecção dos Tratados, Convenções, Contratos e Actos Publicos celebrados entre a Corôa de Portugal e as mais notáveis potências desde 1640. Lisboa: Imprensa Nacional, 1880, t. XXII, p. 195. Esses artigos compuseram o Projecto de Tratado de reconciliação e amizade entre Portugal e o Brasil, apresentado por Mr. Canning na terceira conferência dos Plenipotenciários em Londres, em 9 de agosto de 1824.
-
26
Oliveira Lima (1901, p. 130) informa que Vila Real apresentou formalmente a proposta ao Foreign Office, em 11 de novembro de 1824.
-
27
PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 487.
-
28
Ministro de Portugal na Espanha.
-
29
PALMELLA, Duque de. Despachos e correspondência do Duque de Palmela. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851, t. I. Coligidos e publicados por J. J. dos Reis e Vasconcelos, p. 265.
-
30
Ibidem, p. 280.
-
31
Para a atuação de Cochrane nas costas brasileira e portuguesa naquele momento, ver Vale (2002).
-
32
Não é propósito deste texto enveredar pelo trabalho da Comissão, mas cabe registrar que foram recebidas 509 reclamações. Não por acaso, mais de 80% tiveram como origem as províncias do Norte. Em 31 de outubro de 1836, os comissários registraram que: “[...] a soma de todas as reclamações de súditos portugueses por prejuízos e extorsões feitas pelo almirante brasileiro Lord Cochrane, e apresentadas em tempo, montam 243:221$917” (ARQUIVO Nacional da Torre do Tombo. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Livro 46A). Para a praça do Maranhão, o próprio Cochrane produziu estimativa, em 1859, sobre as apreensões de mercadorias e navios (COCHRANE, 2003, p. 114). Sobre esse elevado percentual de reclamações radicadas no Norte, Gladys Sabina Ribeiro (2007) observou que, para além das guerras travadas na região, ele se justifica pelo fato de, no Rio de Janeiro, ter se instituído ainda em 1822 o Juizado dos Sequestros de Bens de Portugueses, que recebeu quase que exclusivamente reclamações radicadas no Rio de Janeiro. Nas palavras da autora: “Já no Norte e no Nordeste os sequestrados tiveram que aguardar a paz e o estabelecimento da comissão própria para obter indenizações ou ver solucionados seus pedidos de levantamento de sequestros” (2007, p. 402).
-
33
Stuart chegou ao Rio de Janeiro em 17 de julho. Para as instruções recebidas por Stuart, sobre os princípios que deveriam nortear o Tratado, ver Lyra (1925, p. XXII).
-
34
Esse ponto não foi incorporado ao texto do Tratado, mas foi objeto de diversas reclamações à Comissão Mista. Voltaremos ao tema.
-
35
ARCHIVO Diplomático da Independência. Portugal. Rio de Janeiro: Lith-Typ. Fluminense, 1925, v. VI, p. 125. Cf. Livro de Registro de Protocolos. Rio, 25 jul. a 29 ago. 1825.
-
36
Ibidem, p. 75-87.
-
37
Ibidem, p. 87. Minuta do secretário Luiz Mouttinho, em 1 de agosto de 1825. No texto do Tratado, a cessão das hostilidades aparece de algum modo, em dois momentos: no preambulo, ao manifestar o desejo de “[...] restabelecer a Paz, Amizade, e boa harmonia entre Povos Irmãos [...]”; e no artigo 4º, em que valores como “Paz e Aliança” e “perfeita amizade”, vinculam-se ao “[...] total esquecimento das desavenças passadas entre os povos respectivos”.
-
38
Ibidem, p. 96. Apontamento de Luiz Mouttinho.
-
39
São muitos os balanços historiográficos que transparecem a centralidade do tema para a historiografia brasileira. Apenas como exemplo, ver Costa (2005).
-
40
Referimo-nos aos importantes estudos desenvolvidos a partir de Guerra (1992), Jancsó (2005) e Pimenta (2017).
-
Os resultados de pesquisa apresentados nesse artigo contaram com recursos do CNPq(Universal, processo 407102/2018-3) e da FAPEMA (IECT, processo 2586/2017, vinculado ao INCT Proprietas).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
25 Nov 2022 -
Data do Fascículo
Sep-Dec 2022
Histórico
-
Recebido
28 Out 2020 -
Aceito
02 Jul 2021