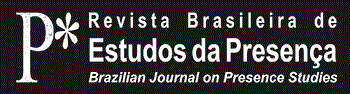RESUMO
Este artigo apresenta uma discussão sobre gênero a partir das noções de performance e performatividade, buscando tecer relações desses termos com a arte e o campo educacional. Persegue a ideia de uma pedagogia feminista performativa, desempenhada pelo corpo (auto)biografado, em performances artísticas desenvolvidas por mulheres, envolvendo a questão de gênero, mais especificamente as performances Facial Hair Transplante (1972) e Rape Scene (1973), da artista cubana Ana Mendieta. Apoiado por pesquisadores de múltiplas áreas, este estudo pretende contribuir criticamente com a área da educação, redefinindo a prática educativa desde um princípio estético e de gênero, oferecendo reflexões sobre a produção da diferença.
Palavras-chave:
Performance art; Performatividade; Gênero; Educação; Feminismo
RÉSUMÉ
Cet article présente une discussion sur le genre basée sur les notions de performance et de performativité, cherchant à tisser des relations entre ces termes avec l'art et le domaine éducatif. Elle poursuit l'idée d'une pédagogie féministe performative, interprétée par le corps (auto)biographique, dans des performances artistiques développées par des femmes, impliquant la question du genre, plus précisément les performances Facial Hair Transplants (1972) et Rape Scene (1973), de l'artiste cubaine Ana Mendieta. Soutenue par des chercheurs de multiples domaines, cette étude vise à apporter une contribution critique au domaine de l'éducation, en redéfinissant lapratique éducative à partir d'un principe esthétique et de genre, en proposant des réflexions sur la production de différence.
Mots-clés:
Art de la performance; Performativité; Genre; Éducation; Féminisme
ABSTRACT
This article presents a discussion about gender based on the notions of performance and performativity, seeking to weave relationships between these terms with art and the educational field. It pursues the idea of a performative feminist pedagogy, performed by the (auto)biographed body, in artistic performances developed by women, involving the issue of gender, more specifically the performances Facial Hair Transplants (1972) and Rape Scene (1973), by the Cuban artist Ana Mendieta. Supported by researchers from multiple areas, this study aims to critically contribute to the area of education, redefining educational practice from an aesthetic and gender principle, offering reflections on the production of difference.
Keywords:
Performance art; Performativity; Gender; Education; Feminism
Como uma linguagem artística contemporânea1 1 A linguagem da arte da performance é extremamente recente, algo em torno de 70 anos. É tão recentemente contemporânea que muitos dos seus pioneiros ainda estão vivos. De modo que se pode pensar que é uma linguagem que ainda está se fazendo. Importante destacar aqui que performance, enquanto linguagem, dá-se no campo das artes, pois não há uma língua gramatical no campo da semiótica, ainda que possa se-rlhe atribuído um sentido performativo, mas que, ainda assim, não é uma linguagem, mas um modo de operação da língua falada e escrita. , a performance se apresenta como um campo ainda fértil de estudos e possibilidades. As pesquisas que unem os campos de atuação performance, feminismo e educação – a despeito das crescentes publicações realizadas nos últimos dez anos, em solo brasileiro –, são ainda incipientes, com muitas delas em curso2 2 Na pesquisa da qual este artigo é um recorte, são mencionados alguns estudos que, apesar de não partirem diretamente de programas da educação, desenvolvem suas pesquisas na interlocução entre performance, educação e feminismo, ainda que com outras abordagens, como por exemplo a pesquisa intitulada A docência como uma performance feminista, desenvolvida por Erika Cecília Soares Oliveira (2020). Em sua pesquisa, Oliveira partiu dos feminismos subalternos para analisar a performance de professoras em sala de aula. Também numa perspectiva antropológica da performance, porém incorporando o olhar artístico em diálogo com a educação, destaca-se a pesquisa de doutorado em andamento Performance é Corpo/ A Crise é do Corpo: Estudos sobre Performance, Educação e Corpo em Pandemia, desenvolvida por Estela Vale Villegas (2019), no Programa de Pósgraduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). , tal como esta escrita3 3 Tratase de um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento que persegue a ideia de uma pedagogia feminista performativa, desempenhada pelo Corpo (Auto)Biografado. , que procura pensar as possibilidades e relações de uma pedagogia feminista performativa pela via da performance, em particular, por meio dos trabalhos Facial Hair Transplant (1972) e Rape Scene (1973), da artista cubana Ana Mendieta. O presente estudo toma como base a noção de Corpo (auto)biografado, que aqui opera como um eixo narrativo das experiências de ser/ter um corpo mulher e de uma linguagem pautada pela singularidade a ser explorada. A noção de Corpo (auto)biografado, referese à ideia de que o corpo de uma pessoa é uma expressão de sua história pessoal e de suas experiências de vida. Nesse contexto, o corpo é entendido como um texto que, por meio de sua performance, narra uma experiência, uma história, carregando consigo as marcas e vivências de uma pessoa individual, mas que pode ser estendida de igual modo a uma coletividade.
Pretendese, pois, nesta perspectiva, atualizar criticamente o conhecimento em seus entrelugares, no caso performance/educação/feminismo, que aqui neste artigo estão conectados pelos termos performance e performatividade, tomados como operadores teóricos de um conhecimento incorporado para pensar a questão de gênero. Ademais, ao enfocar o feminismo4 4 Sabemos que o feminismo é plural, assim como bem o sabem as autoras citadas e que usam o termo no singular (como optamos aqui por também fazê-lo), por se dirigirem a uma categoria: o feminismo. Isso não implica desconhecer que internamente essa categoria é subdividida, fundamentalmente, em: feminismo cultural, representativo, negro, radical, trans, etc. como categoria de análise na educação, propõese o desenvolvimento de pesquisa crítica sobre a produção das diferenças, que envolve identidade de gênero em associação com outros marcadores sociais como raça e classe.
Apesar de sustentar múltiplos significados, feminismo pode ser compreendido fundamentalmente como uma luta contra a supremacia do patriarcado. Aqui, vale ressaltar que o patriarcado é um sistema político, econômico, simbólico, prático, linguístico, financeiro, religioso e cultural, de dominação dos homens sobre as mulheres. Essa dimensão se reflete na esfera da política, na esfera do direito, na esfera da justiça e no nosso cotidiano, que é a esfera da ética. Para Márcia Tiburi (2018), pensar o feminismo é muito mais do que simplesmente deixar-se levar por um impulso indignado, um modismo atual; ele precisa ser pensado e retirado do plano teórico e transformado em “ação ético-política responsável” (Tiburi, 2018, p. 09). Caso não seja pensado dessa maneira, o feminismo se manterá apenas no imaginário moral de alguns indivíduos, incapaz de produzir mudanças significativas, tornando-se ao fim e ao cabo um ideal estagnado. Com efeito, em seu livro Feminismo em comum: para todas, todes e todos (2018), Márcia Tiburi inicia suas considerações questionando: por que há pessoas que temem o feminismo? A despeito da dificuldade em definir a extensão do problema, a pesquisadora feminista bell hooks (2018), que compartilha desse questionamento lançado pela Tiburi (2018), ensaia uma possível resposta à essa pergunta.
A tendência é eu ouvir tudo sobre a maldade do feminismo e as feministas más: ‘elas’ odeiam homens; ‘elas’ querem ir contra a natureza (e deus); * todas ‘elas’ são lésbicas; ‘elas’ estão roubando empregos e tornando difícil a vida de homens brancos, que não têm a menor chance (hooks, 2018, p. 12).
No possível diálogo imaginário entre Márcia Tiburi e bell hooks, emerge algo que presumivelmente qualquer um/a de nós já testemunhou, ou seja, a misoginia dirigida à mulher e consequentemente ao feminismo. Uma misoginia que até o presente momento tem sido endossada pela cultura do patriarcado5 5 Tal como acima mencionado e largamente explorado pelas autoras ao longo da tese, em sua multiplicidade de acepções, aqui ressaltase um “conceito” disponível na plataforma de busca politize, na qual Patriarcado designa um sistema social em que homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da família, o pai (ou figura paterna) mantém a autoridade sobre as mulheres e as crianças. Na sociedade patriarcal, prevalecem as relações de poder e domí-nio dos homens sobre as mulheres e todos os demais sujeitos que não se encaixam com o padrão considerado normativo de raça, gênero e orientação sexual. Fonte: https://www.politize.com.br/patriarcado/. Acesso em: 03 dez. 2023. , a qual durante muito tempo não encontrou barreiras para se sustentar. Tal razão, muito provavelmente, pode ser encontrada no fato de que até recentemente a questão do feminismo não figurou como um problema a ser discutido, ao menos não categoricamente, no âmbito educacional formal. Atualmente, o direito à educação para a igualdade de gênero, raça e orientação sexual, assim como identidade de gênero, tem base legal na Constituição Brasileira (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) (Brasil, 1996), nas Diretrizes Nacionais de Educação e Diversidade, nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (art. 16), elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, e na Lei Maria da Penha (2006)6 6 Esse direito à educação também está previsto nos tratados internacionais de direitos humanos com peso de lei, dos quais o Brasil é signatário: a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989), a Convenção Relativa à Luta contra a Discrimina-ção no Campo do Ensino (1960), a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1968) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), entre outros. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/wpcontent/uploads/2016/09/folder_direitoigualdadegener oescola_semmarcas.pdf. Acesso em: 03 dez. 2023. . Como consabido, à revelia do previsto em lei, tais direitos foram alvo no último governo anterior7 7 Sob a batuta de Jair Bolsonaro, a discussão sobre gênero foi extirpada mais uma vez do currículo, sendo substituída por educação fiscal, disciplinar e cidadã, entre outras medidas curriculares, mais alinhadas ao seu projeto político, de fundamentação conservadora e neoliberal – o qual já vinha sendo implantado desde o golpe de 2016. , restringindo mais uma vez sua presença nas escolas. Além de restringir a aplicação efetiva de tais leis, elas foram novamente questionadas pelo ex-governo, com consequências para o atual governo, que precisa restaurar a legitimidade de tais leis.
Feminismo e educação
A despeito dos desmandos governamentais, questões críticas e históricas do feminismo se inserem nas discussões contemporâneas da educação nas reflexões sobre gênero. Essas discussões envolvem outras categorias de análise para além das mulheres, preservando o “olhar para a diferença”, e vêm trazendo novas perspectivas para discutir o papel da escola na reflexão contemporânea desses conflitos. Pois, desde o lançamento da clássica obra O Segundo Sexo (1949), de Simone de Beauvoir, evocar o feminismo envolve olhar para o outro, no caso, a mulher como o outro do homem. Em tempo, vale destacar que a condição de ser o ‘outro’ do homem assim o é visto por conta de uma sociedade que define o ‘normal’ como sendo o ser homem, cisgênero8 8 Cisgênero é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu. Dicionário Online de Português. https://www.dicio.com.br. Acesso em: 03 dez. /2022. , heteronormativo9 9 Referese à heteronormatividade, ao conceito de que apenas os relacionamentos entre pessoas de sexos opostos ou heterossexuais são normais ou corretos; que enxerga a heterossexualidade como a norma numa sociedade. Dicionário Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br. Acesso em: 03 dez. 2023. , etc. Dentro dessa política da diferen-ça (do que difere da “norma”), abremse, aventamse práticas libertadoras e de inclusão das ditas minorias (minorias não em número, mas em postos de decisão), nas quais as desigualdades de gênero se circunscrevem.
Não provoca surpresa, portanto, que uma das principais questões pautadas pelos estudos feministas seja justamente a “ordem binária”. Chamamos, pois, de ordem binária a distinção sexual macho/fêmea, estendida à sexualidade e ao gênero. Há, nessa perspectiva, uma contínua confusão entre biologianaturezaidentidade, uma vez que a ordem do patriarcado prega uma similitude instantânea da anatomia biológica do sexo à identidade da pessoa. Além do mais, sabese que tal modelo binário não condiz com as representações identitárias que podem ser encontradas no meio social, mas que, entretanto, sustenta argumentos biológicos e culturais da desigualdade. Desde seus primeiros livros, no incipiente cenário de estudos sobre gênero e educação no Brasil, a professora Guacira Lopes Louro (1997) argumenta que essa extensão irreflexiva do sexo às identidades devese a uma visão dicotômica, o que significaria pensar em termos como: “feminino em oposi-ção ao masculino; razão/sentimento; teoria/prática; público/privado, etc.”, (Louro, 1997, p. 8). No entendimento da autora, tal visão foi construída sob uma ordem maniqueísta do mundo, que tem o masculino como referencial, pautada por um argumento biológico que mascara as representações sociais das identidades dos sujeitos.
É difícil, portanto, ignorar, tal como outrora dito pela curadora argentina da 7° Bienal de Artes Visuais do Mercosul (2009), Victoria Noorthoorn, em palestra proferida para mediadores, que no âmbito da arte “há muitos matizes entre o preto e o branco ... e distintos tons de griz”. A arte contemporânea destrói qualquer possível dicotomia e atesta que nada é “natural”, pois que em tudo se apresenta o recorte de um olhar e/ou da mão humana – e que pode ser visto sob múltiplas dimensões, logo tudo seria cultura.
No que se refere às identidades de gênero, essa lição pode ser muito bem aproveitada, uma vez que nada vem pronto ou é “natural”, de modo que não se pode pré-definir como isso ou aquilo. Na verdade, o descentramento do sujeito, uma das marcas do que se convencionou chamar de pósmodernidade, parte do pressuposto de que as identidades não são fixas, mas construídas e desconstruídas. Portanto, definir a identidade de gênero, a partir de uma chave maniqueísta, torna-se uma fantasia que só se pode acolher como provisória. Desde a célebre máxima de Beauvoir, sabemos que uma mulher não nasce mulher por conta de uma similitude anatômica, dada pelo biológico, que a situa como como fêmea, e sim que esse ser se torna mulher por conta de modos culturais que são sistematicamente aprendidos, e que vão se refazendo e se atualizando ao longo da vida – o mesmo ocorre com os homens heteros, gays, trans, e outras chamadas identidades dissidentes.
Não é à toa que o tema ‘gênero’ esteja causando tanto desentendimento, e até mesmo surtos morais e políticos fundamentalistas e autoritários. ‘Gênero’ é um termo usado para analisar os papéis ‘masculino’ e ‘feminino’ que se tornaram hegemônicos [...] Isso quer dizer que somos construídos no tempo e nossa sexualidade é altamente plástica como é a nossa alimentação, a nossa corporeidade, a nossa espiritualidade, a nossa imagem, a nossa linguagem, a sociedade em que vivemos e, por isso mesmo, pode ser modificada em muitos sentidos (Tiburi, 2018, p. 28).
Ou seja, não se nasce mulher ou homem, aprendese, por meio da cultura, a representar esses papéis, que não estão prontos, que são culturalmente contingentes e que se constroem e se diluem continuamente. Pois, como afirma Silva e Lara (2023, p. 1), reconhecer uma mulher é reconhecer a construção cultural que antecede a sua singularidade. Daí nosso compromisso em discutir essas identidades, problematizar dicotomias e questionar uma ordem binária que insiste na cristalização de identidades como forma de controle. Conforme a professora Guacira Lopes Louro (1997), devemos considerar que essa dicotomia é demasiado simplista e pulveriza uma série de outras análises que são importantes e devem ser consideradas.
Os sujeitos que constituem a dicotomia não são, de fato, apenas homens e mulheres, mas homens e mulheres de diferentes classes, raças, religiões, idades, etc., e suas solidariedades e antagonismos podem provocar os arranjos mais diversos perturbando a noção simplista e reduzida de homem dominante e mulher dominada (Louro, 1997, p. 4-5).
Significa dizer que quando consideramos as categorias interseccionais10 10 A interseccionalidade trata especificamente da forma como patriarcado, racismo, entre outros marcadores sociais, sobrepõemse quando são utilizados de forma a desempoderar alguém. Ou seja, há uma subordinação interseccional (gênero, etnia, classe, etc.), que discute aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento, que trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem através de tais eixos, de modo conjunto (Creenshaw, 2002, p. 171-188). , as relações são muito mais dinâmicas do que o que se poderia pensar a priori, por exemplo, apenas na relação homem opressor, mulher dominada. Numa perspectiva plural, essa relação pode ser invertida, quando colocamos, por exemplo, uma mulher dona de um negócio que contrata um homem para trabalhar para ela, então, de alguma forma, ela tem poder sobre ele. Dito de outro modo, significa que há uma diluição do poder na sociedade, que não se dá apenas na relação homem superior e mulher subalterna, visto que, quando introduzimos outras categorias de análise, esse arranjo pode mudar. Isso significa que uma mulher pode exercer seu poder sobre outro homem ou outra mulher, a depender do seu lugar social. Desde Foucault (1979), com efeito, sabemos que o poder está diluído e se exerce em vários ângulos, que se dilui nas microrrelações, inclusive em sala de aula.
Por outro lado, é importante perceber que análises que pulverizam uma visão dicotômica referem-se à observação sobre quem é diferente. E, se considerarmos a participação da escola na produção dessas diferenças, a discussão se estende a diversos matizes identitários, trazendo também o aporte dos Estudos Culturais, dos Estudos Negros, dos Estudos Gays e Lésbicos. No que se refere ao gênero, um olhar dicotômico apregoa que o homem se coloca num polo em oposição a outro polo, a mulher. Entretanto, é importante destacar que há muitas mulheres diferentes entre si, ou seja, de muitas cores, etnias, classes sociais, visões de mundo, assim como há distintos homens e com suas diferentes maneiras de ser. Isso implica num olhar sobre gênero que não pode se eximir de desconstruir sua polarização dicotômica, que se sustenta no que aqui concebemos como de ordem binária, e problematizar a multiplicidade de identidades no interior de cada polo.
Gênero, como categoria de análise das identidades, emerge dos estudos feministas, produzido por teóricas acadêmicas que refletiram tal questão desde a efervescência ocorrida nas ruas nos idos de 1960, quando o movimento feminista ingressa na chamada Segunda Onda. Ao abordar gênero em seu livro Gênero, sexualidade e educação, a professora Guacira Lopes Louro (1997) chama atenção para a produção das teóricas acadêmicas feministas estadunidenses, especialmente Judith Butler, cujas reflexões Guacira Louro introduziu no Brasil para o campo da educação.
A partir dos estudos feministas, gênero vem a designar um papel social ao qual um determinado corpo é submetido, que se relaciona com sexo e sexualidade, que, por sua vez, são construídos discursivamente. Uma distinção importante que as teorias feministas denunciam e que é evidenciado por Judith Butler11 11 Judith Butler é uma das principais referências na discussão de gênero e teoria queer na contemporaneidade, autora de diversos livros sobre o tema. Doutora em Filosofia pela Universidade de Yale, atualmente é professora de Retórica e Literatura comparada na Universidade da Califórnia, em Berkeley, esteve no Brasil em mais de uma ocasião. Na última vez foi em São Paulo, por ocasião do lançamento de seu livro Caminhos divergentes: judaicidade e crítica do sionismo, editora Boitempo, momento em que, infelizmente, a pensadora foi atacada mais uma vez, por pessoas que diziam “a revolução familiar chegou” (Judith... 2017). (2003), é que “sexo”, “gênero” e alguns aspectos da “sexualidade” são uma construção cultural, que se resolvem a partir de prioridades masculinas e heteronormativas. Para Butler (2003), somos controlados social e domesticamente desde que fomos “generificados”. Em seu livro Problemas de Gênero12 12 Um dos livros mais importantes da teoria feminista, dos estudos de género e da teoria queer, foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2003. Originalmente, o livro foi publicado no ano de 1990, sob o título: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. , Butler (2003) introduz uma outra noção de gênero, um pouco mais complexa, que se refere à noção de performatividade. Segundo a autora, o gênero é construído performativamente, por meio de ações reiteradas, que algumas vezes é traduzida como repetida, gerando um equívoco interpretativo.
O gênero é a estilização reiterada do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser (Butler, 2003, p. 59).
Butler salienta que não há uma matriz a ser copiada, por isso não se trata apenas de uma simples repetição. Podemos perceber essa mesma rela-ção quando pensamos, por exemplo, em uma drag queen. Segundo o dicionário13 13 Disponível em: https://languages.oup.com/google-dictionarypt/. Acesso em: 01 dez. 2022. , drag queen remete ao homem que se veste com roupas extravagantes, tradicionalmente associadas à mulher, que imita voz e trejeitos tipicamente femininos, apresentando-se como artista em shows etc. Caso qualquer um de nós queira representar esse “papel”, não há por certo um “modelo” a ser copiado, mas um “discurso” e um conjunto de gestos, construí-dos pela cultura, que se faz possível reiterar, trazer à vida performativamente, ou seja, por meio do corpo, de modo então que esses gestos, reiterados/ “repetidos” ou performados criem gêneros. O mesmo acontece com outros papéis e gêneros identitários, como o papel de mãe, filho, professor, lésbica, advogado, etc.
Estudiosas de gênero afirmam que não é possível fixar um momento que possa ser tomado como aquele em que a identidade sexual e/ou a identidade de gênero seja estabelecida, como no nascimento, por exemplo. Isso implica que nenhuma identidade sexual – mesmo a mais normativa – é automática, autêntica, facilmente assumida (Louro, 1997, p. 27). Quer dizer, nenhuma identidade sexual existe sem negociação ou construção. Isso porque, da mesma forma que não existe um “modelo fixo” de identidade drag queen, não há uma identidade heterossexual lá fora, fixa, acabada, esperando para ser assumida, e, da mesma forma, inexiste uma identidade homossexual pronta. Aqui, mais uma vez, vale lembrar que não se nasce mulher ou homem, mas que nos tornamos (isso ou aquilo), num processo contínuo ao longo de todos os acontecimentos que invariavelmente vão formando nossa identidade, inclusive a de sexo.
Desde o descentramento do sujeito, como uma marca da passagem para a pósmodernidade, as identidades estão sempre se constituindo. Ou seja, toda identidade é um constructo instável, mutável e volátil, uma relação social contraditória e não finalizada e, portanto, passível de transformação, inclusive a identidade de sexo. O próprio conceito de ‘sexo’ é um terreno problemático, pois, como afirma Butler (2019), ele é formado por uma série de contestações sobre o que deveria ser critério decisivo para a distinção entre os dois sexos. Em Corpos que importam, de 2019, a filósofa revê especialmente o conceito de performatividade e da teoria queer, abordados em Gender Trouble, e evidencia como esse constructo se forma.
O conceito de sexo tem uma história que é coberta pela figura do lugar ou da superfície de inscrição, que se dá numa “materialidade”, que se constrói performativamente, a partir de uma “citação” reconhecida, ou de um enunciado “codificado”. Ao se perguntar se há como vincular a materialidade do corpo à performatividade de gênero, Butler (2019) coloca que a diferença dos sexos é invocada como uma diferença material; diferenças essas formadas por práticas discursivas. Já a categoria “sexo” seria, no entendimento da pensadora, algo de ordem normativa, pois adviria de um “ideal regulatório”. Sendo assim, sexo remontaria a uma prática regulatória que se produz nos corpos que governa e, também, uma norma. Esse poder produtivo demarca, circula e diferencia os corpos que controla. “Materializar” a norma no corpo performativamente não se trata de assumir uma máscara, mas assumir uma matriz das relações de gênero que é anterior ao surgimento do ‘humano’, ao mesmo tempo que é produzida por ele, por meio da cultura.
Essa discussão é fundamental para aos estudos feministas, uma vez que é por meio dessa construção cultural, produzida pela linguagem e pela performatividade dos corpos, que a subjetivação da “norma” de gênero se estabelece. Pois, a formação do sujeito requer uma identificação com o “fantasma do sexo”. Todos os que não se encaixam nessa norma são tidos como anormais, “abjetos”, designados para zonas “nãovivíveis”, num corpo “inabitá-vel”. E isso gera problemas14 14 Os primeiros problemas são os psicológicos, que afetam os sujeitos em forma-ção que escapam da norma. Problemas para os quais a própria autora busca respostas nas teorias de vários psicólogos, especialmente Lacan, bem como de diversos filósofos, particularmente Derrida, ambos nesse último livro que trata da linguagem e a performatividade da língua, ao refletir sobre “os limites da discursividade de gênero”. muito concretos na nossa sociedade, como, por exemplo, a empregabilidade de mulheres e homens transexuais. Todavia, para além da empregabilidade, que gera vida digna por oferecer emprego e renda, há toda uma barreira cultural que nega a inserção dessas pessoas no meio social. Por outro lado, é pela via da norma de gênero que o discurso patriarcal marca e controla os corpos, exercendo seu domínio sobre as mulheres, bem como de outras identidades consideradas dissidentes. Por isso, fazse necessário romper com abordagens dicotômicas que excluem e negam a vida de muitas pessoas, lembrando como já mencionado que, entre o preto e o branco, existem diversos matizes de cinza.
Feminismo e arte da performance
O movimento feminista e a arte da performance emergem do mesmo caldo cultural que colocou nas ruas gays, negros, entre outros grupos sociais chamados de minorias, na luta por direitos civis, na efervescente segunda metade do séc. XX. Nesse mesmo período, entre as décadas de 1960 e 1970, desponta a performance artística, que se coloca como um novo modo de fazer arte, fortemente ancorada na realidade do mundo vivido (arte e vida), envolvendo questões sociais e políticas. Podemos perceber uma intrínseca relação dos percursos históricos traçados pela performance artística e pelo movimento feminista, quando adentramos nesses campos de atuação, particularmente nos Estados Unidos, a partir da década de 197015 15 Recentemente lançado pela Netflix, o documentário chamado: Feministas: O Que Elas Estavam Pensando (Feminists: What Were They Thinking?), de 2018, mergulha na luta das mulheres nesse período da década de 1970, por meio de fotografias que captam o despertar do feminismo. Imagens que falam de momentos de dificuldade, restrição e enfrentamento. Judy Chicago é uma das fotografadas e fala, atualmente, um pouco sobre si mesma nesse período, bem como do contexto de efervescência política daquele tempo, a partir do registro fotográfico. Também podemos acompanhar Jane Fonda, Lily Tomlin e Michelle Phillips compartilhando suas histórias e seu envolvimento com a pauta feminista, nesse documentário de Johanna Demetrakas. . Desde então, essa relação tem proporcionado mútuas contribuições para ambos os campos, além de novas perspectivas. Dee Heddon (2006) afirma que há, entre a performance artística e o movimento feminista, uma relação simbiótica, por vezes controversa, mas que nem sempre recebe adequada atenção e sistematização.
O lançamento da revista Women & Performance: a journal of feminist theory, em 1983, é uma das evidências do profícuo diálogo entre artistas da performance e acadêmicas feministas. Jill Dolan16 16 Atualmente reitora da Universidade de Princeton, Dolan é especialista em Teatro e Performance Feminista e queer, americana contemporânea. Ela atuou por seis anos como diretora do Programa de Estudos de Gênero e Sexualidade de Princeton e é docente afiliada do Programa de Estudos Americanos. , no editorial de inaugura-ção, apresenta a publicação como uma ferramenta que permite, a performers e acadêmicas, desafiar o isolamento da voz das mulheres, retirandoas do esquecimento por parte dos media.
As maneiras estabelecidas de estudo e apresentação do trabalho criativo nos permite desafiar continuamente a maneira pela qual fomos ensinadas a olhar para nós próprias e para os outros ... [este jornal constitui] uma ferramenta ... [conferindo uma voz] mais alta, mais articulada […] na cultura [e testemunhando o] legado da criatividade feminina, enquanto moldadoras de performance, inventoras de significado, criadoras de cultura (Dolan, 1983, p. 3, nossa tradução).
Essa tendência rapidamente contagiará o Women and Theatre Program da American Theatre Association, que passa a manifestar preocupações mais teóricas e feministas, desenvolvendo uma profícua relação com a Women & Performance (Blair, 1989). Como bem destaca RoseLee Goldberg (2009), influenciada pelos escritos de Harold Rosenberg, o alcance político e potencial transgressor, bem como símbolo de resistência associado às primeiras performances artísticas das décadas de 1960/1970, ainda hoje geram fascí-nio. Ao mesmo tempo, a continuidade dessa relação entre performers e teó-ricas do feminismo, como fonte de resistência ao patriarcado, segue renovando o interesse no poder transformador da performance (Dolan, 2005; 2007; Fischer-Lichte, 2008).
A atualidade do alcance político e potencial transgressor17 17 Tal como pudemos perceber na exposição Mulheres Radicais, realizada na Pinacoteca de São Paulo, em 2018, com performances da década de 1960 a 1985, numa extensa pesquisa de 10 anos de suas curadoras. Ana Mendieta e a performance Facial Hair Transplant (1972), aqui apresentadas, ainda que talvez não pareçam tão transgressoras aos olhos contemporâneos quanto representaram no período, fizeram parte dessa exposição, junto a outros trabalhos da artista. dessas performances da década de 1970, podem ser percebidas no corpo (auto)biografado da artista cubana Ana Mendieta, uma das pessoas mais importantes para pensarmos a performance e o feminino na arte. Ela foi enviada para os Estados Unidos aos 12 anos de idade, em 1961, na operação Peter Pan (Diniz, 2020), promovida pelos EUA para salvar as crianças cubanas do comunismo, após a revolução promovida por Fidel Castro. Mendieta se autodeclarava feminista e queria usar o próprio corpo para refletir sobre questões de gênero e de identidade multicultural. A partir de 1978, Ana Mendieta integrou o Artists In Residence Inc, a primeira galeria para mulheres nos EUA, e, a partir de então, fez diversos contatos com outras artistas de vanguarda do movimento de arte feminista, em ascensão. Esses mesmos contatos fizeram com que Mendieta percebesse e declarasse que: “o feminismo americano, como está, é basicamente um movimento da classe média branca”18 18 Conforme o blog: https://citaliarestauro.com/o-que-aconteceu-com-anamendieta/. Acesso em: 03 dez. 2022. .
No campo da política, a década de 1970 foi um período em que mulheres, negros e pessoas LGBTs19 19 Atualmente, essa sigla cresceu e segue aberta (+) a novas identificações, encontrandose hoje como: LGBTQIAPN+, representando Lésbicas - Gays-Bisexuais – Transexuais – Queer – Intersexo – Assexual + Pansexual - Neutro. Lembrando que o “L” de lésbicas vem primeiro, porque esses conceitos e um pensamento sobre gênero e suas diferenças emergem dos estudos feministas. Ver: https://orientando.org/o-que-significa-lgbtqiap/. Acesso em: 03 dez. 2022. – grupos historicamente oprimidos – passaram a promover grandes levantes por igualdade de direitos, questionando sua diferença da norma, ou seja, sua abjeção. A obra de Ana Mendieta é permeada e manifesta desse contexto cultural no qual a artista esteve inserida. A despeito das diferenças, Mendieta sai da condição de “musa” – historicamente destinada às mulheres na arte –, e se coloca como sujeito de suas obras. Em contato com a efervescência artística e política desse momento, a Universidade de Iowa, onde a artista estudava Artes plásticas, promovia uma imersão de um novo modo do fazer artístico que se utilizava do corpo, e também na exploração de seus limites, a performance, que nesse primeiro momento era pensada como uma experiência efêmera. Quer dizer, nesse tempo, dentro de um histórico que questionou a arte e o objeto de arte caminhando para o conceitualismo, muitos artistas privilegiavam o acontecimento como uma experiência, em detrimento do objeto de arte – de modo que, na perspectiva do Performance Studies (NYU), o que acessamos dos seus trabalhos foi o que permaneceu como registro de arquivo.
Facial Hair Transplants
Nessa performance, originalmente Sem Título (Untitled), conhecida como Facial hair transplant (1972), em português “Transplante de pelo facial”, Ana Mendieta coloca em si mesma pedaços de barba de um amigo20 20 Na época, um de seus professores no curso de mestrado em Artes. e cola no seu rosto. Constituída de um conjunto de sete fotografias, essa performance provoca a discussão sobre os papéis de gênero. Com uma materialidade gerada pelo próprio corpo, os pelos, a artista explora autotransforma-ções, expandindo seu corpo a um patamar poético ao mesmo tempo que político, configurando um corpo (auto)biografado, que promove uma pedagogia feminista performativa a partir dos múltiplos sentidos que gera. Ao ativar uma concepção cultural do corpo, a artista destaca o fato de que as classificações sexuais são convenções sociais que, tal como mencionado anteriormente por Judith Butler (2003; 2019), enquadram e sobredeterminam as identidades de gênero, definindo sua sexualidade. Quando Mendieta encenou uma identificação sexual mutante, a artista problematizou as classifica-ções que diferenciam o feminino do masculino, ao mesmo tempo, rompeu com os modelos normativos de beleza feminina pelos quais a sociedade opera. Além de explorar possibilidades de identidades, ela questiona e busca a própria identidade, entre outras leituras possíveis, como se pode observar nas Figuras 1 e 221 21 Disponíveis em: https://www.artistaslatinas.com.br/artistas-1/ana-mendieta. Acesso em: 03 dez. 2022. .
Ana Mendieta, registro fotográfico da Série Facial hair transplant. Fonte: Acervo dos autores.
Ana Mendieta, registro fotográfico da Série Facial hair transplant. Fonte: Acervo dos autores.
Rape Scene
Entre os trabalhos com temática feminista realizados por Ana Mendieta está Rape Scene (1973), onde ela recriou uma cena na qual se fez vítima imaginária de uma violação, após ficar sabendo que uma colega da Universidade de Iowa havia sido estuprada e morta no campus onde estudava. Para essa performance, Ana Mendieta chamou os colegas para uma exposição na sua casa. Antes de eles chegarem, ela bagunçou tudo, simulando uma invasão, e deixou a porta aberta. Tirou parte da roupa, virou sangue22 22 Sangue que ela vinha utilizando em pinturas e também na realização de outros experimentos em performance. de animal sobre o corpo, amarrou as mãos e se deitou sobre a mesa, ficando imóvel por uma hora.
A performance evidencia essa violência que é sofrida pelo corpo fêmea desde seus primórdios. Entretanto, lamentavelmente, segue sendo bastante presente nos dias atuais23 23 No início do ano de 2023, estourou na mídia um outro aspecto da atual guerra entre a Rússia e Ucrânia, na qual uma médica combatente ucraniana denunciou que os soldados russos estavam, dentre outros crimes de guerra, estuprando as mulheres – inclusive mulheres crianças, engravidando algumas delas, e segundo os agressores eles têm o intuito de, assim, “expandir o império russo” (Gryzinski, 2023). , pois diariamente podem ser encontradas matérias jornalísticas que procuram relatar índices diários de estupros e/ou casos que se tornaram comoção nacional, como o da estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, que foi estuprada e morta durante calourada na instituição, em 27 de janeiro de 202324 24 Disponível em: https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/01/30/o-que-sesabe-sobre-a-morte-da-estudante-de-jornalismo-apos-calourada-na-ufpi.ghtml. Acesso em: 03 dez. 2022. . Claro que essa violência é muito mais complexa, tanto em ní-vel mundial quanto no Brasil, pois envolve outros fatores sociais. Hoje, por exemplo, existe o dado brasileiro vergonhoso de que 85% das violações seguem sendo feitas sobre mulheres, sendo que 70% dos casos envolvem crianças de até 14 anos de idade, ou vulneráveis25 25 Dados do Jornal Humanitas, de 17 de dezembro de 2020. https://www.ufrgs.br/humanista/2020/12/17/cultura-do-estupro-85-das-vitimas-no-brasilsao-mulheres-e-70-dos-casos-envolvem-criancas-ou-vulneraveis/. Acesso em: 11 dez. 2022. , expondo uma tendência à pedofilia.
Nessas performances, especialmente Rape Scene26 26 Registros disponíveis em: https://www.artistaslatinas.com.br/artistas-1/anamendieta. Acesso em: 03 dez. 2022. , não se trata de uma representação teatral enquanto mímese27 27 De acordo com o professor Dr. Gilberto Icle, os artistas da performance vão se “presentificar”, a partir da materialidade do próprio corpo, na tentativa de não representar (ainda que sempre exista um determinado resquício de representa-ção, pois não é possível fugir totalmente da referencialidade da representação, então ela está presente em uma certa medida), apresentando, portanto, uma corporeidade autossuficiente. Notas de aula. , tampouco de uma mera repetição, mas de uma ação incorporada. Desenvolvido por Diana Taylor (2013), o conceito de incorporar, com o sentido de trazer para o corpo construindo um repertório, é muito caro para os estudos da performance. A incorpora-ção28 28 Com base nesse conceito é possível compreender a crítica que Taylor faz da cultura letrada que, desde os Jesuítas, culminou com práticas de arquivo. É nesse ponto que ela se debruça sobre o conceito de “arquivo e repertório”, desenvolvidos no livro que tem esse título, produzindo uma nova leitura da memória cultural nas Américas. destaca o papel do corpo na transmissão do conhecimento, envolvendo espacialidade e temporalidade dos acontecimentos em suas análises, influenciando diretamente nas performances. Esse corpo (auto)biografado evidencia a centralidade do corpo na produção de discursos, através do seu caráter sígnico de enunciação poética/política, comunicados performativamente. O que implica dizer, nesse caso, uma pedagogia feminista performativa, produzindo sentidos que nos permite refletir sobre a lógica dada pelo patriarcado.
Considerações finais
A discussão sobre gênero a partir das noções de performance e performatividade é um tema relevante e complexo. A performance, como uma forma de expressão artística, pode ser entendida como uma ação intencional que envolve o corpo e a presença do artista, desafiando as normas e expectativas sociais, como em Facial Hair Transplant (1972), em que a artista intencionalmente modificou seu corpo, assim como na reificação da performance Rape Scene (1973), na qual Ana Mendieta expôs seu corpo aludindo a uma violência que sentimos e simbolizamos, mas que não costumamos ver. Como acima exposto, a performatividade de gênero é um conceito desenvolvido pela filósofa Judith Butler (2003), que questiona a ideia de que o gênero é uma característica inata e fixa. Segundo Butler, o gênero é uma construção social e cultural que é repetidamente performada e reforçada através de práticas e comportamentos, sob vigilância e controle do patriarcado.
Na lógica dada pelo sistema patriarcal não há igualdade nas relações, muito menos de direitos, uma vez que ela se estrutura como um poder de dominação dos homens heteronormativos, sobre as mulheres e sobre outros gêneros. Isso significa que os indivíduos não podem ser completamente livres, na medida em que se exige uma postura de acordo com o gênero que lhe foi atribuído, em relação assimétrica de hierarquia, com os homens heteronormativos ocupando o lugar de supremacia. Essa hierarquia é dada a partir de um limite binário – homem x mulher –, condenando à abjeção, com status de inexistente, qualquer desvio da norma.
A aceitação e reprodução das práticas sexistas que marcam os corpos leva à violência praticada contra esses corpos subjugados pela norma, como nos casos de estupro, tal como enuncia a performance Rape Scene (1973). A performance Facial hair transplant (1972), evidencia o que a teórica Judith Butler (2019) aponta em seu livro Corpos que Importam (2019), quanto ao sucesso ou fracasso na produção performativa da norma. Pois, ao expor a mutabilidade da identidade de sexo, abrindo brechas a uma intersecção binária, demonstra que “[...] a materialização nunca está completa, de que os corpos nunca estão suficientemente completos, de que os corpos nunca cumprem completamente as normas pelas quais se impõe sua materializa-ção” Butler (2019, p. 16).
Pela via da arte da performance, observamos denúncias de opressão e de violência, como um viés aberto pela linguagem (Taylor, 2013), e também transgressão da norma sexista de domínio patriarcal, na qual a força da lei regulatória pode voltarse contra si própria (Butler, 2019). Sob o domí-nio das normas, as práticas sexistas degradam os sujeitos a partir da hierarquia patriarcal, sendo que o homem macho ocupa o topo e todos os outros gêneros lhe são subordinados. Nesse sentido, por meio das noções de performance e performatividade, as performances apresentadas nos permitiram refletir sobre a produção da diferença, oferecendo uma contribuição crítica para a área da educação, redefinindo a prática educativa desde um princípio estético e de gênero, na configuração de um Corpo (auto)biografado. Além de refletir sobre essas questões, este estudo buscou oferecer um respiro e um convite para pensarmos: que tipo de intervenções feministas poderiam romper com a dominação do patriarcado?
Notas
-
1
A linguagem da arte da performance é extremamente recente, algo em torno de 70 anos. É tão recentemente contemporânea que muitos dos seus pioneiros ainda estão vivos. De modo que se pode pensar que é uma linguagem que ainda está se fazendo. Importante destacar aqui que performance, enquanto linguagem, dá-se no campo das artes, pois não há uma língua gramatical no campo da semiótica, ainda que possa se-rlhe atribuído um sentido performativo, mas que, ainda assim, não é uma linguagem, mas um modo de operação da língua falada e escrita.
-
2
Na pesquisa da qual este artigo é um recorte, são mencionados alguns estudos que, apesar de não partirem diretamente de programas da educação, desenvolvem suas pesquisas na interlocução entre performance, educação e feminismo, ainda que com outras abordagens, como por exemplo a pesquisa intitulada A docência como uma performance feminista, desenvolvida por Erika Cecília Soares Oliveira (2020). Em sua pesquisa, Oliveira partiu dos feminismos subalternos para analisar a performance de professoras em sala de aula. Também numa perspectiva antropológica da performance, porém incorporando o olhar artístico em diálogo com a educação, destaca-se a pesquisa de doutorado em andamento Performance é Corpo/ A Crise é do Corpo: Estudos sobre Performance, Educação e Corpo em Pandemia, desenvolvida por Estela Vale Villegas (2019), no Programa de Pósgraduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
-
3
Tratase de um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento que persegue a ideia de uma pedagogia feminista performativa, desempenhada pelo Corpo (Auto)Biografado.
-
4
Sabemos que o feminismo é plural, assim como bem o sabem as autoras citadas e que usam o termo no singular (como optamos aqui por também fazê-lo), por se dirigirem a uma categoria: o feminismo. Isso não implica desconhecer que internamente essa categoria é subdividida, fundamentalmente, em: feminismo cultural, representativo, negro, radical, trans, etc.
-
5
Tal como acima mencionado e largamente explorado pelas autoras ao longo da tese, em sua multiplicidade de acepções, aqui ressaltase um “conceito” disponível na plataforma de busca politize, na qual Patriarcado designa um sistema social em que homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da família, o pai (ou figura paterna) mantém a autoridade sobre as mulheres e as crianças. Na sociedade patriarcal, prevalecem as relações de poder e domí-nio dos homens sobre as mulheres e todos os demais sujeitos que não se encaixam com o padrão considerado normativo de raça, gênero e orientação sexual. Fonte: https://www.politize.com.br/patriarcado/. Acesso em: 03 dez. 2023.
-
6
Esse direito à educação também está previsto nos tratados internacionais de direitos humanos com peso de lei, dos quais o Brasil é signatário: a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989), a Convenção Relativa à Luta contra a Discrimina-ção no Campo do Ensino (1960), a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1968) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), entre outros. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/wpcontent/uploads/2016/09/folder_direitoigualdadegener oescola_semmarcas.pdf. Acesso em: 03 dez. 2023.
-
7
Sob a batuta de Jair Bolsonaro, a discussão sobre gênero foi extirpada mais uma vez do currículo, sendo substituída por educação fiscal, disciplinar e cidadã, entre outras medidas curriculares, mais alinhadas ao seu projeto político, de fundamentação conservadora e neoliberal – o qual já vinha sendo implantado desde o golpe de 2016.
-
8
Cisgênero é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu. Dicionário Online de Português. https://www.dicio.com.br. Acesso em: 03 dez. /2022.
-
9
Referese à heteronormatividade, ao conceito de que apenas os relacionamentos entre pessoas de sexos opostos ou heterossexuais são normais ou corretos; que enxerga a heterossexualidade como a norma numa sociedade. Dicionário Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br. Acesso em: 03 dez. 2023.
-
10
A interseccionalidade trata especificamente da forma como patriarcado, racismo, entre outros marcadores sociais, sobrepõemse quando são utilizados de forma a desempoderar alguém. Ou seja, há uma subordinação interseccional (gênero, etnia, classe, etc.), que discute aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento, que trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem através de tais eixos, de modo conjunto (Creenshaw, 2002, p. 171-188).
-
11
Judith Butler é uma das principais referências na discussão de gênero e teoria queer na contemporaneidade, autora de diversos livros sobre o tema. Doutora em Filosofia pela Universidade de Yale, atualmente é professora de Retórica e Literatura comparada na Universidade da Califórnia, em Berkeley, esteve no Brasil em mais de uma ocasião. Na última vez foi em São Paulo, por ocasião do lançamento de seu livro Caminhos divergentes: judaicidade e crítica do sionismo, editora Boitempo, momento em que, infelizmente, a pensadora foi atacada mais uma vez, por pessoas que diziam “a revolução familiar chegou” (Judith... 2017).
-
12
Um dos livros mais importantes da teoria feminista, dos estudos de género e da teoria queer, foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2003. Originalmente, o livro foi publicado no ano de 1990, sob o título: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
-
13
Disponível em: https://languages.oup.com/google-dictionarypt/. Acesso em: 01 dez. 2022.
-
14
Os primeiros problemas são os psicológicos, que afetam os sujeitos em forma-ção que escapam da norma. Problemas para os quais a própria autora busca respostas nas teorias de vários psicólogos, especialmente Lacan, bem como de diversos filósofos, particularmente Derrida, ambos nesse último livro que trata da linguagem e a performatividade da língua, ao refletir sobre “os limites da discursividade de gênero”.
-
15
Recentemente lançado pela Netflix, o documentário chamado: Feministas: O Que Elas Estavam Pensando (Feminists: What Were They Thinking?), de 2018, mergulha na luta das mulheres nesse período da década de 1970, por meio de fotografias que captam o despertar do feminismo. Imagens que falam de momentos de dificuldade, restrição e enfrentamento. Judy Chicago é uma das fotografadas e fala, atualmente, um pouco sobre si mesma nesse período, bem como do contexto de efervescência política daquele tempo, a partir do registro fotográfico. Também podemos acompanhar Jane Fonda, Lily Tomlin e Michelle Phillips compartilhando suas histórias e seu envolvimento com a pauta feminista, nesse documentário de Johanna Demetrakas.
-
16
Atualmente reitora da Universidade de Princeton, Dolan é especialista em Teatro e Performance Feminista e queer, americana contemporânea. Ela atuou por seis anos como diretora do Programa de Estudos de Gênero e Sexualidade de Princeton e é docente afiliada do Programa de Estudos Americanos.
-
17
Tal como pudemos perceber na exposição Mulheres Radicais, realizada na Pinacoteca de São Paulo, em 2018, com performances da década de 1960 a 1985, numa extensa pesquisa de 10 anos de suas curadoras. Ana Mendieta e a performance Facial Hair Transplant (1972), aqui apresentadas, ainda que talvez não pareçam tão transgressoras aos olhos contemporâneos quanto representaram no período, fizeram parte dessa exposição, junto a outros trabalhos da artista.
-
18
Conforme o blog: https://citaliarestauro.com/o-que-aconteceu-com-anamendieta/. Acesso em: 03 dez. 2022.
-
19
Atualmente, essa sigla cresceu e segue aberta (+) a novas identificações, encontrandose hoje como: LGBTQIAPN+, representando Lésbicas - Gays-Bisexuais – Transexuais – Queer – Intersexo – Assexual + Pansexual - Neutro. Lembrando que o “L” de lésbicas vem primeiro, porque esses conceitos e um pensamento sobre gênero e suas diferenças emergem dos estudos feministas. Ver: https://orientando.org/o-que-significa-lgbtqiap/. Acesso em: 03 dez. 2022.
-
20
Na época, um de seus professores no curso de mestrado em Artes.
-
21
Disponíveis em: https://www.artistaslatinas.com.br/artistas-1/ana-mendieta. Acesso em: 03 dez. 2022.
-
22
Sangue que ela vinha utilizando em pinturas e também na realização de outros experimentos em performance.
-
23
No início do ano de 2023, estourou na mídia um outro aspecto da atual guerra entre a Rússia e Ucrânia, na qual uma médica combatente ucraniana denunciou que os soldados russos estavam, dentre outros crimes de guerra, estuprando as mulheres – inclusive mulheres crianças, engravidando algumas delas, e segundo os agressores eles têm o intuito de, assim, “expandir o império russo” (Gryzinski, 2023).
-
24
Disponível em: https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/01/30/o-que-sesabe-sobre-a-morte-da-estudante-de-jornalismo-apos-calourada-na-ufpi.ghtml. Acesso em: 03 dez. 2022.
-
25
Dados do Jornal Humanitas, de 17 de dezembro de 2020. https://www.ufrgs.br/humanista/2020/12/17/cultura-do-estupro-85-das-vitimas-no-brasilsao-mulheres-e-70-dos-casos-envolvem-criancas-ou-vulneraveis/. Acesso em: 11 dez. 2022.
-
26
Registros disponíveis em: https://www.artistaslatinas.com.br/artistas-1/anamendieta. Acesso em: 03 dez. 2022.
-
27
De acordo com o professor Dr. Gilberto Icle, os artistas da performance vão se “presentificar”, a partir da materialidade do próprio corpo, na tentativa de não representar (ainda que sempre exista um determinado resquício de representa-ção, pois não é possível fugir totalmente da referencialidade da representação, então ela está presente em uma certa medida), apresentando, portanto, uma corporeidade autossuficiente. Notas de aula.
-
28
Com base nesse conceito é possível compreender a crítica que Taylor faz da cultura letrada que, desde os Jesuítas, culminou com práticas de arquivo. É nesse ponto que ela se debruça sobre o conceito de “arquivo e repertório”, desenvolvidos no livro que tem esse título, produzindo uma nova leitura da memória cultural nas Américas.
-
Este texto inédito também se encontra publicado em inglês neste número do periódico.
Disponibilidade dos dados da pesquisa:
todo o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo está publicado no próprio artigo.
Referencias
- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Diário oficial da União, Brasília, 1996. Available at: http://portal.mec.gov.br. Accessed on: Dec. 1st, 2022.
» http://portal.mec.gov.br. - BUTLER, Judith. Problemas de gênero – Feminismo e subversão da identidade. Translation: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- BUTLER, Judith. Corpos que Importam – Os limites discursivos do “sexo”. Translation: Veronica Damielli and Daniel Yago Françoli. São Paulo: N-1 edições, 2019.
- CREENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002. Available at: https://www.scielo.br/j/ref/a/mbTpP4SFXPnJZ397j8fSBQQ/?format=pdf⟨=pt. Accessed on: Dec. 1st, 2022.
» https://www.scielo.br/j/ref/a/mbTpP4SFXPnJZ397j8fSBQQ/?format=pdf⟨=pt. - DINIZ, Carmen. Operação Peter Pan: uma gigantesca ‘fake news’ contra Cuba nos anos 60. Brasil de Fato, São Paulo, September 24, 2020. Available at: https://www.brasildefato.com.br/2020/09/24/artigo-operacao-peter-pan-uma-gigantesca-fake-news-contra-cuba-nos-anos-60. Accessed on: Dec. 1st, 2022.
» https://www.brasildefato.com.br/2020/09/24/artigo-operacao-peter-pan-uma-gigantesca-fake-news-contra-cuba-nos-anos-60. - DOLAN, Jill. Women’s theatre program ATA: Creating a feminist forum. Women & Performance: a journal of feminist theory, Francis & Taylor, v. 1, n. 2, p. 5-13, 1983. Available at: https://www.tandfonline.com/journals/rwap20. Accessed on: Dec. 1st, 2022.
» https://www.tandfonline.com/journals/rwap20. - FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder Organization and translation by Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
- GOLDBERG, RoseLee. A Arte da Performance: Do Futurismo ao Presente. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2009.
- GRYZINSKI, Vilma. Ucrânia: Relatos horripilantes de estupros cometidos por militares russos. Revista Veja Mundialista, March 15, 2023. Available at: https://veja.abril.com.br/coluna/mundialista/ucrania-relatos-horripilantes-de-estupros-cometidos-por-militares-russos/. Accessed on: Dec. 1st, 2022.
» https://veja.abril.com.br/coluna/mundialista/ucrania-relatos-horripilantes-de-estupros-cometidos-por-militares-russos/. - HEDDON, Dee. The Politics of the Personal: Autobiography in Performance. In: ASTON Elaine; HARRIS, Geraldine (Org.). Feminist futures? Theatre, Performance, Theory. New York: Palgrave Macmillan, 2006. p. 130-148.
- hooks, bell. O feminismo é para todo mundo | políticas arrebatadoras. Rio de Janeiro: Record, 2018.
- JUDITH Butler é agredida ao embarcar no aeroporto de Congonhas... Carta Capital, São Paulo, Nov. 10, 2017. Available at: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/judith-butler-e-agredida-ao-embarcar-no-aeroporto-de-congonhas/. Accessed on: Dec. 1st, 2022.
» https://www.cartacapital.com.br/sociedade/judith-butler-e-agredida-ao-embarcar-no-aeroporto-de-congonhas/. - LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação Uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Editora Vozes, 1997.
- OLIVEIRA, Erika. A docência como uma performance feminista. Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais, São João del-Rei, v. 15, n. 3, July/Sep. 2020.
- SILVA, Aila Regina da; LARA, Arthur Hunold. Dor versus prazer: a sexualidade na Performance de mulheres. Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, v. 13, n. 2, Apr./June 2023. Available at: https://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/article/view/126011. Accessed on: Dec. 1st, 2022.
» https://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/article/view/126011. - TAYLOR, Diana. O arquivo e O repertório: performance e memória cultural nas américas. Translation: Eliana Lima Reis. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
- TIBURI, Marcia. Feminismo em comum: para todas, todes e todos. 4th ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.
- VILLEGAS, Estela Vale. Estudos da performance e educação: pedagogia crítica performativa e o corpo na e como sala-de-aula, reflexões sobre a performance como abordagem para o ensino da arte na escola. In: REUNIÃO CIENTÍFICA ABRACE, 10., 2019, Campinas. Analls [...] Campinas, 2019. Available at: https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/issue/view/115. Ac-cessed on: Dec. 1st, 2022.
» https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/issue/view/115.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
24 Maio 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
15 Jun 2023 -
Aceito
18 Dez 2023