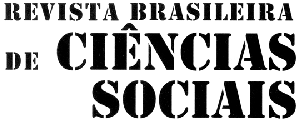ARTIGOS
No final de 2009, foi-me pedido que fizesse uma apreciação sobre a situação política global e sua relação com a antropologia sociocultural num momento em que se celebravam vinte anos sobre o fim da Guerra Fria e em que começávamos a entender as tremendas implicações da crise financeira norte-americana de 2008. Passado mais de um ano, no início de 2011, vejo-me confrontado com novos eventos de ordem política global e de natureza acadêmica que reforçam as minhas convicções de que estamos perante uma época de viragem na qual a antropologia tem de procurar novas perspectivas.
Primavera de 2009
Passaram vinte anos sobre o fim da Guerra Fria. Durante esse intervalo, no mundo da lusofonia, assistimos ao fim de duas guerras civis, à consolidação da vida democrática, a uma significativa melhoria nas condições de vida das populações. Tudo isso é verdade e é, no cômputo geral, muito positivo. Por que não estamos, então, mais otimistas sobre o futuro?
Não se trata meramente de um apego à nostalgia - a tal velha querença fadista lusitana. Pelo contrário, creio que se trata de uma reação bem lúcida: olhamos à nossa volta e percebemos que os problemas do passado continuam presentes no nosso horizonte de possibilidades. A lição central que nos vemos obrigados a reter é que a história nem está prestes a acabar (em qualquer um dos sentidos que se possa ir dando ao famoso sentimento hegeliano), nem parece provável que venhamos a deparar-nos com soluções definitivas para os males mais persistentes da condição humana.
No início da década de 1990, em face da queda do Muro de Berlim e da revolução informática, muitos chegaram a pensar que teríamos entrado num círculo virtuoso que permitiria uma nova negociação da ordem global no sentido de uma maior humanização. Afinal, esse sonho perdeu-se devido à ganância dos que controlam o grande capital internacional apoiados no imperialismo militarista anglo-americano.
Acontece que, infelizmente, nem sequer o fim do ciclo político de conservadorismo radical nos Estados Unidos, anunciado pela surpreendente vitória de Barack Obama, nos pode dar muita esperança. Não há como esquecer que, para além do aniversário da queda do Muro de Berlim, estamos agora também a celebrar um outro aniversário, também ele prenhe de significado: fez há pouco oitenta anos que ocorreu o crash financeiro de 1929 em Wall Street. Ora, hoje, estamos outra vez no meio de mais uma "crise" financeira global.
Nos últimos meses, em face dessa nova e gravíssima crise, verificamos que, mais uma vez, não serviram para nada as lições do passado; no rescaldo da crise não foram tomadas quaisquer das medidas que todos, unanimemente, consideram necessárias para controlar no futuro a ganância desenfreada do grande capital internacional. Aliás, surpreendentemente, a administração de Obama manteve no poder os mesmos homens e os mesmos interesses corporativos que estiveram na origem da crise, assim como da vergonhosa resposta inicial ao débâcle, liderada ainda pela administração de Bush e Cheney. Os comentadores econômicos falam a uma só voz: evitou-se, de fato, o colapso do sistema financeiro mundial, mas nada de essencial foi mudado.
Urge relembrar que, ainda a crise estava a revelar-se e já se via que, nos agentes financeiros, não há como confiar. Sua ganância é verdadeiramente suicida - a primeira reação dos banqueiros de Wall Street às tentativas do governo norte-americano de impedir o colapso financeiro que eles tinham ocasionado foi distribuir em salários descomunais e em dividendos chorudos o dinheiro que lhes estava a ser entregue e que iria ter que ser pago pelos restantes cidadãos - se bem que, para essas pessoas, podemos legitimamente perguntar-nos se o conceito de cidadania chega sequer a fazer sentido (Pina-Cabral, 2005).
A noção de que pudessem ter-se preocupado em tentar impedir os previsíveis despedimentos em massa que, entretanto, sobrevieram parece-lhes até irracional - como afirmam os "grandes economistas" de Harvard, apóstolos deste evangelho da destruição. Para nós, pelo contrário, meros mortais que vivemos naquilo que eles chamam com desprezo "a economia real", o que se revela incompreensível é a fé que eles esperam que tenhamos nesse tal Mercado com M maiúsculo, que é suposto assegurar os interesses deles para o bem de todos nós. Para dar só um exemplo de como a paralisia perante a ganância desmedida é quase total, as conhecidas práticas corruptas e chantagistas do setor dos cartões de crédito nos Estados Unidos não foram sequer minimamente coarctadas como resultado da crise do crédito, nem há previsão de que venham a ser.
Ao mesmo tempo, parece ser possível adivinhar certa incapacidade, por parte da maior economia do mundo, de se reestruturar internamente. Situações de crescente descalabro da coisa pública como as que estamos a assistir em estados norte-americanos, como a Califórnia, parecem ter passado para além da simples cura. Mais ainda, nem a situação político-militar no Médio Oriente promete resolver-se a curto prazo, nem a invasão do Afeganistão promete aproximar-se de uma qualquer solução satisfatória num futuro previsível. Como resultado da guerra no Iraque, o endividamento nacional norte-americano atingiu níveis que nunca anteriormente tinham sido sequer imagináveis.
Torna-se claro que, a médio prazo, novos agentes se afirmarão na cena internacional, cujas intenções não são já formuladas em termos imperiais - como eram os projetos políticos anglo-americano ou soviético pós-Segunda Guerra Mundial -, mas novamente em termos nacionais. Estou a pensar em atores como a Rússia, a China, a Índia ou o Brasil. Quem profetizava há uns anos o fim das lógicas nacionalistas em nome do transnacionalismo ou do cosmopolitismo estava a entender mal.
Seria até possível ver com bons olhos a dissolução do poder do mediador imperial norte-americano que dirigiu solitariamente a ordem mundial nos últimos vinte anos. No entanto, é fácil perceber que existem também fortes perigos nas alternativas. Como exemplo, temos aí o comportamento dos atuais governantes russos nas suas antigas áreas de influên cia colonial ou dos chineses nas suas áreas de fronteira, não são só geográficas como também étnicas.
À luz do que hoje sabemos, de um ponto de vista tanto demográfico como ambiental, não é racional pensar que possa existir uma alternativa às formas de vida urbanas que caracterizam crescentemente a contemporaneidade. Não haverá também nunca mais uma alternativa para uma vida humana minimamente satisfatória fora da sociedade de consumo, pois não existem caminhos para trás na história humana e a nossa dependência da tecnologia veio para ficar.
Diante disso, urge compreender que (a) nunca mais haverá margem para a exploração espontânea do meio ambiente para fins de subsistência e (b) nunca mais existirá espaço para uma economia independente das instituições financeiras globais. Não nos esqueçamos que a população global continua a aumentar desenfreadamente num mundo onde os recursos ambientais estão exaustos e onde a globalização financeira está praticamente automatizada. Nosso mundo não é mais o mundo robusto que a técnica dos séculos XIX e XX depredava sem sequer pensar no assunto.
As ciências sociais e a antropologia em particular contribuem diariamente com sua investigação empírica e sua análise para um melhor conhecimento da realidade que nos rodeia. Temos, porém, que nos lembrar de que, tal como as engenharias, as ciências sociais fazem também parte do mundo da técnica e, como tal, também são parte incontornável do mundo onde viveremos no futuro.
E é muito fácil esquecermo-nos de quão tristemente ambivalente é a herança que agora recebemos. Cientistas sociais ainda há menos de um século, cheios do que eles achavam ser as melhores intenções, imiscuíram-se em alguns dos projetos políticos mais sinistros que a humanidade jamais imaginou. Não me refiro unicamente ao nazismo ou ainda à contribuição de cientistas sociais norte-americanos ou soviéticos para a espionagem e a opressão política. Há aspectos que são menos conhecidos mas que merecem nossa atenção: por exemplo, Hendrik Verwoerd, o inventor do apartheid, era professor de sociologia e psicologia social inspirado pela academia norte-americana dos anos de 1930 e subsidiado pela Carnegie Foundation (1993).
Ora, não foi só no passado que houve ligações entre as ciências sociais e os movimentos políticos humanamente mais deletérios e mesmo criminosos. Em vez de simplesmente nos pormos na posição do anjo vingador sobre os cientistas sociais do passado, seria importante tentar entender quais as implicações das nossas próprias posições atuais. Ainda nos dias que passam a disciplina econômica e os acadêmicos que a representam nas mais conceituadas universidades de todo o mundo têm sido parte integral desse processo de destruição da economia real e da acumulação vergonhosa de riqueza, cujos males agora nos perseguem.
A antropologia contemporânea, preocupada como está com o contato direto com as gentes que estuda, parece ter aprendido algo com os erros do passado. Não é fácil encontrar nas últimas décadas exemplos da gravidade dos que caracterizaram a antropologia em climas históricos mais imperiais. Contudo, devemos perguntar-nos em que medida é que estamos a contribuir para pensar ativamente os problemas que nos rodeiam.
Preocupa-me especialmente que saibamos encontrar saída para a linguagem de relativismo culturalista que tem caracterizado as décadas neoliberais e que nos levou à crise teórica da própria noção de humanidade que presentemente vivemos. O fato de terem surgido na história longa da humanidade profundas diferenças de ordem sociocultural que urge respeitar e proteger em nome da nossa humanidade comum não nos deve nunca impedir de ver os interesses mais gerais dessa mesma condição humana comum (Pina-Cabral, 2006).
Para nós, que somos hoje plenamente coevos uns dos outros nas partes mais diversas do mundo (Fabian, 2001), é importantíssimo saber fugir à "falácia do tudo ou nada" na atribuição de sentido a expressões tais como humanidade ou alteridade cultural (Pina-Cabral, 2009a). Caso nós, os cientistas sociais, não tivermos a sageza de o fazer, não poderemos contribuir para que a globalização financeira e técnica a que temos assistido seja acompanhada por instrumentos politicamente negociados para gerir seus efeitos perversos sobre os seres humanos e sobre o nosso mundo comum.
Para nos salvarmos, não é razoável continuar a confiar nas metafísicas estafadas e enganosas nem do Mercado, nem do Estado, nem do Divino. Não quero que me interpretem como estando a falar contra a livre iniciativa econômica, contra a boa governança ou contra o apego de cada um aos seus deuses - não só não o faço como consideraria estulto fazê-lo.
Contudo, a construção de instâncias políticas explicitamente globais de proteção dos nossos interesses comuns é condição incontornável da sobrevivência da humanidade. Um desses interesses comuns de especial monta, por exemplo, é o direito à diversidade cultural e religiosa - algo que não pode ser visto como um direito culturalmente local ou uma qualquer herança particular de alguma parte da humanidade (gênero "o Ocidente" ou "o mundo pós-cristão"). Acontece que, num futuro não tão distante assim, podemos bem vir a ser dominados por agentes políticos de abrangência global para quem esse pressuposto do "diálogo das nações" possa não fazer sentido - como já é hoje o caso, por exemplo, entre os georgianos, os tibetanos ou os uigures. Por isso até estou convencido que, nos dias que passam, nos compete aos antropólogos socioculturais trabalhar ativamente no sentido de reconstruir a possibilidade teórica de um discurso ecumenista.
Os seres humanos vivem, sim, dentro de espaços contínuos de intercomunicação humana - mas não em espaços fechados. O multiculturalismo antropológico, que inicialmente se apresentava como uma opção libertária, respeitadora da diferença, veio a revelar-se, afinal, como mais um instrumento de polarização identitária. Quando hoje a chanceler alemã anuncia o que chama "o fim do modelo multiculturalista", ela está cinicamente a jogar com a fraqueza dos que pensavam que se podia arrumar a humanidade em caixinhas. Em vez de falarmos de sociedades e culturas unitárias, urge inventar uma linguagem do estilo da que Tolkien usa na sua ficção quando fala do middle-earth ou que os gregos usavam quando falavam em oikômene - o espaço de interação humana. Nos dias que correm não existe uma ecumene, existem ecumenes dentro de ecumenes, porque não há fronteiras à comunicação humana do tipo que era constituído pelos oceanos Atlântico ou Pacífico nas eras anteriores à Moderna. Nosso mundo é uma ecumene de ecumenes - um network of networks, como lhe chama Ulf Hannerz (1991) - por muito que, no seu interior, sejam identificáveis outras ecumenes; isto é, espaços de maior densidade humana. Contrariamente aos conceitos particularistas de "cultura", "grupo" ou "sociedade" que têm governado nossas vidas durante o século XX, o conceito de ecumene aponta para a abertura e não para o fechamento e ainda para a existência e persistência de continuidades na construção e diversificação humanas (Pina-Cabral, 2010). Mais ainda: aponta para uma noção de coabitação onde a divisão entre comunicação e ação não se apresenta para uma visão do mundo decisivamente pós-cartesiana.
Caiu o muro em Berlim, mas montou-se outro entre Israel e a Palestina e outro entre o México e a restante América do Norte e ainda outro que é, afinal, o Mediterrâneo. Ora, penso que vale a pena aqui referir ainda mais um aniversário recente: há pouco menos de um mês comemoraram-se os dez anos do aparecimento do primeiro cadáver que deu à costa nas Ilhas Canárias - um jovem africano morto durante o esforço desesperado de chegar ao emprego, de poder ganhar a vida honradamente.
Estou cada vez mais convencido de que a concepção de um mundo como fechado em universos ontológicos estanques e não comunicantes (com todas as implicações políticas de uma tal visão) não só é incorreta como é profundamente perversa. Acontece que é precisamente tal visão que é protegida por toda uma geração de pessoas que, entre si, se acham enormemente distantes - pessoas que, do lado radical, vão de Bin Laden a Talal Asad e, do lado liberal, vão de Dick Cheney aos pseudoacadêmicos como Huntington ou alguns dos gurus das principais escolas de economia norte-americanas (Pina-Cabral, 2008).
Queiramos ou não, nossos mundos humanos são intercomunicantes e, como insiste corretamente Johannes Fabian, somos coevos uns dos outros. A linguagem unitarista do sociocentrismo modernista dividia os humanos em sociedades e culturas que eram supostas se bastarem a si mesmas. Essa visão, porém, tem que ser abandonada em face do que se passa no mundo atual e também do que, cada vez mais, sabemos sobre o passado.
Nestes vinte anos desde a queda do Muro de Berlim, observamos o colapso do discurso ecumênico - tanto o religioso como o político - por obra e graça de uma série de radicais particularistas. Tanto às mãos de Ratzinger e Bin Laden como de Dick Cheney e deeconomistas neoliberais, fomos obrigados a assistir de mãos baixadas à destruição e à deslegitimação dos esforços de constituição das pontes de entendimento humano de cariz global que tinham caracterizado a resposta horrorizada aos dislates da Segunda Guerra Mundial.
As últimas duas décadas da humanidade foram lideradas por uma geração que não entendeu que há riscos que não devem ser corridos - uma geração que se desinteressou do fato de que há limites para a robustez do mundo e da humanidade. Hoje, volta a ser possível simpatizar com o sentimento que movia as pessoas que quiseram reconstruir o mundo após as duas horríveis guerras mundiais. Como cientistas do social, temos que fazer a nossa parte e trabalhar no sentido de reconstruir os instrumentos intelectuais que nos permitam comunicar esse projeto.
Confrontados com estes três aniversários: o da queda do Muro de Berlim - que nos lembra que a Segunda Guerra Mundial só acabou com o fim da Guerra Fria; o da Grande Depressão - que nos lembra que, estando nós mais uma vez a viver uma grave depressão econômica, nada voltou a ser feito no sentido de proteger os seres humanos da rapina do grande capital; e o do pobre rapazito que terá sido atirado morto às ondas pelos seus companheiros num barco à deriva após ter sucumbido à inanição nessa grande aventura africana de chegar ao trabalho... Diante desses três monumentos, por assim dizer, que podemos nós responder-lhes?
Espero que, de um ponto de vista de um antropólogo, a resposta que temos a dar não seja só a de que não sabemos sequer muito bem o que é um ser humano e não temos outra explicação que não seja estética da razão de acreditarmos que a diversidade sociocultural é um bem a proteger. Como cientistas sociais temos a obrigação de trabalhar na recolha e na análise de evidência empírica no sentido de reconstruir os instrumentos intelectuais que nos permitam voltar a pensar como viável o projeto ecumênico.
Outono de 2011
Passou pouco mais de um ano desde que escrevi estas palavras. Infelizmente, toda a atmosfera de ameaça e inquietude que o texto acima reflete foi horrivelmente confirmada. Mais ainda, entretanto, percebemos que a administração Obama ou não soube ou não quis distanciar-se das políticas econômicas e dos agentes financeiros que levaram a América a ser hoje um dos países mais desiguais do mundo, onde 20 por cento do rendimento é ganho por um por cento da população (International Herald Tribune, 10/11/2010).
Ao mesmo tempo, na Europa, assistimos no decorrer dos últimos meses à derrocada do modelo europeísta que movia a União Europeia como projeto civilizacional. Penso que houve quem julgasse que se tratava de um mero soluço econômico, cuja solução surgiria a curto prazo. Não foi isso, porém, o que se passou. Após a reação europeia à chamada "crise", o que ficou para trás foram as ruínas institucionais de um dos mais ambiciosos projetos políticos e civilizacionais que jamais foi posto em andamento na história da humanidade: a integração política de um continente feita pela paz e acordo mútuo e não pela guerra.
As agências de crédito internacional perceberam que podiam explorar a falta de confiança mútua que sempre existiu entre os europeus e que, infelizmente, foram a principal causa da Segunda Grande Guerra. Viram claramente - e sem que tivessem de esconder fosse o que fosse - que aqui estava a hipótese de recuperar algumas da perdas ocasionadas pela crise que a sua própria ganância criara. Explorando o profundo desprezo que os europeus do norte continuam a sentir pelos europeus do sul, foi possível às agências de crédito criar uma atmosfera de suspeita que levou os países da periferia do euro ao colapso econômico através de um aumento totalmente irracional da oneração do endividamento público.
Não está em dúvida que, em casos como a Irlanda e a Grécia, erros gravíssimos de governação necessitavam urgentemente de ser corrigidos. Maiores, sem qualquer dúvida, foram os erros de governação cometidos por George W. Bush e seu séquito, para dar um só exemplo. Mais ainda, cometidos em plena praça pública, tais erros deveriam ter sido corrigidos anteriormente não fosse o desinteresse mútuo que aparentemente existe no seio da União Europeia e que explica que o desgoverno crescente de um país tão importante para a Europa como a Itália continue a ser visto como um mero tema de chacota pelos meios políticos europeus.
O que está em causa é que, perante um ataque abertamente orquestrado por agências financeiras sediadas em Nova York, os políticos de países como a Alemanha e o Reino Unido sentiram que havia mais proveito eleitoral próprio em exacerbar a crise do que em impedi-la. Hoje, os cidadãos da zona euro veem suas economias reais paralisadas e o projeto político europeu de rastos sem perceber porquê; tudo isto para proveito das agências de crédito internacional? Não é claro ainda qual o prejuízo social e econômico que tal causará a médio prazo à própria Alemanha.
A situação parece ter sido interrompida pela intervenção das autoridades chinesas (quem diria há uma década atrás que daí surgiria a indispensável voz de bom senso!) e pela lenta compreensão por parte dos governantes alemães das implicações que poderiam advir do colapso da moeda única, entre outros fatores. Hoje, na Península Ibérica, na Grécia e na Irlanda, vivem-se dias negros em que, para além do sofrimento das famílias de classe média cujos rendimentos foram severamente diminuídos, toda uma geração de jovens entra na vida adulta sem uma probabilidade razoável de vir a ter um emprego estável. Essa fronteira do trabalho que constituía o Mediterrâneo, a prazo, esbater-se-á mais uma vez.
Acontece que não está em causa unicamente o colapso das economias reais destes países, está também em causa o colapso de um modelo social-democrático de sociedade que visava explicitamente impedir situações de desigualdade vergonhosa tais como a que se vivem hoje nos Estados Unidos pós-Bush ou as que se viveram durante tanto tempo na América Latina. A reação à crise por parte de quase todos os governos dos países periféricos do euro atingidos pelo ataque à dívida soberana foi no sentido de assentar as políticas de resolução da crise numa forte diminuição das condições de vida das classes médias, mantendo os ganhos desmesurados das classes altas. Tudo isto em nome de uma concepção de economia que deixa perplexa qualquer pessoa que atenda seriamente ao que se afirma. Surgem mesmo alguns casos mais despudorados de agentes financeiros que argumentam que os europeus do sul estavam a viver acima das suas condições - curiosamente, tal parece excluir os detentores das grandes fortunas!
Mas, infelizmente, vejo menos razões do que há um ano para sentir que as ciências sociais, e a antropologia em particular, estejam em condições de responder ao enorme desafio que as confronta globalmente. Acaba de ocorrer um evento que é patente evidência do desnorteamento em que vivemos no seio das nossas disciplinas, mostrando que aspreocupações com a fundamentação teórica da nossa comum condição humana não eram desajustadas. Cito-o unicamente como sinal de que o desnorteamento da economia global se aplica também à vida intelectual e científica. Trata-se, afinal, de um pequeno evento que não teria significado maior não fossem as suas repercussões mediáticas. Estas transformaram um mero equívoco causado pela falta de bom senso numa ameaça genuína à antropologia e às ciências sociais como um todo.
Levada por qualquer desejo de pacificar os desencontros recorrentes entre várias correntes antropológicas, a direção da Associação Americana de Antropologia (pres. Virginia Dominguez) decidiu mudar o documento de "Objetivos de Longo Prazo" (Long-Range Plan) substituindo a palavra "ciência" pela expressão public understanding (lit. "entendimento público", se bem que a frase seja de difícil tradução em português). O curioso da situação é que se descobriu posteriormente que a intenção dessas pessoas, afinal, não era sequer a de negar a condição científica da antropologia! Confundidos pelas correntes que estiveram na moda há uns anos atrás sobre o public understanding of science, estes senhores acharam que, então, a antropologia, mais do que ciência, seria um public understanding!1 1 Disponível em < http://www.aaanet.org/about/Governance/Long_range_plan.cfm>. O lado cômico do equívoco teria vencido - e estaríamos hoje todos a rir - não fosse ter sido esta a primeira vez há anos que a disciplina antropológica foi debatida nos principais órgãos de comunicação de massas mundiais no sentido de se afirmar que a direção da principal associação antropológica mundial decidira que a antropologia já não era um saber científico (New York Times, International Herald Tribune etc.).
O episódio, pelo seu absurdo, não merece ser debatido em termos epistemológicos sérios (ver, por contraste, o volume 53 (2) de 2009 da revista Social Analysis dedicado a esse debate). Caso tal fosse feito, haveria que discutir os diferentes entendimentos que existem entre os cientistas sociais sobre como qualificar o que é ciência e como ver a natureza científica das práticas que caracterizam tradicionalmente a antropologia sociocultural. Mal estaria se não houvesse desacordo, já que o debate é o próprio sangue da ciência. O que merece ser refletido neste equívoco é a forma como ele se aproxima do semelhante equívoco que levou ao abafamento financeiro das economias dos países periféricos da zona euro.
Para o jornalista Nicholas Wade, que explorou publicamente o episódio - e cujo texto no New York Times de 9 de dezembro sugere que ele sabia se tratar de um equívoco -, o bom nome público da antropologia como forma de conhecimento científico era totalmente irrelevante. O jornalista opõe evidence-based science a formas de engajamento político paternalista como as duas opções abertas à antropologia. Dessa maneira, diminui tanto o valor epistemológico da antropologia como ciência, como o valor moral da intervenção política fundada sobre o legítimo conhecimento científico.
Longe de mim criticar um jornalista pelos erros dos antropólogos. O que merece a nossa atenção é que, tal como no caso da "crise" dos países periféricos do euro, estamos perante uma situação em que os interesses localizados de agentes particulares em criar uma opinião pública podem causar, através dos efeitos potenciadores dos meios de comunicação de massa, estragos irreparáveis para projetos de enorme relevância pública. Os políticos europeus que pensaram ganhar votos com a exploração do etnocentrismo intraeuropeu (Merkle, Cameron, Sarkozy etc.), tanto quanto o jornalista que explorou as gafes cometidas por antropólogos desatentos, comportam-se como os paparazzi que levaram a princesa Diana à morte.
Estamos hoje numa situação em que urge proteger os interesses coletivos em face desse tipo de irresponsabilidade. Não está em causa qualquer irresponsabilidade individual, já que tanto os políticos como os jornalistas em causa acabaram por ganhar proveitos próprios com os atos que cometeram. Está em causa uma noção ecumênica de coletivismo, em que a participação de cada um na causa pública seja vista em termos de lógicas sempre mais abrangentes de responsabilização humana.
Tal como os que argumentam com o Mercado contra a necessidade de impedir a simples depredação do sistema econômico de um país, os que argumentam com a Liberdade de Imprensa contra a destruição espúria do crédito de uma disciplina científica ou de um cidadão estão a inverter perversamente a lógica dos fatores. Por vezes, as distinções são, de fato, difíceis: a vida amorosa turbulenta de qualquer ator de cinema não pode ser equiparada na sua relevância aos trágicos desmandos de Berlusconi nas suas ilhas privadas; da mesma forma, a falta de atenção de alguns colegas sobre os debates epistemológicos não podem ser confundidas com o crédito científico de toda uma disciplina. Saber distinguir entre esses diferentes tipos de situação e saber proteger a humanidade desse tipo de exploração é talvez um dos principais desafios civilizacionais da contemporaneidade.
O que urge concluir, porém, é que a antropologia sociocultural necessita de reconstruir sua própria imagem perante os efeitos deletérios do culturalismo relativista se quiser contribuir positivamente para repensar nosso mundo. E não nos esqueçamos: tal como a técnica, as ciências sociais não estão distantes das nossas vidas quotidianas. Elas contribuirão sempre, como têm contribuído até hoje, para o mundo em que vivemos.
Acontece que é muito difícil para uma disciplina científica sair dos modelos que a constituíram historicamente. Apesar de ser muito fácil julgar moralmente os cientistas do passado - como fazem com tanto gosto os especialistas em "ética" que tanto se fazem ouvir nas reuniões da nossa disciplina - é, pelo contrário, muito difícil pensar fora dos esquemas que o passado nos legou. Foi fácil aos antropólogos da segunda metade do século XX deixarem de usar a palavra "primitivo", que tinha sido tão importante na constituição da nossa disciplina. Contudo, não foi igualmente fácil libertarem-se dos efeitos teóricos e metodológicos que a noção implicava. Ainda hoje, o primitivismo metodológico nos persegue, agora silenciosamente mediado por formas radicais de culturalismo (Pina Cabral, 2009b).
Pensar a humanidade não é nem criar fronteiras de excepcionalidade em torno dessa mesma humanidade, nem abdicar da herança da pluralidade humana. Saber pensar a condição humana como parte do esforço científico geral dos nossos tempos à luz do evolucionismo biológico é talvez o desafio principal da nossa disciplina nos dias que passam.
Notas
Bibliografia
- FABIAN, Johannes. (2001), Anthropology with an attitude: critical essays. Stanford, Stanford University Press.
- HANNERZ, Ulf. (1991), "The global ecumene as a Network of Networks", in Adam Kuper (ed.), Conceptualizing societies, Londres, Routledge, pp. 34-56.
- MILLER, Roberta B. (1993), "Science and society in the early career of H. F. Verwoerd". Journal of Southern African Studies, 19 (4): 634-662.
- PINA-CABRAL, João de. (2005), "Aprender a representar: a democracia como prática local". Novos Estudos Cebrap, 71: 145-162.
- ______ . (2006), "Anthropology challenged: notes for a debate". Journal of the Royal Anthropological Institute, 12 (3): 663-673.
- ______ . (2008), "Terrorismo, suicídio e utopia: um olhar sobre o debate atual". Etnográfica,12 (2): 489-500.
- ______ . (2009A), "The all-or-nothing syndrome and the human condition". Social Analysis, 53 (2): 163-176 (vol. temático organizado por Christina Toren e Pina-Cabral, An epistemology for anthropology).
- _____ . (2009B), "Larger truths and deeper understandings". Social Anthropology, 16 (3): 346-354 (debate com Jean Lydell).
- _____ . (2010), "Lusotopia como ecumene". Revista Brasileira de Ciências Sociais, 25 (74): 5-20.
A antropologia e a "crise"
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
03 Nov 2011 -
Data do Fascículo
Out 2011