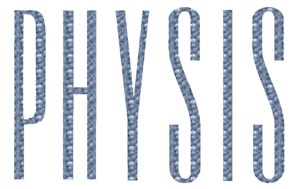RESENHAS E CRÍTICAS BIBLIOGRÁFICAS
Os muitos sentidos da identificação criminal
Jair de Souza Ramos1 1 Doutor em Antropologia pelo PPGAS do Museu Nacional/UFRJ. Professor adjunto do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da UFF.
CUNHA, Olívia Maria Gomes da.
Intenção e gesto: pessoa, cor e a produção cotidiana da(in)diferença no Rio de Janeiro 1927-1942.
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002.
É comum a muitos homens cariocas a experiência de algum dia terem sido parados pela polícia para terem seus documentos conferidos. Nessa situação, a posse de documentos como as carteiras de trabalho ou de identidade eram uma garantia mínima de nada "deverem" à lei. Os que passaram por tal situação, muitos de forma constante, reconheciam com facilidade uma lógica de suspeição a guiar a ação dos policiais.
Para muitos, essa é uma lembrança inescapável: a vigilância policial nos mantinha alertas e temerosos quando circulávamos por ruas, horários, trajes e comportamentos que o saber policial reputava suspeitos. E mesmo em tempos nos quais os conceitos pós-modernos de identidade já habitavam o cenário intelectual, nos oferecendo a perspectiva de identidades múltiplas e cambiantes, na hora do aperto era a certeza do cartão oficial do Estado brasileiro que trazíamos no bolso que nos dava alguma segurança na relação com a autoridade policial. Isto porque carregávamos não uma certeza sobre nós mesmos, mas uma certeza do Estado sobre nós, construída por mecanismos de identificação operados por agentes estatais e que se materializam em documentos de identidade.
Contudo, esse "nós" a que me refiro forma apenas uma pequena parcela daqueles que eram revistados pela polícia. Isto porque tínhamos a nos proteger não apenas a posse dos documentos, mas o fundamento mesmo das certezas estatais que nos identificavam: éramos jovens brancos de classe média.
Já para a maioria dos que eram e ainda são rotineiramente submetidos à vigilância, os policiais representavam uma ameaça bem mais palpável. Pois o que o saber policial identificava em seus corpos e comportamentos se sobrepunha ao documento de identidade ou mesmo se confirmava na sua ausência; um outro tipo de certeza estatal era posto em ação: era a suspeita da vadiagem e da criminalidade. Nesse sentido, a familiaridade dessa experiência é também a familiaridade com os aspectos mais discricionários da lógica de suspeição policial. Mais que isso, é a aprendizagem da própria hierarquia social. E entre os muitos sinais que atiçavam a suspeita, qualquer um reconheceria os mais evidentes: a cor da pele e os traços físicos.
Todavia, se esta é uma experiência familiar a muitos homens, isto não significa que ela seja plenamente "conhecida". A própria banalização da experiência, mesmo face ao medo, raiva e indignação sentidas, mantém, por vezes, suas vítimas distantes de saber o que tornou possíveis essas práticas policiais, quais suas implicações, o significado e a origem das identificações atribuídas aos "vadios", e como se fez do corpo negro esse depósito de suspeitas.
Muitas das respostas a essas e outras perguntas acerca da identificação criminal podem ser encontradas no livro Intenção e gesto: pessoa, cor e produção cotidiana da (in)diferença no Rio de Janeiro - 1927/1942, de Olívia Maria Gomes da Cunha. Apontando a existência de finalidades mais abrangentes a regerem a lógica de coleta e guarda de documentos de identificação, a autora explora em seu texto as dimensões sociais e simbólicas que envolvem as práticas de identificação criminal voltadas à prevenção da vadiagem e repressão aos vadios na década de 1930.
Originalmente uma tese de doutorado em Antropologia Social defendida no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o livro foi publicado em 2002, como resultado da premiação que o Arquivo Nacional oferece a trabalhos acadêmicos realizados a partir da documentação ali disponível. Diga-se de passagem, os prêmios do Arquivo Nacional produzem um resultado duplamente salutar, pois divulgam à comunidade científica, e mesmo a leitores não tão especializados, não apenas a riqueza e a importância de seu acervo, mas também parte da significativa produção científica que se desenvolve a partir dele.
O texto de Gomes da Cunha exemplifica bem esses dois méritos: para quem conhece a fragmentação, a incompletude e a dispersão dos documentos produzidos pelo Estado brasileiro, há em sua pesquisa um esforço admirável para encontrar documentos e estabelecer conexões entre as informações ali presentes. Ao mesmo tempo, isto é feito tendo por referência discussões teóricas contemporâneas sobre uma grande variedade de temas.
É necessário observar que, talvez motivada pelo desejo de extrair inteligibilidade de documentos muito fragmentados e de dar conta de um grande conjunto de debates necessários à complexidade do objeto que recortou, a autora acabou por produzir um texto que em alguns momentos é de difícil leitura, mesmo para um leitor especializado. Essa dificuldade é mais presente no capítulo de introdução, intitulado "O armário de Adams", no qual a multiplicação dos debates com a literatura teórica obscurece a apresentação do argumento da autora e, por isso mesmo, pode inibir um leitor incauto. Em razão disso, advirto o leitor para que seja paciente e para que se deixe perder ao longo do livro, pois acabará se deparando, como eu me deparei, com muitos encontros de rara sensibilidade entre documentos e idéias.
Formando uma das imagens possíveis desse texto complexo, eu delinearia dois aspectos fundamentais que a autora extrai da análise das práticas e discursos acerca da identificação dos vadios: a forma como se relacionam os discursos médico, jurídico e policial na produção de mecanismos de construção da pessoa pela identificação criminal; e as classificações raciais como forma de apreensão e hierarquização das diferenças humanas, e a sua relação com a questão da cor.
Os dois eixos estão presentes de modo quase constante ao longo de todo o livro, mas ganham sua face mais impressionante naquelas passagens em que as práticas e os discursos sobre os vadios são examinados com mais detalhe. Nesses momentos, a autora nos revela um percurso através do qual é construída uma memória estatal sobre determinados indivíduos. A primeira peça dessa memória é dada pelo exercício da observação policial concebida pelos próprios policiais como uma arte, um olhar treinado e capaz de identificar, em meio às multidões urbanas, as diferenças sutis que revelam o criminoso. Essa arte seria fruto de uma longa aprendizagem, sintetizada na expressão "fazer polícia". Uma vez identificado o provável criminoso, ele permanece na memória do investigador e de lá sairá quando ele, de alguma maneira, puder associar aquele indivíduo a um evento criminoso.
Mesmo que não seja possível capturar o suspeito no momento da ação, resta sempre aos policiais o recurso de uma prisão em flagrante por vadiagem. Essa prisão é formalizada em um documento, o registro de flagrante, primeiro testemunho documental do indivíduo, e o momento em que a memória se torna acessível ao conjunto dos agentes estatais, sob a forma da ficha nos arquivos policiais. Essa é a etapa na qual entram em ação outros agentes, como escrivães, escreventes e delegados. Por fim, uma sucessão de flagrantes compõe outro documento, a folha de antecedentes criminais, em que a memória se torna finalmente a história de um indivíduo criminoso.
Além do percurso em si mesmo, a autora nos revela também um conjunto de personagens que são os autores dessas histórias criminais: os próprios acusados, investigadores, escrivães, escreventes, delegados, médicos legistas, advogados e juízes.
O percurso é o mesmo para qualquer ação criminosa colhida em flagrante, mas Gomes da Cunha mostra a especificidade que ele assume quando direcionado à figura do vadio. Pois o flagrante de vadiagem opera não sobre uma ação criminosa, mas sobre uma atitude e uma aparência que a observação policial reputa suspeitas. Uma vez que a vadiagem é pensada como ante-sala do crime, por seu intermédio se opera a transformação do suspeito em contraventor, e logo em objeto do exercício das autoridades policial e judiciária. Mais do que uma ação policial que tem por objetivo prevenir as ações criminosas, encontramos aí uma espécie de criminalização preventiva de determinados indivíduos.
Tal perspectiva faz da vadiagem uma categoria de acusação que, uma vez acionada pelos policiais, põe em marcha aquele percurso da memória descrito pela autora e, ao longo do qual, constrói igualmente uma carreira moral para cada indivíduo identificado. Gomes da Cunha nos revela, assim, que os indivíduos presos no flagrante de vadiagem, por vezes, temiam mais a identificação, a partir da qual sua carreira moral tinha início, do que as condições humilhantes e violentas da prisão a que tinham sido submetidos.
Na memória estatal que tinha início com a identificação, eram inscritas tanto determinadas ações e eventos quanto certas características físicas e morais do indivíduo. E na intersecção de ambas era construída sua suspeição em relação a eventos futuros. O que se forjava aí era a idéia da reincidência. Em resumo, por meio do entrelaçamento de técnicas e discursos, os mecanismos de identificação atribuíam e construíam identidades sociais, como o vadio e o reincidente.
Gomes da Cunha nos mostra ainda como a construção e os resultados dessas memórias são parte da circulação de discursos entre a antropologia criminal e o saber policial, de modo que os arquivos nos quais eram depositadas serviam não apenas ao uso da polícia, mas também à consagração da ciência. Isto porque os métodos de identificação e análise do corpo do criminoso, desenvolvidos pela antropologia criminal, orientaram, mesmo que de forma precária, a prática policial de identificação. Ao mesmo tempo, foi sobre os criminosos capturados, alguns deles célebres, como Febrônio Índio do Brasil, e sobre os documentos produzidos pela polícia, que os antropólogos criminais brasileiros construíram parcela de suas análises e reputações.
Mapeando alguns nomes importantes da antropologia física que se praticava no Brasil, a autora mostra que a relação entre polícia e antropologia era também uma relação institucional. Isso aparece não apenas nos cargos ocupados por médicos e antropólogos no aparelho judiciário e policial, mas também nos projetos de reforma da polícia, que, sob a bandeira da construção de uma polícia científica, tentavam ordenar algumas práticas de identificação policial a partir de princípios da antropologia criminal. Contudo, isto não significa supor uma continuidade entre os dois tipos de prática. De fato, a autora identifica, desde o título do livro, uma distância, nunca resolvida, entre a intenção cientificista com que antropólogos e médicos projetavam reordenamentos da prática policial e os gestos característicos do senso comum acumulado no "fazer polícia".
Havia não apenas circularidade e distância entre os discursos policial e antropológico, mas um ponto de intersecção entre ambos: eles terminavam por se encontrar na construção de um personagem, o vadio; e na definição do modo de abordá-lo, pelo seu corpo. Policiais e antropólogos criminais reificavam esse personagem, na medida mesmo em que pensavam a prevenção tendo por referência o criminoso mais do que o crime. Os olhares antropológico e policial buscavam descobrir nos corpos os sinais da periculosidade. Neste sentido, identificar era, em grande medida, extrair dos corpos essas marcas significativas, relacionando-as aos crimes presumidos e futuros. Isso tornava a identificação um mecanismo de "defesa social".
É nessa ênfase no corpo como território no qual se lê a periculosidade em que se ancoravam as classificações raciais como princípio de entendimento das ações criminosas. Isto explica por que a introdução das técnicas datiloscópicas não eliminou das práticas policiais o esforço por identificar mais do que os dedos e suas marcas. E não eliminou também as lições que a antropologia criminal dera sobre a medição dos crânios e a perscrutação dos traços físicos. Pois, mais que nos dedos, era na totalidade do corpo que se buscavam os sinais de periculosidade. Entre esses sinais, a cor negra era uma presença das mais recorrentes, a ser interpretada a partir do que as teorias raciais ensinavam.
Essa articulação entre teorias raciais e cor como marca social é um dos aspectos importantes do livro. Como nos demonstra Gomes da Cunha, longe de conformarem uma oposição entre dois princípios de classificação das diferenças humanas, raça e cor funcionaram, nas práticas e discursos de policiais e antropólogos criminais, numa relação de continuidade. A partir das características substantivas atribuídas às raças, conferia-se à cor dos indivíduos identificados a propriedade de lhes sinalizar uma identidade social distinta. Segundo a autora:
"Observando os casos descritos, sobretudo nos três primeiros capítulos, o que parece estar em jogo é a forma pela qual, no Brasil, a cor sinaliza uma conotação degradante à própria noção de pessoa" (p. 531).
Ao se debruçar sobre as práticas e discursos nos quais as classificações raciais são atualizadas, Gomes da Cunha vai além das interpretações mais genéricas acerca do racismo no Brasil e resgata algumas das múltiplas formas pelas quais as classificações raciais são construídas como princípio ordenador de relações sociais. Mais ainda, enfoca um tipo particular de prática e de discurso: aquele que é posto em ação por agentes estatais. Duas das características fundamentais dessas práticas e discursos que partem do Estado são o seu poder de generalização e o fato de serem parte estruturante de relações de dominação. Logo, quando policiais e antropólogos criminais miram os corpos e suas cores para lê-los e identificá-los, constroem marcas sociais que serão amplamente reconhecidas daí em diante, fazendo da identificação não apenas um ato de conhecimento dos indivíduos, seus corpos e comportamentos, mas também um ato pedagógico que lhes ensina, ou melhor, rememora algo acerca da hierarquia e das relações de dominação na sociedade brasileira.
Para encerrar, devo dizer que é inescapável encontrar em Intenção e gesto os ecos férteis das lições de Michel Foucault sobre os cruzamentos entre poder e saber, e sua incidência sobre os corpos e sobre a construção das subjetividades no mundo contemporâneo. Por meio de uma complexa investigação da identificação dos vadios, Gomes da Cunha realiza um passo muito importante na construção de uma tão necessária genealogia do racismo no Brasil.
NOTA
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
01 Jul 2008 -
Data do Fascículo
Dez 2003