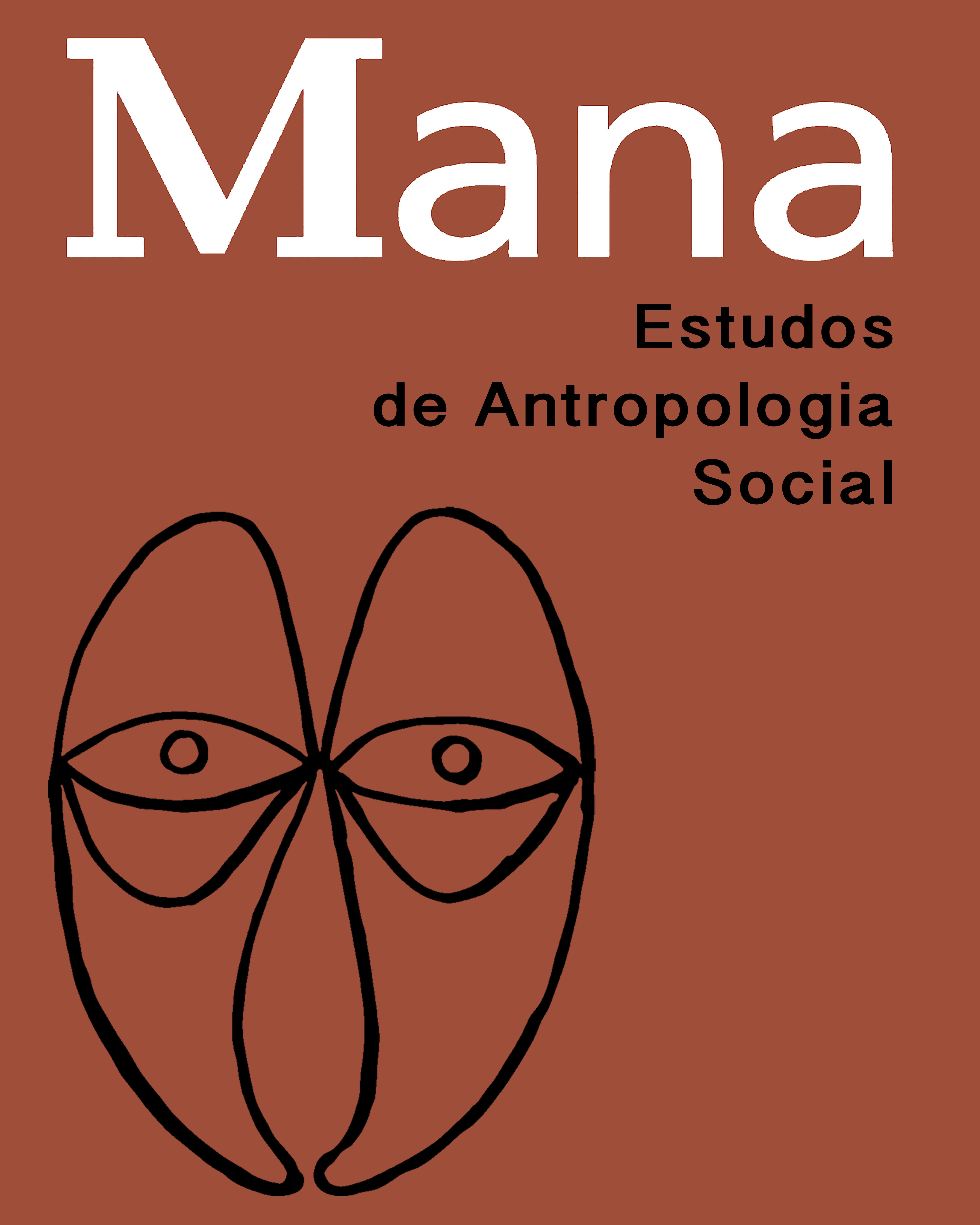The Unexceptional Case of Haiti é o livro de estreia do antropólogo haitiano Philippe-Richard Marius, atualmente professor assistente do departamento de sociologia e antropologia do College of Staten Island (CUNY) em Nova York. 2 2 Marius, além de um doutorado em antropologia cultural pela CUNY, tem também uma formação em artes visuais ( Bachelor of Fine Arts) pela Universidade de Nova York (NYU). Foi roteirista do filme A City Called Heaven (1998) e assistente de direção do filme Pueblo Sin Suerte (2002). Em uma entrevista para o podcast New Books in Caribbean Studies, Marius explica que o livro em questão é uma expansão do que analisou e estudou em sua tese de doutorado, concluída em 2015 e intitulada Privilege in Haiti: Travails in Color of the First Bourgeois Nation-State in the Americas. A entrevista, que pode ser ouvida em plataformas de áudio, é interessante para retomar aspectos de sua trajetória e ouvi-lo discorrer sobre os argumentos do livro. Resultado de um período de aproximadamente dois meses de pesquisa de campo intensiva em Porto Príncipe entre 2011 e 2012 e do contato com interlocutores da diáspora haitiana, o trabalho investiga os imbricamentos entre raça e classe a partir das narrativas das elites econômicas e culturais do país caribenho. Reconhecendo-se como parte das elites que pesquisa, Marius, que migrou ainda jovem para realizar seus estudos nos Estados Unidos, chama a atenção, já no prefácio do livro, para sua posição privilegiada de entrada em campo. Possuindo o que chama de “competências nas culturas ocidentais dominantes” (Marius 2022:67), característica marcante das elites haitianas, e salientando seu lugar de antropólogo “nativo”, estudando, segundo ele, os meios nos quais cresceu, Marius diz procurar exercitar durante a pesquisa a produção de um olhar crítico e distanciado para sua própria experiência no Haiti (2022:XVI).
Fazendo referência ao célebre antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot desde o título do livro - e também na dedicatória feita a ele nas primeiras páginas - o autor destaca o esforço já empreendido por Trouillot e relançado por ele de questionar a “excepcionalidade haitiana” ( Trouillot 2020TROUILLOT, Michel-Rolph. 2020. “O estranho e o ordinário: o Haiti, o Caribe e o mundo”. Vibrant, v. 17:1-8. https://doi.org/10.1590/1809-43412020v17j553
https://doi.org/10.1590/1809-43412020v17...
). Para isso, destaca na introdução do livro, que tem como objetivo complexificar a visão de senso comum que apreende o Haiti através do “tropo da República Negra” (Marius 2022:5). Se, por um lado, no Brasil, o mito da nação moderna se construiu a partir da ideia de miscigenação e de uma convivência harmoniosa entre as raças, gerando um “racismo por denegação”, como comenta Lélia Gonzales (2020GONZALES, Lélia. 2020. Por um feminismo Afro Latino Americano. Rio de Janeiro: Zahar.:130), por outro lado, no Haiti, é a construção de uma ideia de nação negra ancorada na Revolução que funda uma narrativa homogênea, escondendo, segundo o argumento do autor, as profundas desigualdades e as contradições envolvendo as classificações de cor que marcam as relações raciais no país.
Apesar de declarar estar baseado em uma etnografia, o livro de Marius recorre também à análise de documentos históricos e faz ampla revisão bibliográfica sobre a construção da nação haitiana. Dividido em oito capítulos, é somente a partir do quarto que sua etnografia propriamente dita parece ganhar corpo. Os três primeiros capítulos retomam alguns pontos da etnografia, mas estão mais baseados em uma análise historiográfica que parte da Revolução Haitiana (1791-1804), passando pela construção moderna do noirisme e chegando ao regime ditatorial duvalierista a partir de 1957. 3 3 O noirisme é um movimento intelectual e político que ganhou corpo no Haiti na primeira metade do século XX e que chegou a seu ápice quando se tornou base ideológica do regime duvalierista, entre 1957 e 1986. O noirisme, que salienta as origens africanas e negras do Haiti, teve suas raízes no final do século XIX com a criação do Parti National, se desenvolvendo com o indigenismo cultural alavancado por intelectuais e artistas a partir dos anos 1920, também em contraposição à ocupação militar norte-americana, que ocorreu entre 1915 e 1934. Já o duvalierismo é conhecido como o período de duração dos regimes populistas e ditatoriais de François Duvalier (1907-1971), que vai de 1957 a 1971 e, posteriormente, de seu filho Jean-Claude Duvalier (1951-2014), que vai de 1971 a 1986. Os governantes ficaram popularmente conhecidos como Papa-Doc e Baby-Doc, e também seu exército paramilitar conhecido pelo apelido de tonton-macoutes. Há uma extensa produção bibliográfica sobre o noirisme e as implicações políticas e sociais do regime dos Duvalier, mas para uma visão ampla da história haitiana recomendo ver Dubois (2012).
Buscando desconstruir a imagem de uma “negritude fetichizada do Haiti” (Marius 2022:12), o antropólogo apresenta no primeiro capítulo dados históricos que mostram a produção de hierarquias raciais desde a Revolução Haitiana. O autor dará ênfase à categoria dos african born bossales, em referência à parte da população nativa do continente africano que, no contexto da Revolução Haitiana, formaram as chamadas bandes rebelles. Estas eram grupos armados de combate ao sistema escravocrata que ao mesmo tempo se opunham à aliança crioula majoritária criada entre negros e mulatos para investir contra o domínio colonial francês. À época da proclamação da Independência do Haiti, os bossales, como retaliação, tiveram sua cidadania negada pelo Acte de l’Independence promulgado por Jean-Jacques Dessalines em 1804, configurando-se como uma população negra à margem do Estado haitiano. A imagem de uma unidade da população negra em oposição ao domínio colonial branco que predomina nas interpretações correntes da Revolução é, assim, contestada por esses dados que mostram que “no geral, a fundação do Haiti foi um Projeto crioulo” (Marius 2022:28).
No capítulo seguinte, Marius mostra como o uso das categorias de cor entre as elites mostra-se relacional na medida em que é compreendido à luz de sua articulação com os pertencimentos de classe e linguístico. O autor constata que mulatos e negros de elite, fluentes no crioulo haitiano e no francês, se diferenciam entre si por critérios de cor, mas, por oposição à população pobre e falante exclusivamente do crioulo haitiano, é a unidade de classe que prevalece entre eles. Ao longo do capítulo o autor destaca também, como dito anteriormente, que a construção do privilégio está ancorada no acesso e na reprodução de valores ocidentais e liberais. Próprias das elites haitianas, sejam elas mulatas ou negras, essas “competências nas culturas ocidentais” têm também uma dimensão aspiracional em meio às classes baixas (Marius 2022:67). No terceiro capítulo, o autor retoma aspectos da construção da ideologia noiriste, que instrumentaliza politicamente a negritude e funda um nacionalismo negro. Através de documentos da época, Marius realiza uma análise interessante do monumento Le Marron inconnu, estátua concebida pelo arquiteto Albert Mangonès e inaugurada em 1967 por François Duvalier em frente ao Palácio Nacional em Porto Príncipe e que, segundo o autor, funciona como “uma cooptação ideológica da marronagem” (2002:80). 4 4 De forma breve, pode-se dizer que marronagem é o termo usado para caracterizar os movimentos de resistência e fuga de pessoas escravizadas nas Antilhas durante o período colonial. Pode ser aproximado dos conceitos de aquilombamento ou quilombismo, usados no Brasil para caracterizar processos similares.
Os capítulos seguintes, mais etnográficos, se dedicam à análise dos reflexos contemporâneos do tratamento dado aos bossales no período da Revolução, revelando a permanência de práticas racializantes no tecido social haitiano contemporâneo. Neles, Marius mostra, através de sua relação com membros das elites haitianas, de que forma as noções de raça e cor são mobilizadas por negros e mulatos em distintas circunstâncias. Apesar de não ser o centro de sua etnografia, salta aos olhos a descrição da cidade de Porto Príncipe, com seus bares, restaurantes, casas coloniais no estilo ginger bread, ruas e avenidas por onde Marius circula com seus interlocutores. A Porto Príncipe das elites é um contraste interessante com a imagem reiterada da precariedade urbana da capital haitiana. Personagem importante, a cidade dá corpo às narrativas coletadas e à observação da vida cotidiana das classes médias e altas.
O capítulo quatro enfoca as relações de negros da elite com negros do “povo”, enquanto o cinco se concentra nas relações dos mulatos com os ideais da branquitude. Já os capítulos seis, sete e oito trazem o argumento central do livro, que é retomado na conclusão: as categorias de cor, assim como a distinção entre os falantes de francês e os do crioulo haitiano, produzem hierarquias sociais e “distinções”, no sentido bourdesiano, em uma sociedade profundamente desigual ( Bourdieu 2006BOURDIEU, Pierre. 2006. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Editora Zouk.). Nwá, nwé, rouge, brune e blan são algumas das categorias que aparecem mobilizadas pelos interlocutores de Marius e que a depender do contexto são utilizadas seja para caracterizar a si mesmo, ou ao “outro”, na tentativa de demarcar diferenças, especialmente relativas à classe.
Uma conversa realizada com um dos interlocutores no capítulo cinco resume bem a contradição que é explorada no livro: ao perguntar a um mulato se ele se considerava branco, o autor escutou: “Não. Sou haitiano” (2022:117). No mesmo dia, este mesmo interlocutor conta ao antropólogo que pela primeira vez estava em um relacionamento afetivo com uma mulher negra, mas que o namoro seguia em segredo, já que ele não se sentia confortável em assumi-la para os filhos e para a ex-mulher. O caso demonstra como a ausência da branquitude no repertório de definição da nação não impede que práticas coloristas baseadas na branquitude como parâmetro, tanto em termos de aparência quanto dos valores a ela associados, sejam amplamente praticadas no Haiti. O tabu da elite mulata em relação aos casamentos e às relações afetivas com pessoas negras, tema recorrente nas entrevistas feitas por Marius, deixa claro como o preconceito de cor se instrumentaliza no país.
Ao mesmo tempo em que interage com as elites mulatas, Marius se relaciona também com as elites negras e pessoas autodeclaradas black nationalists. Segundo ele, a identificação destas com as pessoas negras de classe popular se dá em determinadas circunstâncias, como em eventos artísticos e intelectuais, mas em outros momentos, quando seu privilegio de classe é ameaçado, a fronteira entre eles/as e “os/as outros/as negros/as” persiste e é o pertencimento de classe que fala mais alto. Novamente, o caso de um de seus interlocutores é emblemático: um homem negro da elite cultural que denuncia à prefeitura uma moradora de rua, também negra, por lavar roupa e tomar banho nas imediações de sua casa em um bairro nobre de Porto Príncipe. Ao perguntar sobre o porquê de sua atitude, a alegação do interlocutor é a de que estava preocupado com a “qualidade de vida na vizinhança” (2022:169). A tecnologia da racialização não seria portanto instrumento exclusivo da elite mulata, já que o discurso da unidade em torno da negritude encontra limite quando esbarra na desigualdade de classe. Para Marius, o processo de diferenciação via raça é, portanto, subalterno à exclusão promovida pela classe. Mulatas ou negras, diante da população pobre e falante exclusivamente do crioulo, as elites se articulam em torno de sua “unidade material” (2022:152).
O grande mérito do livro me parece estar na descrição das contradições existentes entre uma narrativa histórica que procura unificar a nação haitiana em torno da negritude e as múltiplas desigualdades e formas de se identificar em termos de raça e cor que marcam a vida cotidiana do país. Lembro que o argumento da preeminência da categoria de classe sobre a categoria de raça para explicar a desigualdade social defendido por Marius encontra ecos nas ciências sociais brasileiras, especialmente naquelas de matriz marxista. Florestan Fernandes talvez tenha sido o nome mais emblemático deste debate, ainda nos anos 1960 ( Fernandes 2008FERNANDES, Florestan. 2008. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Editora Globo.). De lá pra cá muitas críticas, as quais não cabe aqui retomar, já foram realizadas a essa abordagem nos contextos das sociedades pós-escravistas. Especialmente após o surgimento do conceito de interseccionalidade ( Krenshaw 2022KRENSHAW, Kimberlé. 2022. Intersectionality: The Essential Writings of Kimberlé Crenshaw. New York: New Press.) tornou-se difícil pensar em uma sobreposição desses marcadores sociais da diferença. Classe e raça estão de tal maneira articuladas enquanto categorias de produção da desigualdade que parece ser mais interessante buscar sua articulação que afirmar sua supremacia.
Referências
- BOURDIEU, Pierre. 2006. A distinção: crítica social do julgamento Porto Alegre: Editora Zouk.
- DUBOIS, Laurent. 2012. Haiti: The Aftershocks of History New York: Metropolitan Books.
- FERNANDES, Florestan. 2008. A integração do negro na sociedade de classes São Paulo: Editora Globo.
- GONZALES, Lélia. 2020. Por um feminismo Afro Latino Americano Rio de Janeiro: Zahar.
- KRENSHAW, Kimberlé. 2022. Intersectionality: The Essential Writings of Kimberlé Crenshaw New York: New Press.
- TROUILLOT, Michel-Rolph. 2020. “O estranho e o ordinário: o Haiti, o Caribe e o mundo”. Vibrant, v. 17:1-8. https://doi.org/10.1590/1809-43412020v17j553
» https://doi.org/10.1590/1809-43412020v17j553
Notas
-
1
Este livro me foi apresentado e esta resenha foi escrita por estímulo de Alessandra Benedict-Kokken, a quem agradeço pela interlocução estimulante em torno das socialidades haitianas. À Igor Rolemberg agradeço pela leitura e a revisão da primeira versão do texto.
-
2
Marius, além de um doutorado em antropologia cultural pela CUNY, tem também uma formação em artes visuais ( Bachelor of Fine Arts) pela Universidade de Nova York (NYU). Foi roteirista do filme A City Called Heaven (1998) e assistente de direção do filme Pueblo Sin Suerte (2002). Em uma entrevista para o podcast New Books in Caribbean Studies, Marius explica que o livro em questão é uma expansão do que analisou e estudou em sua tese de doutorado, concluída em 2015 e intitulada Privilege in Haiti: Travails in Color of the First Bourgeois Nation-State in the Americas. A entrevista, que pode ser ouvida em plataformas de áudio, é interessante para retomar aspectos de sua trajetória e ouvi-lo discorrer sobre os argumentos do livro.
-
3
O noirisme é um movimento intelectual e político que ganhou corpo no Haiti na primeira metade do século XX e que chegou a seu ápice quando se tornou base ideológica do regime duvalierista, entre 1957 e 1986. O noirisme, que salienta as origens africanas e negras do Haiti, teve suas raízes no final do século XIX com a criação do Parti National, se desenvolvendo com o indigenismo cultural alavancado por intelectuais e artistas a partir dos anos 1920, também em contraposição à ocupação militar norte-americana, que ocorreu entre 1915 e 1934. Já o duvalierismo é conhecido como o período de duração dos regimes populistas e ditatoriais de François Duvalier (1907-1971), que vai de 1957 a 1971 e, posteriormente, de seu filho Jean-Claude Duvalier (1951-2014), que vai de 1971 a 1986. Os governantes ficaram popularmente conhecidos como Papa-Doc e Baby-Doc, e também seu exército paramilitar conhecido pelo apelido de tonton-macoutes. Há uma extensa produção bibliográfica sobre o noirisme e as implicações políticas e sociais do regime dos Duvalier, mas para uma visão ampla da história haitiana recomendo ver Dubois (2012DUBOIS, Laurent. 2012. Haiti: The Aftershocks of History. New York: Metropolitan Books.).
-
4
De forma breve, pode-se dizer que marronagem é o termo usado para caracterizar os movimentos de resistência e fuga de pessoas escravizadas nas Antilhas durante o período colonial. Pode ser aproximado dos conceitos de aquilombamento ou quilombismo, usados no Brasil para caracterizar processos similares.
Editado por
Editora-Chefe:
Editor Associado:
Editora Associada:
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Maio 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
15 Nov 2023 -
Aceito
21 Fev 2024