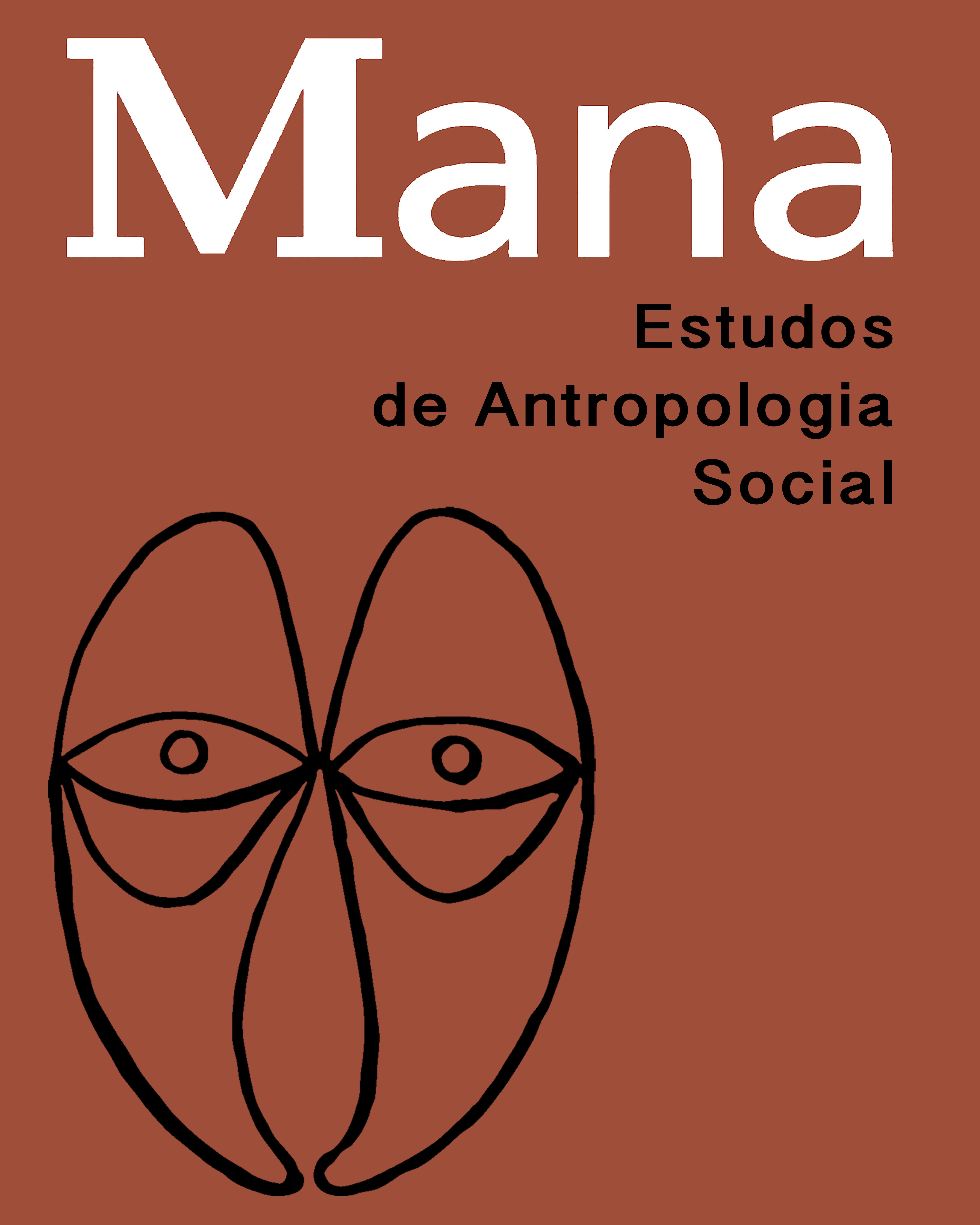RESENHAS
CHAVES, Christine Alencar. 2000. A Marcha Nacional dos Sem-Terra: Um Estudo sobre a Fabricação do Social. Rio de Janeiro: Relume-DumaráUFRJ. 446 pp.
Antonádia Monteiro Borges
Doutoranda, UnB
A Marcha Nacional dos Sem-Terra: Um Estudo sobre a Fabricação do Social é uma versão revista da tese de doutorado da antropóloga Christine Alencar Chaves, defendida na Universidade de Brasília. Na esteira de uma produção acadêmica voltada à compreensão antropológica dos fenômenos políticos, o presente estudo singulariza-se como etnografia de um ritual. Partindo de perguntas sociológicas clássicas como efetivamente o social é fabricado? Onde se fundam as representações sociais? , a autora sustenta uma resposta certeira, não menos canônica: através de ações sociais ou, mais precisamente, através de atos de sociedade.
O ato em questão é a Marcha Nacional pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça, conhecida como "a Marcha do MST". A Marcha seria "uma forma social elementar", que a autora procura compreender a partir de uma abordagem performativa, isto é por meio da análise antropológica de rituais. Partindo de São Paulo, Governador Valadares e Cuiabá, três colunas, formadas por pessoas de diversas procedências, percorreram durante dois meses ininterruptos o longo caminho que as separava da capital federal. Em 17 de abril de 1997, os peregrinos em fileiras chegaram a Brasília. Sem-terras, desempregados e injustiçados de toda ordem se uniam como marchantes em uma cruzada política sem precedentes. A data escolhida marcava um ano de luto pela morte de dezoito trabalhadores no massacre de Eldorado dos Carajás. Caminhantes seculares, cujo solo moral segundo a autora é a nação, encontravam na Marcha a oportunidade de criar e recriar seus lugares no mundo, para além de onde partiram.
É sobre o ritual dessa travessia que se debruça Christine Chaves. A autora acompanha os passos trilhados por centenas de homens e algumas dezenas de mulheres entre a Praça da Sé (SP) e a Praça dos Três Poderes (Brasília). Na Marcha, acompanhando um grupo paranaense, ou fora dela, a etnógrafa procura atentar para o que se passa nas estradas, nos acampamentos diários, nos comícios e também para o que ocorre em outras tribunas: na mídia, no governo e nas coordenações centrais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Sintetizando uma caminhada de gerações, a Marcha ainda expressava, metonimicamente, as experiências de acampamento e assentamento por que passaram muitos dos marchantes: cada dia era também "um ensaio e uma repetição, em ponto menor, da própria Marcha nacional" (:91). A autora inclui a participação na Marcha como uma faceta do processo de formação dos sem-terra. Os marchantes foram escolhidos em assembléia, nas suas regiões de origem, por serem considerados militantes qualificados para o que se tinha como um sacrifício. As assembléias, como vemos em todo o livro, são espaços sociais legítimos para a efervescência e a vazão de juízos morais. Tratava-se, portanto, de eleitos que em holocausto seriam oferecidos em nome do sagrado sendo este relativo ora à terra, ora ao próprio MST. Como em um rito de passagem, esses homens e mulheres, cobertos de chagas e júbilo, retornariam aos seus, como peregrinos contemplados.
Essas imagens próprias de uma matriz cristã, atualizadas através do catolicismo popular, são exploradas ao máximo pela autora. A Marcha é um rito de sacralização do MST, de redenção do sem-terra. Com perspicácia, Christine constrói o primeiro capítulo como uma espécie de gênese da Marcha, com seis dias de peregrinação e um sétimo de descanso e redenção. A redenção é comprovada pelo saldo mostrado aos marchantes através do apoio de outros trabalhadores, dos comunicados do próprio MST e das notícias desabonadoras veiculadas nos meios de comunicação. Na primeira semana, as agruras da viagem ainda não haviam se mostrado por completo. Caminhando no populoso Estado de São Paulo, os sem-terra ainda não tinham se deparado com os terríveis problemas que se abateriam sobre a Marcha, problemas que também seriam uma síntese extrema e trágica das condições de vida de todos os que nela estavam representados.
Além disso, os sem-terra marchantes e a Marcha em si eram índices que apontavam também para os interpretantes, para a multidão que os via passar. Qualquer um, o morador da cidade do interior ou o editor do grande jornal metropolitano, todos que observavam os passantes, mais ou menos distantes, dirigiam seu olhar para a terra, para pés que pisavam o chão. A terra tornava-se um símbolo comum, mesmo que com sentidos distintos: "a Marcha inteira comunicava" (:71).
A multiplicidade de interpretações fazia com que o símbolo terra se desdobrasse em outro: a luta. Em torno da terra lutavam diversos setores e havia lógicas distintas dentro de um mesmo grupo. Valores seculares, como a democracia, conviviam e também entravam em conflito com outros atemporais, como a providência divina. Para a autora, o MST não se mostrava um ator político ordinário. Tanto o repertório político então acionado quanto suas expressões de luta não se davam no mundo tradicional da política, mundo este associado no senso comum a regras burocráticas, a concepções iluministas conformadoras do Estado-nação, a noções de direito e cidadania e, ainda, ao clientelismo essa prática "tradicional brasileira".
É nesse sentido que a abordagem performativa utilizada pela autora se mostra adequada para interpretar tal fenômeno. A etnografia da Marcha expande e caracteriza de um modo novo o universo da política. Mesmo sendo de caráter proposicional e planejado, o efeito (perlocucionário) do ato ou da palavra proferida na Marcha ultrapassa seu sentido referencial. A Marcha passou a ser muito mais que um mero caminhar. Entrelaçando esses vínculos, Christine Chaves oferece-nos um quadro minucioso da organização da Marcha e, tangencialmente, do próprio MST. Vemos um exército que se estende em fileiras pelo campo de batalha. Próximos ao front não por acaso as perigosas BRs , os soldados; longe dali, nas funções de estratégia, os comandantes desse movimento. Os soldados lutavam por bandeiras que levavam consigo, à frente do grupo, durante todo o percurso: a bandeira do MST e a bandeira do Brasil. Uniformizados, de bonés, camisetas, sandálias havaianas e capas amarelas para enfrentar as chuvas, esses soldados sabiam que "um passo a mais era um passo a menos" (:94) rumo à vitória.
Entretanto, como se esses sinais não lhes bastassem, encenavam todos os dias a sua "mística", essa concepção nativa que a autora trata de desvendar. A mística atualiza-se em forma de atos rituais, sendo também um sentimento. Através dela o indivíduo se sente incitado por algo inexplicável, mágico como resume um assentado: "a gente sente na carne a coisa". Uma reflexão maussiana a respeito desse fenômeno não é apenas adequada, como necessária. É um outro marchante que nos leva a concluir: "fizemos o ato mais para nós mesmos".
A Marcha é, portanto, um exercício de compreensão, para o nativo, para a etnógrafa e para todos nós. Uma compreensão que se dá com a travessia, como na costura mimética feita a cada passo entre campo e cidade, intercalados pelos marchantes. Dessa costura nasce mais do que um texto, mas uma espécie de colcha de retalhos, que cada marchante levou consigo até Brasília e de lá para o mundo uma mensagem de todos para todos. O marchante é o mensageiro, o bardo. Nesse ponto parece residir a força simbólica da caminhada (:100).
Christine Chaves convence-nos da importância da etnografia pela qualidade peculiar do seu trabalho de campo: o deslocamento simultâneo de nativos e antropóloga. Outro aspecto fundamental dessa construção etnográfica éo uso dos diários escritos por dois marchantes, José e Antônio. As vozes e versões dos três são confrontadas, sobrepostas, dando ao texto uma densidade concreta de múltiplas vozes e sentidos. Através dos diários, somos conduzidos a experiências de toda ordem e assim passamos a ouvir a voz da "massa", também chamada, em momentos de crise, de lúmpen, pela própria "direção" da Marcha. Essas animosidades se traduzem em uma guerra de habitus. A maioria dos marchantes era acampada e não assentada. Sua formação ainda não estava completa: a Marcha era o rito de passagem necessário para tal. Muitos, porém, não suportaram as agruras do caminho, como ilustra um sem-terra: "a maldade dos amigos". As demandas por água, comida, fumo e havaianas foram sendo silenciadas à medida que o medo tomava seu lugar entre os marchantes. Quanto mais próximos de seu objetivo final, a chegada a Brasília, mais eles receavam um desfecho funesto. O silêncio imperava no fim da Marcha. Como resumiu magistralmente um marchante: "no combate não se conversa: é a morte". Ao longo do caminho, marchantes foram expulsos, por indisciplina associada em geral ao consumo excessivo de álcool ou pela suspeita mais grave de se tratar de infiltrados. Essas decisões eram tomadas em assembléias e levadas a cabo pelos marchantes responsáveis pela segurança. Somente quando da expulsão dos infiltrados estes eram entregues à polícia.
Por fim, destaco dois episódios para sintetizar a chegada triunfal da Marcha Nacional a Brasília, descrita com minúcia por Christine Chaves. Os "combalidos marchantes", alquebrados depois da longa travessia, protagonizaram um episódio de valor simbólico inestimável para a compreensão do significado da Marcha. Ao longo dos milhares de quilômetros caminhados, os sem-terra viram seus corpos se esvaecerem. Porém, como se todo esse sacrifício não bastasse, chegando à cidade, com os pés em carne viva, os marchantes ainda se dirigiram a um hemocentro local para doar seu sangue! Passado esse sacrifício coletivo, no dia 19 de abril, dois dias após o assalto à capital federal, viram tombar, queimado nas ruas do Plano Piloto, um índio Pataxó Hã-Hã-Hãe. Aqueles que ainda estavam acampados em Brasília encenaram um ato público repudiando o assassinato de Galdino Jesus dos Santos. Ao vasto repertório da Mística dos sem-terra se acrescia mais um triste fato. A revolta de todos se converteu então em energia social para uma luta que nitidamente não era apenas dos sem-terra.
Como vemos, o texto de Christine Chaves e dos outros marchantes, Antônio e José coloca-nos em contato com os elementos usados nas místicas e em protestos às ações governamentais. Estes são levados a falar por si. É beira da estrada, a bandeira do MST é animada, tornada uma espécie de ventríloquo e se põe a falar de seus anseios. Essa mágica simpática, no sentido preconizado por Frazer, se dá de forma semelhante em outras ocasiões. Os marchantes, por exemplo, atearam fogo em um boneco do Ministro Jobim e em um outro do Tio Sam. Quando em Brasília, os sem-terra ainda destroçaram o Ministro Jungman e o Presidente Cardoso, arremessando-lhes raízes de mandioca. Como bem sugere a autora: "o rito é o criador da força e do poder mágico, isto é, da crença coletiva que, justamente por ser coletiva, é dotada da noção de poder eficiente" (:87). Ao presidente não restou outra alternativa do que ir "se queixar ao Papa", em uma viagem que fez ao Vaticano durante o período da Marcha, já que os bispos locais já haviam manifestado seu apoio aos marchantes, em carta da CNBB.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Abr 2002 -
Data do Fascículo
Out 2001