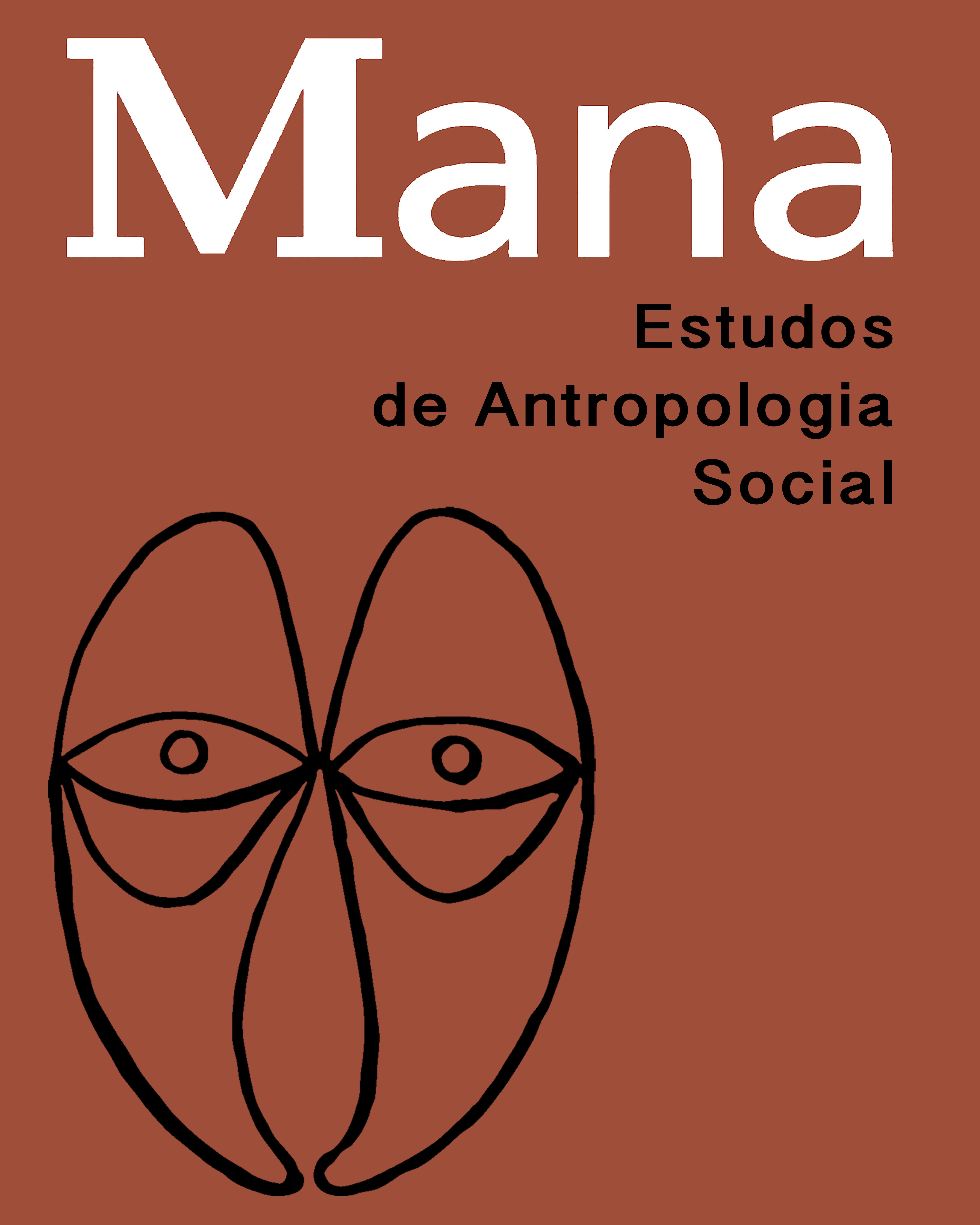Resumo
Tomando como ponto de partida o projeto comparativo entre o Caribe e o Brasil, originalmente idealizado por Louis Herns Marcelin (1996), o artigo se articula em torno de dois eixos de reflexão. Primeiramente, busco estabelecer um diálogo entre a obra deste autor e algumas questões centrais nas etnografias sobre o Haiti e o Caribe, como a conjugalidade e a matrifocalidade. Procuro mostrar como o trabalho de Marcelin sobre parentesco e domesticidade entre as famílias das chamadas “classes populares” do Recôncavo Baiano é inovador não só porque coloca a casa no centro de suas análises, mas também por elaborar a noção de “configurações de casas”, atentando para sua dimensão relacional, assim como para a daqueles que as habitam. Num segundo momento, chamo a atenção para uma série de caminhos que as discussões presentes na tese do autor permitem explorar para além da casa: temas relativos ao sangue, à violência e à mobilidade das pessoas. Finalmente, o texto registra meu interesse atual e particular a respeito das relações entre casas (em sua acepção mais abrangente que compreende os lugares onde se vive ou de onde se é originário) e pessoas, assim como quanto ao potencial do sangue como veículo portador e transmissor de parentesco e de atributos morais.
Palavras-chave:
Marcelin; Haiti; Casas; Parentesco
Abstract
Taking as a starting point the comparative project between the Caribbean and Brazil, as originally envisaged by Louis Herns Marcelin (1996), the article is articulated around two axes of reflection. First, I seek to establish a dialogue between this author's work and some central issues in ethnographies about Haiti and the Caribbean, such as conjugality and matrifocality. I show how Marcelin's work on kinship and domesticity among the families of the so-called “popular classes” of the Recôncavo Baiano is innovative: not only because it places the house at the center of his analyses, but also because it elaborates the notion of “house configurations”, paying attention to their relational dimension, as well as to those who inhabit them. I then draw attention to a series of paths that the the author's thesis allow us to explore beyond the home: themes related to blood, violence, and people's mobility. Finally, the text registers my current and specific interest in the relationships between houses (in their broadest sense, which includes the places where one lives or from where one originates) and people, as well as the role of blood as a carrier and transmitter of kinship and moral attributes.
Keywords:
Marcelin; Haiti; Houses; Kinship
Resumen
Tomando como punto de partida el proyecto comparativo entre el Caribe y Brasil, originalmente concebido por Louis Herns Marcelin (1996), el artículo se construye en torno a dos ejes de reflexión. En primer lugar, busco establecer un diálogo entre la obra de este autor y algunos temas centrales de las etnografías sobre Haití y el Caribe, como la conyugalidad y la matrifocalidad. Intento mostrar cómo el trabajo de Marcelin sobre el parentesco y la domesticidad entre las familias de las llamadas “clases populares” del Recôncavo Baiano es innovador: no solo porque sitúa la casa en el centro de sus análisis, sino también porque elabora la noción de “configuraciones de casas” prestando atención a su dimensión relacional, así como a quienes las habitan. En un segundo momento, llamo la atención sobre una serie de caminos que las discusiones presentes en la tesis del autor nos permiten explorar más allá del hogar: temas relacionados con la sangre, la violencia y la movilidad de las personas. Finalmente, el texto registra mi interés actual y particular por las relaciones entre los hogares (en su sentido más amplio, que incluye los lugares donde se vive o se origina) y las personas, así como el potencial de la sangre como portadora y transmisora de parentesco y atributos morales.
Palabras clave:
Marcelin; Haití; Casas; Parentesco
No prefácio da tese, Louis Herns Marcelin (1996MARCELIN, Louis Herns. 1996. A invenção da família afro-americana: família, parentesco e domesticidade entre os negros do Recôncavo da Bahia. Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.) informa aos leitores que desejava fazer um projeto comparativo entre o Brasil e o Caribe. Trata-se, sem dúvida, de um projeto bem ambicioso e é sobre ele que vou tecer meus primeiros comentários. Como a ideia de Marcelin era a comparação, começarei estabelecendo alguns pontos de reflexão entre a etnografia de Marcelin, realizada no Recôncavo Baiano, e a tese Marriage is 20, children are 21: the cultural construction of conjugality and the family in rural Haiti, de Ira Paul Lowenthal, defendida em 1987LOWENTHAL, Ira Paul. 1987. Marriage is 20, children are 21: the cultural construction of conjugality and the family in rural Haiti. Tese de Doutorado, The Johns Hopkins University., praticamente dez anos antes que a de Marcelin. Embora o objeto de Lowenthal tenha sido a construção da conjugalidade no Haiti, ele, assim como Marcelin, estava preocupado com certa visão normativa das ciências sociais sobre as famílias afro-caribenhas. Uma perspectiva ocidental que normaliza e naturaliza a família em sua forma patriarcal e nuclear, desconsiderando e tornando anômala uma série de outras configurações possíveis como, por exemplo, as chamadas famílias extensas e formadas por redes matrilineares.
Marcelin, ao mostrar como essas famílias pertenciam a classes populares e, ao mesmo tempo, eram afrodescendentes, adicionou à discussão um componente de classe que, apesar de apontado, não chega a ser desenvolvido por Lowenthal. Famílias tratadas (muitas vezes implicitamente) como “carentes” pelos pesquisadores e observadas sempre a partir da falta de algo, neste caso, principalmente, da figura do pai - uma discussão que está na origem do conceito de matrifocalidade, proposto por Robertson Smith (1996SMITH, Raymond T. 1996. The matrifocal family: Power, pluralism, and politics. New York: Routledge.) como uma chave para compreender as relações familiares no Caribe. Segundo o autor, nas famílias matrifocais, as mulheres em seus papéis de mães assumiriam uma proeminência no universo doméstico em detrimento da fraca presença dos homens como pais dentro das casas. Embora Smith esteja se contrapondo à ideia de um padrão familiar ocidental normal, sua explicação para o surgimento das famílias matrifocais - atribuído a fatores contingentes como, por exemplo, a pobreza - é vista como problemática tanto por Lowenthal quanto por Marcelin, que apontam para a existência de fatores étnicos e culturais que não podem ser eclipsados por uma condição de classe social.
Somando-se a essas discussões, é interessante notar que ainda que Lowenthal não proponha, como Marcelin, um olhar especial para a casa, ele inicia seu trabalho tecendo uma crítica na qual a casa emerge como o cenário principal. Ele traz as seguintes elaborações feitas por Edith Clarke (1957CLARKE, Edith. 1957. My mother who fathered me: a study of the families in three selected communities of Jamaica. Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago: The University of the West Indian Press.):
O antropólogo à procura da família vê primeiro a casa, rodeada por outras casas em quintais na terra da família [...] Dentro da casa, seja uma cabana ou uma choupana, é abrigado, por algum período do dia ou da noite, parte de um grupo sobre o qual é esse estudo. Mas qual parte dele? Encontraremos na maioria destas casas pais e seus filhos; ou mães apenas com suas filhas e com os filhos de suas filhas; ou um homem e uma mulher com apenas alguns de seus filhos?
Partindo dessas afirmações, Lowenthal questiona: serão os chalés (as choupanas), o verdadeiro locus da família? A pergunta, obviamente, é uma provocação do autor a Clarke que, segundo ele, toma como um dado que as casas são o lugar da família e que o antropólogo encontrará, observando essas casas, apenas uma parte dessa família; o que nos leva a imaginar que a autora também naturaliza uma certa ideia a respeito do que seria uma família completa. Lowenthal segue argumentando que está interessado em como se produzem os padrões de conjugalidade entre homens e mulheres (como esposas e maridos) e entre pais/mães e seus filhos. Fazendo esse percurso, ele chega, na parte final de seu trabalho, à família, às questões relativas à transmissão de herança e aos lakou haitianos que, sendo um terreno de ocupação e reprodução familiar, podem ser vistos como uma espécie de materialização imediata do conceito que Marcelin desenvolve de “configuração de casas”.
Marcelin apresenta a casa e a ideia de que ela não pode ser pensada sozinha, mas sim no âmbito de uma rede, justamente uma configuração de casas, logo no início da tese, como um ponto importante de observação não apenas da família, mas também das particularidades da família negra no Recôncavo Baiano, particularidades estas que se relacionam com determinadas marcas corporais que acabam influenciando, inclusive, a escolha dos parceiros conjugais e a circulação de crianças, apenas para citar alguns exemplos de assuntos que as duas teses (a de Marcelin e a de Lowenthal) têm em comum.
Então, voltando à provocação inicial de Lowenthal a respeito das questões colocadas por Edith Clarke sobre se, no fim das contas, seriam as casas o verdadeiro locus da família (e de qual família se estaria falando), gostaria de sugerir uma interrogação sobre as possibilidades de discussões e assuntos que podem ser trabalhados e que, na verdade, já vêm sendo trabalhados desde a tese de Marcelin, inovadora ao propor um olhar para essa casa que não é única, separada das outras, que justamente deve ser pensada a partir da configuração de relações à qual pertence.
Nesse sentido, o que, além da família e da sua produção cotidiana, podemos observar quando olhamos para a casa? Podemos encontrar algumas respostas na própria tese, alguns pontos mais elaborados, como a questão do sangue, e outros apenas indicados, mas que vêm sendo tratados com mais ênfase pelos seus leitores. Penso, em especial, nas pesquisas feitas no Haiti e com a diáspora haitiana a partir do Brasil que, atentas às casas e às dinâmicas da construção da família, destacam a mobilidade das pessoas, suas redes de relações, a circulação das crianças, a violência (Dalmaso 2014DALMASO, Flávia F. 2014. Kijanmounyoye? As pessoas, as casas e as dinâmicas da familiaridade em Jacmel/Haiti. Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro., 2019EVANGELISTA, Felipe. 2019. “Comércio”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens . pp. 101-129.; Fiod 2019FIOD, Ana. 2019. “Feitiço”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens . pp. 193-228.; Joseph 2015JOSEPH, Handerson. 2015. “Diáspora: sentidos sociais e mobilidades haitianas”. Horizontes Antropológicos, 21 (43):51-78., 2019JOSEPH, Handerson. 2019. “Diáspora”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens . pp. 229-258.; Montinard 2020MONTINARD, Mélanie. 2020. “Pran wout la: experiências e dinâmicas da mobilidade haitiana”. Vibrant, 17:1-22.; Braum 2014BRAUM, Pedro. 2014. Rat pa kaka: Política, Desenvolvimento e Violência no Coração de Porto Príncipe. Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro., Evangelista 2019EVANGELISTA, Felipe. 2019. “Comércio”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens . pp. 101-129.; Bulamah 2013BULAMAH, Rodrigo. 2013. O cultivo dos comuns: parentesco e práticas sociais em Milot, Haiti. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).; Neiburg 2017NEIBURG, Federico G. 2017. “Serendipitous Involvement: making peace in the Gueto”. In: D. Fassin (org.) If truth be told: the politics of public ethnografy. Durham and London: Duke University Press. pp. 119-137.). Caminhos abertos que agora estão sendo pensados e trilhados por aqueles que partem da “casa” como objeto de reflexão.
Outros pontos que a leitura de Marcelin provoca estão mais diretamente relacionados aos meus interesses mais recentes. O primeiro tem a ver com a ideia que Marcelin já havia sugerido na tese e que vem sendo desenvolvida especialmente por João de Pina-Cabral (2013PINA-CABRAL, João de. 2013. “The core of affects: namer and named in Bahia (Brazil)”. Journal of the Royal Anthropological Institute , 19:75-101.) e Janet Carsten (2018CARSTEN, Janet. 2018. “Houses Lives as ethnography/biography”. Social Anthropology, 26 (1):103-116.). Trata-se da relação entre casas e pessoas, ou nas palavras de Carsten (2018:103CARSTEN, Janet. 2018. “Houses Lives as ethnography/biography”. Social Anthropology, 26 (1):103-116.), de explorar “a interseção entre biografia e etnografia por meio de uma antropologia da casa”, o que, no meu caso, se revela na importância das casas e, num sentido mais abrangente, dos lugares onde se vive ou de onde se é originário, na própria constituição da pessoa e de sua historicidade familiar (Dalmaso 2018, 2019DALMASO, Flávia F. 2019. “Família”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens. pp. 53-89.).
Já o segundo ponto tem a ver com uma reflexão sobre o sangue propriamente dito. Na tese, Marcelin aponta para a relevância do princípio do sangue na construção do parentesco, mas também para a importância da “consideração”, sem a qual um parente pode acabar deixando de ser considerado parente. Embora esta ideia esteja presente nos meus estudos sobre o Haiti, tenho estado particularmente interessada - e aqui novamente inspirada por Janet Carsten (2013CARSTEN, Janet. 2013. “Introduction: blood will out”. Journal of the Royal Anthropological Institute, 19:01-23.) - em focar no sangue e em sua capacidade de atuar como um veículo transmissor não só de parentesco, mas também de atributos morais, tal como já notado em relação ao Haiti por Drexel Woodson (1990WOODSON, Drexel G. 1990. Tout mounn se mounn, men tout mounn pa menm: micro level sociocultural aspects of land tenure in a northern haitian locality. Tese de Doutorado, The University of Chicago.), de heranças imateriais e dessa historicidade familiar que acabo de mencionar.
Referências bibliográficas
- CLARKE, Edith. 1957. My mother who fathered me: a study of the families in three selected communities of Jamaica Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago: The University of the West Indian Press.
- BRAUM, Pedro. 2014. Rat pa kaka: Política, Desenvolvimento e Violência no Coração de Porto Príncipe Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- BULAMAH, Rodrigo. 2013. O cultivo dos comuns: parentesco e práticas sociais em Milot, Haiti Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
- CARSTEN, Janet. 2018. “Houses Lives as ethnography/biography”. Social Anthropology, 26 (1):103-116.
- CARSTEN, Janet. 2013. “Introduction: blood will out”. Journal of the Royal Anthropological Institute, 19:01-23.
- DALMASO, Flávia F. 2019. “Família”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas Rio de Janeiro: Papéis Selvagens. pp. 53-89.
- DALMASO, Flávia F. 2014. Kijanmounyoye? As pessoas, as casas e as dinâmicas da familiaridade em Jacmel/Haiti Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- EVANGELISTA, Felipe. 2019. “Comércio”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas Rio de Janeiro: Papéis Selvagens . pp. 101-129.
- FIOD, Ana. 2019. “Feitiço”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas Rio de Janeiro: Papéis Selvagens . pp. 193-228.
- JOSEPH, Handerson. 2019. “Diáspora”. In: F. Neiburg (org.), Conversas etnográficas haitianas Rio de Janeiro: Papéis Selvagens . pp. 229-258.
- JOSEPH, Handerson. 2015. “Diáspora: sentidos sociais e mobilidades haitianas”. Horizontes Antropológicos, 21 (43):51-78.
- LOWENTHAL, Ira Paul. 1987. Marriage is 20, children are 21: the cultural construction of conjugality and the family in rural Haiti Tese de Doutorado, The Johns Hopkins University.
- MARCELIN, Louis Herns. 1996. A invenção da família afro-americana: família, parentesco e domesticidade entre os negros do Recôncavo da Bahia Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- MONTINARD, Mélanie. 2020. “Pran wout la: experiências e dinâmicas da mobilidade haitiana”. Vibrant, 17:1-22.
- NEIBURG, Federico G. 2017. “Serendipitous Involvement: making peace in the Gueto”. In: D. Fassin (org.) If truth be told: the politics of public ethnografy Durham and London: Duke University Press. pp. 119-137.
- PINA-CABRAL, João de. 2013. “The core of affects: namer and named in Bahia (Brazil)”. Journal of the Royal Anthropological Institute , 19:75-101.
- SMITH, Raymond T. 1996. The matrifocal family: Power, pluralism, and politics New York: Routledge.
- WOODSON, Drexel G. 1990. Tout mounn se mounn, men tout mounn pa menm: micro level sociocultural aspects of land tenure in a northern haitian locality Tese de Doutorado, The University of Chicago.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Set 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
23 Jul 2021 -
Aceito
23 Jul 2021