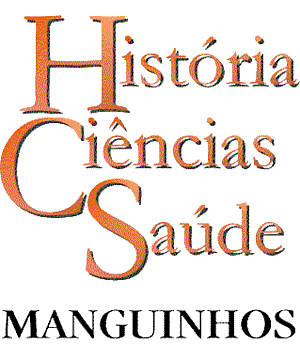MAGALHÃES, Rodrigo César da Silva.
MAGALHÃES, Rodrigo César da Silva.
O alerta máximo diante da recente epidemia de microcefalia no Brasil está correlacionado ao zika, vírus mais temido transmitido pelo Aedes aegypti na atualidade. No entanto, outras doenças foram e ainda são transmitidas pelo mosquito, como febre amarela, dengue e febre chikungunya. O livro A erradicação do Aedes aegypti: febre amarela, Fred Soper e saúde pública nas Américas (1918-1968), de Rodrigo César da Silva Magalhães, fruto da tese de doutorado defendida no Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, da Casa Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 2013, constitui extensa e cuidadosa análise sobre a historicidade do combate ao vetor e traz contribuição inestimável ao estudo do controverso método de erradicá-lo, bem como do contexto político internacional em que foi utilizado.
A obra é dedicada a historicizar os primórdios da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, implementada pela Fundação Rockefeller em 1918, passando por sua reformulação com a Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti nas Américas, sob os auspícios da Organização Sanitária Pan-americana (OSP) em 1947. O recorte final trata do impacto do abandono da campanha pelos EUA em 1968, causando a reinfestação do continente americano pelo mosquito. Na introdução, o autor apresenta seus personagens, bem como a estrutura da obra, centrada na perspectiva da continuidade entre as duas campanhas. Ao longo do texto, encontram-se os diálogos teóricos que impulsionaram o autor a problematizar a questão, a começar pelo tratamento dado pela historiadora Nancy Stepan aos programas como distintos em suas metas de erradicação (p.42).
Em análise consistente, o leitor encontra três argumentos significativos sobre o elo entre um programa e outro: primeiro, o protagonismo do médico sanitarista Frederick Lowe Soper nas duas etapas; segundo, o uso norteador do conceito de erradicação; e terceiro, o argumento de Rodrigo Magalhães recai na importância dos sanitaristas brasileiros, inicialmente como colaboradores da Fundação Rockefeller, na coordenação de todas as fases da campanha continental em diversas repúblicas americanas, por meio do Serviço Nacional de Febre Amarela. Diante da fortuna temática e analítica do trabalho, resenhá-lo em poucas linhas torna-se um desafio. Portanto, preferiu-se abortar alguns traços fortes dos dois primeiros argumentos que embasam sua perspectiva da continuidade, quais sejam: a liderança de Fred Soper e o método da erradicação.
Frederick Lowe Soper, ou Fred Soper, é o personagem principal da obra. Motivado pela percepção de que sua memória ainda está presa à carreira operacional na saúde pública, Magalhães destaca o protagonismo político do médico norte-americano na articulação da cooperação interamericana nas Américas, tanto como representante da Fundação Rockefeller nas Américas no entreguerras quanto como diretor da OSP após a Segunda Guerra Mundial. De acordo com a hipótese do autor, tal cooperação “foi construída em áreas como a ciência e a saúde, mais consensuais e menos propensas a conflitos, se comparadas com as esferas econômica ou política stricto sensu” (p.17), e Soper foi o ator-chave nesse empreendimento.
O autor faz das interações entre sanitaristas norte-americanos e latino-americanos, intermediadas pelas organizações internacionais, o fio condutor da sua análise, em diálogo com a historiografia mais recente, orientada pelo princípio da troca, em via de mão dupla, de relações políticas e conhecimentos médicos-científicos. Magalhães adota essa dimensão metodológica sobre os programas de saúde internacional, que recusa a dicotomia conceitual entre “centro” e “periferia” e aposta nas dinâmicas médicas locais de investigação e controle de enfermidades. Além disso, tal dimensão sublinha os processos de recepção, negociação e adaptação dos programas, produzidos por diversos atores e instituições em contextos sociais e culturais distintos, com os quais os estadunidenses tiveram que dialogar política e cientificamente, interpelando a “vertente imperialista” de interpretação.
Nesse sentido, Magalhães privilegia os traços da diplomacia de Fred Soper, seu talento para negociar e sensibilizar os chefes de Estado das repúblicas americanas. Soper foi, de fato, um político hábil e conseguiu adesão ao defender um plano que trouxe a reboque uma ação horizontal, ou seja, que intervinha nas questões estruturais e sociais dos países envolvidos. Para tanto, Soper utiliza-se da “retórica da Guerra Fria” de convencimento ao eleger o campo da saúde como o único investimento capaz de conter a penetração comunista, naquela circunstância. Percebe-se, também, uma motivação do autor em ir além das análises críticas a Soper, dominante na historiografia, e defender um perfil político do líder que, aliás, explica sua ascensão. O objetivo foi produzir uma apreciação mais equilibrada sobre Soper, fugindo da imagem exclusiva de autoridade intransigente. Isso não significa que o autor tenha obliterado a ambição como característica da personalidade do médico, pois, no seu texto, pululam circunstâncias de persistência em atingir a meta da erradicação a todo custo. Meta alcançada, diga-se de passagem, por 11 países do continente americano, incluindo o Brasil, em 1958.
A análise do autor é convincente ao mostrar que o conceito de erradicação embasava as duas campanhas, sendo inicialmente direcionado à doença, pela Fundação Rockefeller, e posteriormente focado no vetor, o mosquito Aedes aegypti, pela OSP. Menciona as controvérsias em torno do conceito na década de 1960, tanto pelos ambientalistas contrários ao uso do inseticida DDT como pelos entomólogos norte-americanos, que questionavam a radicalização em erradicar os insetos que mantinham em laboratório para fins de pesquisa. Mas o autor, sem dialogar com a historiografia das ciências que trabalha com o conceito de controvérsias, relativiza esses eventos ao situá-los no meio de outras disputas nos EUA, em que os variados setores - pesquisadores, ambientalistas e o Estado - recorrem ao contraponto até culminar no abandono total do programa. Argumento polêmico, decerto, e longe de encerrar o debate.
Por fim, Magalhães parece ter razão ao tentar demonstrar que as controvérsias científicas não foram as únicas causas da derrocada do programa norte-americano. O trabalho de inspeção e pulverização no interior das residências, métodos utilizados em outros países da América, foi um grande complicador, pois esbarrava nos valores símbolos da sociedade americana: direito à propriedade e à privacidade. O apelo insistente de Soper, em nome de décadas de trabalho árduo, e o “olhar incrédulo dos especialistas em saúde pública do continente” (p.314), diante do desmoronamento do programa, não impediram a reinfestação de todo o continente americano.
Com conclusões inquietantes, a obra constitui leitura indispensável aos pesquisadores do tema, profissionais que elaboram políticas de saúde coletiva e ao público leitor mais amplo. É um convite à reflexão de alta complexidade baseada em sólida pesquisa e rigor acadêmico.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Oct-Dec 2017