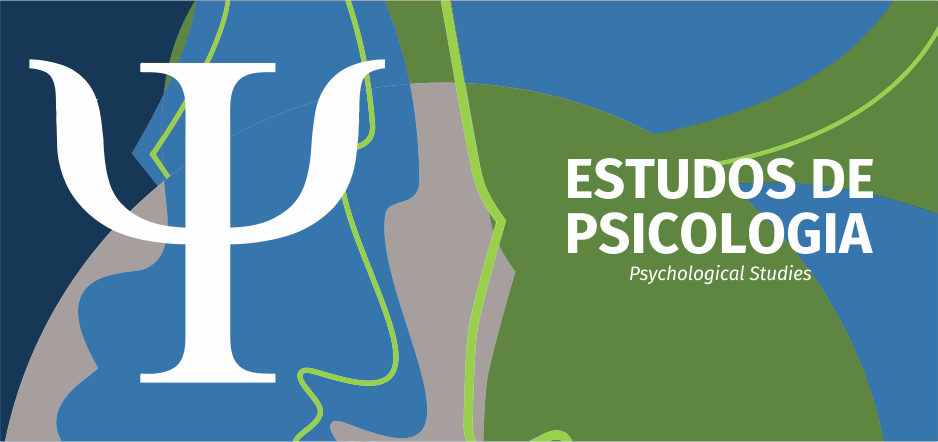Resumo
As famílias desenraizadas podem se perder nos caminhos traçados pelo exílio. Fatores genéticos, culturais e ambientais podem afetar o equilíbrio psíquico desses migrantes, principalmente quando confrontados a doenças ou sofrimentos inexplicáveis em seus filhos. A migração e o desenraizamento podem implicar perdas das raízes ligadas às tradições, deixando as famílias desprovidas de suas bagagens interpretativas e explicativas, necessárias à realização de leituras culturais dos sofrimentos psíquicos e físicos de seus filhos, sobretudo quando estes são considerados especiais. Este artigo propõe uma reflexão sobre tais questões, a partir de um estudo de caso, resultante da experiência da primeira autora em uma clínica interdisciplinar, como exige o enquadre transcultural, que se faz variável e complementar, respeitando a diversidade cultural. Observam-se, ainda, os discursos etiológicos construídos sobre esses sofrimentos psíquicos, que invadem o desenvolvimento da criança e o equilíbrio familiar.
Palavras-chave
Clínica transcultural; Cultura; Desenraizamento; Migração; Parentalidade
Abstract
Uprooted families can get lost in the ways of exile. Genetic, cultural and environmental factors can affect the psychic balance of these migrants, especially when faced with unexplained illness or suffering in their children. Migration and uprooting may involve loss of roots linked to traditions, leaving families deprived of their interpretive and explanatory baggage, which are necessary for the cultural readings of their child’s psychic and physical suffering, sometimes considered as special. We propose a reflection on these issues, based on a case study, resulting from the experience of the first author with an interdisciplinary clinic, as required by the transcultural framework, which becomes variable and complementary, respecting cultural diversity. We also observe the etiological discourses constructed on these psychic sufferings that invade the development of the child and the family balance.
Keywords
Transcultural clinic; Culture; Uprooting; Migration; Parenthood
As raízes da humanidade estão arraigadas em cada lugar, casa ou terra natal. É no local de origem que a transmissão nutre a árvore da vida de cada um. A transmissão dos ingredientes culturais e transgeracionais contribuem para a consolidação das funções parentais. Lebovici (2009)Lebovici, S. (2009). L’arbre de vie: éléments de la psychopathologie du bebé. Paris: Érès. diz que os elementos da transmissão transgeracional trazem também os conflitos infantis vivenciados pelos pais no modo como se relacionam com os seus bebês, de forma que a parentalidade é atravessada pelos conflitos infantis desses pais. Assim, a árvore da vida de cada um também corrobora a existência de fantasmas no berço do bebê. Muitas vezes a árvore da vida pode apresentar alguns galhos marcados pelas repetições intermináveis dos conflitos transgeracionais e culturais. A criança somente poderá afiliar-se, de modo construtivo, no seu meio familiar e cultural quando as raízes da árvore da vida familiar transmitirem a seiva, o alimento nutritivo capaz de dar um sentido à vida (Lebovici, 2009Lebovici, S. (2009). L’arbre de vie: éléments de la psychopathologie du bebé. Paris: Érès.).
As vivências e as emoções dos pais estão impregnadas no mundo de seus filhos. No momento de exercer a parentalidade, atualizam-se as formas de cuidar dos filhos que foram herdadas da geração anterior, sendo transmitidas intergeracionalmente, de uma geração a outra, entre indivíduos de uma mesma linhagem. Também os elementos herdados anteriormente podem ser transmitidos às futuras gerações de uma mesma linhagem familiar e às outras gerações familiares, ocorrendo uma transmissão transgeracional. Dessa maneira, os filhos podem ser o receptáculo do que é transmitido transgeracionalmente (Sanahuja & Schwailbold, 2015Sanahuja, A., & Schawailbold, M. A. (2015). Du symptôme de l’enfant à la crise de couple: transmission dans la famille. Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 2(65), p.121-132.).
Podem-se destacar dois níveis de transmissão interligadas no contexto dos vínculos familiares: a transgeracional e a intergeracional. A transmissão intergeracional implica os relatos e rituais que constituem os mitos familiares. Ela circula entre os tempos e as gerações, constituindo-se a partir dos fenômenos, ideias e sentimentos inerentes à história familiar. Constrói-se, por exemplo, pela maneira como os membros de uma família elaboram uma história traumática, narrando-a e transmitindo-a através das gerações. Já a transmissão transgeracional ocorre entre as gerações passadas e presentes: entre as diferentes gerações que convivem entre si e entre aquelas que nunca se cruzaram nos caminhos da vida.
Ambas estão interligadas, uma não existindo sem a outra. Um mesmo acontecimento pode dar origem à criação de um novo mito no âmbito da família (transmissão intergeracional) e, consequentemente, ser a base de um fenômeno familiar transgeracional com repercussões nas gerações futuras, agindo ao longo dos tempos. A transmissão transgeracional do trauma pode ocorrer num contexto de migração e exílio, impregnado pelas vivências traumáticas, onde o processo de resiliência encontra-se ausente (Dozio, Feldman, El Husseine, & Moro, 2015Dozio, E., Feldman, M., El Husseini, M., & Moro, M. R. (2015). L’approche transculturelle, une mère sans berceau culturel. In D. Mellier, P. Delion, & S. Missonnier (Dir.), Le bébé dans sa famille. Paris: Érès.). Podem-se destacar como exemplo as histórias de famílias judaicas, que são marcadas pelo trauma vivido durante o holocausto, com uma repercussão importante nas gerações posteriores (Feldman, 2009Feldman, M. (2009). Entre trauma et protection. quel devenir pour les enfants juifs caches en France (1940-1944). Paris: Érès.).
Quando esses recursos estão escassos, torna-se muito mais difícil inscrever os filhos na história da linhagem familiar, tanto no sentido intergeracional quanto transgeracional – assim como ficam muito limitadas as possibilidades de estes se tornarem autores, atores, coautores e protagonistas tanto da própria história quanto dos fenômenos familiares oriundos da transmissão. No entanto, ao se permitir que cada um possa construir a sua história de vida, faz-se um recomeço. A transmissão é o fertilizante, o adubo de uma linhagem familiar, de um clã e de um grupo. A elaboração e a transmissão da história familiar implicam uma nova maneira de narrar o mundo por meio dos sentidos e significados impregnados nas palavras. Quem conta um conto aumenta um ponto. As palavras e as histórias são contadas, cantadas e recontadas com um novo encanto (Moro, 2006Moro, M. R. (2006). Narrativité et traumatisme. Le Carnet PSY, 8(112), 47-51.).
Desenraizados, excluídos, migrantes numerosas são as nominações para descrever os que partem. Deixar a terra natal, desenraizar-se, não é nada simples. Geralmente, a viagem ocorre em clima de insegurança, rumo ao desconhecido. Ainda que os de partida se encontrem previamente perdidos nos caminhos da vida, migrar aumenta a fragilização das raízes, portadoras de ligações estruturantes com o país de origem, que representa a cultura e os antepassados.
Na consulta transcultural, as famílias viajantes recebidas na clínica são convidadas a fazer uma reinscrição da sua história, do seu percurso migratório. O enquadre transcultural, em grupo ou coterapia, ajuda a colocar em palavras as experiências vividas. Contar e recontar a história da família, dos antepassados e de todos aqueles que ficaram no país é passo necessário à reconstrução dos vínculos com o país de origem, a família, os pais e os filhos, assim como com o país de acolhida. É uma maneira de voltar a dar mobilidade às pessoas dentro da perspectiva da história da viagem. No processo migratório as idas e vindas entre o passado e o presente promovem a circulação e a expressão simbólica dos objetos culturais.
O percurso migratório costuma ser acompanhado de vivências sofridas e traumáticas, que acentuam os processos de enfraquecimento dos vínculos dos viajantes com suas raízes. Por vezes, nesses trajetos difíceis, os pais encontram-se completamente desprovidos de recursos internos suficientemente bons para transmitir a proteção necessária ao equilíbrio dos filhos (Winnicott, 2006Winnicott, D. W. (2006). La mère suffisamment bonne. Paris: Petite Bibliothèque Payot.). Para que as funções maternas e paternas ocorram em condições suficientemente boas, Winnicott (1983)Winnicott, D. W. (1983). Le développement émotionnel primitif de la pédiatrie à la psychanalyse. Paris: Petite bibliothèque Payot. preconiza a importância do equilíbrio do meio ambiente onde a criança está se desenvolvendo, sendo importante que a transmissão entre as gerações possa acontecer, oferecendo alguma sustentação, baseada nos diversos elementos culturais e emocionais presentes no processo de construção dos vínculos e na própria história familiar.
Nesse sentido, o presente estudo de caso se sustenta na teoria winnicottiana, principalmente nos conceitos de holding, handling e setting (Winnicott, 1983Winnicott, D. W. (1983). Le développement émotionnel primitif de la pédiatrie à la psychanalyse. Paris: Petite bibliothèque Payot.; 2006Winnicott, D. W. (2006). La mère suffisamment bonne. Paris: Petite Bibliothèque Payot.).
O desafio da consulta transcultural está em ser capaz de ajudar as famílias afetadas pela migração a escreverem, inscreverem, reescreverem e reinscreverem as suas histórias em um espaço físico e psíquico agradável e propício a uma existência digna. É necessário aliviar o peso traumático, causado pelos transtornos da viagem, de modo a favorecer também o restabelecimento da capacidade de suporte (holding) dos pais migrantes em relação a seus filhos.
O afastamento de casa pode sobrecarregar significativamente a bagagem emocional que se leva. Partir sem a garantia de um possível retorno, ou mesmo sem a segurança de boas condições em caso de volta, pode ser fragilizante, a ponto de impedir que a família migrante acomode sua bagagem (real e simbólica) e se instale no país de acolhida.
Além disso, quando as famílias não conseguem se ancorar, a miscigenação – no sentido de mistura entre os objetos culturais do país de origem e do país de acolhida –, revela-se difícil. Entretanto, torna-se importante e necessário reescrever a história. É fundamental recuperar os elementos do passado, indo em busca de histórias de lá para que sejam recontadas aqui, de modo a restaurar o processo de transmissão. Contudo, para as narrativas emergirem e as histórias virem à tona, é condição e pré-requisito entrar no cenário do sofrimento das famílias migrantes.
Um dos desafios do terapeuta é, por meio da análise de sua jornada pessoal, fazer um retorno ao próprio percurso migratório e ao dos seus antepassados. Atentar para a língua materna, as rotas, as miscigenações e o desenraizamento que lhe cabem. Para, então, ser capaz de trabalhar o sofrimento das famílias migrantes, tendo em conta as suas raízes culturais, sem considerá-las um sintoma patológico. Mas como fazer essa viagem? Como rastrear o percurso migratório?
O olhar, a escuta, a fala e a diversidade linguística são elementos complementares que ajudam a compor uma narrativa, uma história de vida, uma história coletiva, familiar e transgeracional. Assim, escutando os antepassados, suas rotas, caminhos, palavras e gestos, percebe-se que as histórias se misturam ao presente, ao país de acolhida, criando-se uma miscigenação de pensamentos, culturas, línguas e clínicas.
Debruçando-se sobre as dificuldades migratórias, o terapeuta se depara com histórias de famílias separadas, fragmentadas, suspensas, vítimas e testemunhas de uma história clivada, entre o aqui e o ali, entre o dentro e o fora, que só podem ser reescritas a partir de uma abordagem transcultural de compreensão do sofrimento.
Nesse contexto, este artigo aborda o setting da clínica transcultural a partir da narrativa da vivência da primeira autora em um atendimento clínico. O próprio relato representa a dinâmica do enquadre da clínica transcultural, que é construída a partir das narrativas e vivências transferenciais e contratransferenciais culturais.
Vamos passear na floresta: voltando às origens
O caso aqui discutido trata de uma menina de quatro anos, com diagnóstico de autismo, atendida em uma instituição de saúde pública num país do Hemisfério Norte, em companhia dos seus pais.
O encaminhamento foi realizado pelo fato de que a família solicitava um espaço de escuta para repensar as etiologias culturais sobre o sofrimento psíquico da criança, no caso o autismo, e o seu impacto no âmbito familiar.
As consultas transculturais são realizadas em coterapia, por psicólogos e ou psiquiatras formados em etnopsiquiatria e também especializados em psicoterapia ou psicanálise. No enquadre em questão, o grupo de trabalho é formado pelo terapeuta principal, a psiquiatra infantil da Unidade de Autismo, a pessoa de referência do caso clínico e por mais dois ou três coterapeutas. A geometria de enquadre é variável, dependo da especificidade de cada situação clínica. No entanto, os coterapeutas são sempre profissionais com formação em clínica transcultural, podendo ou não apresentar diversidade cultural. A base do atendimento consiste na complementaridade que implica uma leitura ampliada do conteúdo circulante no espaço de atendimento, contribuindo para o processo de descentramento. Considera-se que a especificidade de uma clínica, composta por pacientes e terapeutas de culturas diferentes, demanda um estilo de cuidado que propicie e integre esses diversos olhares. Assim, busca-se adaptar o dispositivo clínico de acordo com as várias maneiras como família e equipe relacionam-se com o sofrimento.
Jane é a primeira filha de um casal muito jovem, de origens culturais diferentes. A mãe é imigrante, vinda da floresta Amazônica para viver num país pouco visitado pelo sol, enquanto o pai é originário de um país frio, no qual a família se instalou. Os pais têm como primeira língua idiomas completamente diferentes.
Após mais de um ano de trabalho terapêutico transcultural, a mãe chega à consulta dizendo que o xamã da floresta amazônica equatorial falava que a maneira sob a qual uma criança se apresentava sempre resultava da mistura dos pais e que, no caso, as dificuldades com Jane derivavam do fato de eles serem pessoas muito diferentes entre si.
Ela também conta que, em algumas culturas autóctones indígenas, considera-se que as crianças, desde o ventre materno até a idade de sete ou oito anos, podem viajar entre o mundo invisível, dos ancestrais, e o mundo dos homens, da realidade objetiva.
A mãe de Jane, ouvindo o xamã, possivelmente, pensa em descobrir uma solução, uma resposta, um caminho, para ajudar a filha. Vislumbra uma possibilidade de aproximar-se da menina, recorrendo a dois mundos. Não só busca ajuda profissional de psicólogos, representantes de uma concepção prevalente no local em que vive, mas também ouve o xamã, o curandeiro, aquele do mundo do além, dos espíritos, da floresta.
Uma floresta entre o pai, a mãe e a criança que simultaneamente os separa e os envolve: uma mescla, uma mestiçagem, uma mistura
Durante o processo terapêutico, percebe-se que a criança começa a estabelecer contato com a mãe, através de abraços. Paralelamente, a mãe afirma que, para trazer a menina “de volta do mundo escuro das trevas para o nosso mundo, precisa abrir-lhe a porta que deixa a luz entrar”.
Jane, então, vai até o armário da sala de trabalho, deita-se como se fosse dormir e fecha a porta. Ouve-se a risada da menina, como que aguardando que a resgatem do armário, onde está acompanhada de duas bonecas, que dormem na prateleira debaixo. A terapeuta bate à porta e começa a abri-la, ao que a mãe dá continuidade. Jane as espreita pelo vão, enquanto compartilha o movimento com elas.
Então, a mãe relata sobre um envelope, um invólucro, feito com a folha de bananeira, usado para cozinhar um peixe apetitoso, uma tainha de quase dez quilos, que ela gosta de saborear com Jane e toda a família, quando passam as férias em seu país de origem. A terapeuta aproveita essa imagem para fazer uma associação com o envelope materno – a capa serena, protetora, paciente e continente, com a qual a mãe cobre a filha, assim podendo trazê-la de volta ao mundo, recolocando sua alma em seu corpo.
Outras associações do terapeuta principal e do coterapeuta que surgiram durante a consulta
Expostos ao material trazido pelos pais, os coterapeutas são convidados a fazer associações livres e culturais, que são decodificadas pelo terapeuta principal e devolvidas à família. Esta, por sua vez, é convidada a dar continuidade às associações, elaborando suas vivências.
Os pais ou os responsáveis funcionam como a folha de bananeira, envolvendo suas crianças. Graças a um olhar, a um toque, à ternura e à paciência para decodificar os detalhes das mensagens enviadas por elas, possibilitam que achem seus lugares, repondo suas almas errantes no seu corpo em desequilíbrio. São, portanto, os guias deste mundo para ajudá-las a encontrar o sentido da vida. Para tanto, trazem objetos do passado e do presente, daqui e de lá, permitindo desse modo a ocorrência da transmissão transgeracional.
Todo esse processo de cuidado implica um retorno à mata, à verdadeira floresta de suas origens, para encontrar um caminho, uma trilha. É necessário olhar para os recursos que a floresta tem a oferecer: bananas, cupuaçu, mangas, mandiocas, inhames, raízes, de modo que a criança possa ser acompanhada por um guia que conheça as trilhas deste mundo. Assim, o grupo viajou nesses sabores tropicais e se lembrou de suas brincadeiras de criança, sonhando acordado durante os encontros.
Em determinado momento, a menina se aproxima da mãe, abraça-a e então se direciona para as bonecas africanas. Veste-as com roupas variadas. Coloca os outros bebês nos berços, dentro do armário, como num pequeno mundo à parte, e volta a se deitar. Jane continua sua brincadeira, abrindo e fechando a porta, saindo e entrando do armário, desenhando e ouvindo sua mãe, que conduz o grupo a uma viagem nas profundezas da natureza equatorial.
Para misturar azeite e água, precisa-se de calor, como para fazer um bom churrasco.
Panela no fogo da transmissão
Torna-se importante recuperar os ingredientes e objetos dos lugares de origem para logo envolvê-los numa folha de bananeira, aquecê-los e cozinhá-los, até atingir o ponto de obter um estado de mestiçagem na relação. Como diz o xamã, se a criança é assim, é porque ela é a mistura entre os mundos dos pais.
Mas antes de partir à procura de ingredientes tão importantes para a preparação do prato, torna-se necessário, tanto para os pais quanto para os psicoterapeutas, sentir o desejo de compartilhar com a criança o interesse pelas suas histórias, seu passado, seus pensamentos, seus relatos e suas brincadeiras. Esse é o processo de transmissão vinculado ao percurso dos pais, da migração ao lugar que a criança ocupa no seio de seu ambiente – de onde ela vem, por que ela existe e como seu percurso se constrói.
A fome
Quando o azeite e a água não se misturam, não tem sopa, não tem alimento emocional, não têm os saborosos ingredientes originários das receitas ancestrais. Não tem afeto capaz de nutrir o corpo nem a alma. Tem-se fome! Está-se diante de um desconforto – a fome de encontro entre as almas dos pais e a da criança, entre os antepassados, entre os diferentes mundos e culturas.
Entendendo o sem sentido: o sofrimento
Ficar doente, estar em dificuldade com sua criança, perder um de seus próximos, não é só o signo de uma grande desordem e de um grande sofrimento, mas também um escândalo que se tenta acalmar buscando um sentido possível, mesmo que transitório.
Todas as sociedades tentam pensar o sem sentido, segundo a expressão de Zempléni (1985)Zempléni, A. (1985). La “maladie” et ses “causes” [Introduction]. L’Ethnographie, 81(2), p.13-44.. O homem necessita de teorias etiológicas sobre as quais precisa se apoiar para sobreviver à dor e à falta de sentido. Assim, evoca a intervenção de seres culturais (curandeiros, pajés, divindades, com suas intervenções mágicas) e busca processos técnicos de cura.
Os conteúdos dessas teorias estão constituídos a partir de um corpo organizado de hipóteses que não pertencem propriamente ao indivíduo, mas de cujas partes ele pode se apropriar em determinado momento de sua vida.
Essas hipóteses surgem através de associações culturais livres e são transmitidas sob múltiplas formas: pela experiência, pelo relato, por enunciados e contos, por meio dos rituais de nascimento e das técnicas tradicionais do cuidar do corpo, da alma e do vínculo. Esses são os primeiros mecanismos que o indivíduo usa para dar um sentido ao sem sentido. O acontecer desse processo pode ser muito variável de uma pessoa para outra e em diferentes tempos. As teorias etiológicas sobre um sofrimento inexplicável são formas flutuantes, suficientemente amplas, gerais e implícitas, sendo pertinentes a todos os indivíduos de um mesmo grupo cultural. Contestá-las pode ser considerado como uma transgressão aos tabus e aos não ditos. Um exemplo seria questionar em certas culturas a intervenção dos antepassados na vida familiar atual.
No enquadre da clínica transcultural não se podem julgar as coerências ou incoerências das etiologias culturais sobre o sofrimento psíquico. O setting consiste em fazer uma leitura transcultural do sofrimento psíquico através da descentralização cultural e da complementaridade, que consistem na construção de um enquadre clínico adaptado a cada situação, evitando assim um diagnóstico precipitado baseado principalmente nas categorias e teorias ocidentais, conduzindo a uma multiplicidade de hipóteses etiológicas.
Leitura transcultural do sintoma
Toda teoria etiológica enunciada implica ipso facto uma técnica de cuidados particulares.
No exemplo citado anteriormente, percebe-se a busca de um sentido para o sofrimento da família, considerando as tradições culturais da mãe de Jane. A negociação e a reparação entram em cena, já que cada membro pertence a uma cultura, constituída por uma teoria etiológica, que está associada a uma técnica terapêutica específica. Assim, tanto o pai quanto a mãe possuem leituras transculturais próprias, vinculadas ao grupo a que pertencem.
Cada teoria etiológica contém em si mesma uma forma, uma palavra e um ato. Compreende-se, então, que a função dinâmica dessas teorias, longe de revelar a causa última do mal, impõe, em efeito, um procedimento (Nathan & Moro, 1989Nathan, T., & Moro, M. R. (1989). Enfants de djinné. Evaluation ethnopsychanalytique des interactions précoces. In S. Lebovici, P. Mazet, & J. -P. Visier (Eds.), Evaluation des interactions précoces (pp.307-340). Paris: Eschel.). Neste, reside sua eficácia e suas consequências para o grupo e o indivíduo – e não, propriamente, no conteúdo do enunciado.
Consideram-se três níveis a serem explorados para construir um quadro culturalmente pertinente (Moro, 2008Moro, M. R. (2008). Aimer ses enfants ici et ailleurs. histoires transculturelles. Paris: O Jacob.):
-Ontológico: qual é a representação da natureza do ser, de sua origem, de sua identidade, de sua função? O que é ser criança? Do que esta criança precisa? O que é ser uma mãe, um pai?
-Etiológico: que sentido dar à desordem interna? Como tentar responder às perguntas com respeito à doença ou ao sem sentido? Como pensar as consequências dessa desordem? Por que adoecer? Por que alguns bebês não se desenvolvem bem?
-Lógica Terapêutica: qual é a lógica da ação dos cuidados a empreender? Como fazer para reordenar os mundos depois da confusão e da desordem? Por quais lógicas deve passar a transformação do indivíduo para se curar?
Pensando culturalmente
A cultura permite uma codificação do conjunto da experiência vivida pelo indivíduo, para antecipar o sentido do que pode acontecer e, assim, controlar a violência do imprevisível e, por conseguinte, do sem sentido. A cultura busca colocar à disposição do sujeito um código de leitura do mundo. Essa codificação é um processo constituído por ingredientes complexos, de inferências ontológicas e também de causalidade, permitindo dar um sentido a um evento repetitivo (Por quê? Por que eu? Por que eu neste momento?) (Sindzingre, 1989Sindzingre, N. (1989). La notion de transfert de représentations: l’exemple des aspects de l’infortune. Anthropologia Medica, p.5-6.).
Um ponto admitido por todos é que não existe homem sem cultura. Roheim já o tinha sublinhado desde 1943: “... cultura quer dizer humanidade, porque as mesmas manifestações as mais elementares da existência humana... podem ser consideradas como os começos da cultura” (Roheim, 1972Roheim, G. (1972). Origine et fonction de la culture. Paris: Gallimard., p.31).
Assim, um sistema cultural é constituído de um idioma, um sistema de parentalidade, um corpo de técnicas e maneiras de fazer, ornamentos, culinária, artes, técnicas de cuidados, técnicas de maternagem. Todos esses elementos dispersos são estruturados de maneira coerente por representações culturais, que são as interfaces entre o dentro e o fora – o resultado da apropriação, pelos indivíduos, de sistemas de pensamento de origem cultural, permitindo a experiência subjetiva. O sujeito incorpora as representações e trabalha a partir de seus próprios movimentos, conflitos internos e traços de personalidade.
A cultura pode ser entendida como um recorte racional para apreender o mundo. Toda cultura define essas categorias que permitem ler o mundo e dar sentido aos eventos. Essas categorias arbitrárias, na medida em que variam de uma cultura a outra – realidade/não realidade, humano/não humano, o mesmo/o outro –, podem ser consideradas como esquemas culturais transmitidos de maneira implícita. Representar, esculpir o real, é escolher categorias comuns para perceber o mundo de maneira ordenada. Esses mundos compartilhados fundam a pertinência das representações para um dado grupo.
No interior desses sistemas culturais de uma extraordinária complexidade e sempre em movimento, é necessário identificar alguns elementos eficientes para compreender e cuidar do sofrimento psíquico em situação transcultural, sendo necessário que o terapeuta consiga conhecer a si mesmo e à própria cultura.
Ser psicoterapeuta… ser humano…
O atendimento clínico das famílias imigrantes e desenraizadas pode, às vezes, tornar-se infrutífero quando o terapeuta tenta impor um enquadre adequado à sua cultura, não considerando os elementos e objetos simbólicos pertencentes à cultura das famílias em questão.
O objetivo da clínica onde se realizou este atendimento consiste em criar um espaço potencial capaz de conter os sofrimentos, os objetos transicionais, os elementos culturais, as narrativas, o imaginário e a criatividade que permeiam o mundo psíquico-cultural-teórico-clínico do terapeuta e dos coterapeutas. Esse movimento clínico baseia-se nos conceitos de complementaridade, desenvolvidos por Devereux e Moro, interligados ao pensamento de Winnicott. Segundo este último, o terapeuta deve ser capaz de oferecer um ambiente suficientemente bom, considerando os conceitos do holding e do handling e criando um setting favorável ao desenvolvimento do processo terapêutico. Assim, pode criar uma situação que favoreça o brincar e a capacidade de criar, imaginar e expressar os conteúdos emergentes da relação entre os mundos psíquicos dos pais e das crianças.
Para tanto, pode recorrer a materiais lúdicos (papéis, lápis, brinquedos), além de propor diferentes tipos de intervenções clínicas, visando cuidar do sofrimento psíquico do indivíduo. É importante repensar o fazer, considerando tanto a clínica como a antropologia e a psicanálise, bem como desenvolver métodos que permitam pensar e operacionalizar as interações entre os níveis coletivos, intersubjetivos e intrapsíquicos.
Terapeuta também é gente: o terapeuta como um ser cultural
No enquadre clínico transcultural torna-se necessário instaurar, além da análise da transferência e da contratransferência afetiva, uma modalidade específica de análise da contratransferência ligada à dimensão cultural. Esse tipo específico de enquadre pode ocorrer em grupo com vários coterapeutas complementares e uma família, ou em díade de terapeuta e coterapeuta e a família.
O enquadre em grupo se faz mais propício para a análise da contratransferência cultural (Moro & Nathan, 1989Moro, M. R., & Nathan, T. (1989). Le bébé migrateur: spécificités et psychopathologie des interactions précoces en situation migratoire. In S. Lebovici, & F. Weil-Halpern (Eds.), Psychopathologie du bébé (pp.683-722). Paris: PUF.). Concretamente, no final de cada entrevista, o grupo se esforça por explicitar a contratransferência de cada um dos terapeutas, através de uma discussão sobre os afetos experimentados e os conteúdos que ficaram implícitos, bem como sobre as teorias que os levaram a determinados pensamentos (inferências) e atos (intervenções).
Desde a elaboração do modelo clássico da cura, a palavra do sujeito está posta como ato na terapia, sendo ela o vínculo ou suporte para a transferência entre o paciente e o analista (Freud, 1970Freud, S. (1970). Perspectives d’avenir de la thérapeutique psychanalytique. In S. Freud. La technique psychanalytique. Paris: PUF.). Designa-se transferência o processo pelo qual os desejos inconscientes do paciente se atualizam no quadro da relação psicanalítica. Devereux (1980)Devereux, G. (1980). De l’angoisse à la méthode. Paris: Flammarion. tem expandido essa definição para aplicá-la ao conjunto de fenômenos que ocorrem na situação clínica e na pesquisa nas ciências humanas. A transferência volta-se então à soma das reações implícitas e explícitas que o sujeito desenvolve em relação ao clínico e/ou ao pesquisador.
Já a contratransferência do clínico/pesquisador é a soma de todas as reações (sentimentos e pensamentos) explícitas e implícitas do profissional em relação ao seu paciente ou a seu objeto de pesquisa. Tanto na contratransferência quanto na transferência, encontra-se a dimensão afetiva e a cultural. A contratransferência cultural concerne à maneira como o terapeuta se posiciona com respeito à alteridade do paciente, a seu modo de fazer e de pensar a doença e a todos os ingredientes que compõem o ser cultural.
Temperos da vida: misturar sabores e palavras, discutir
Discutindo o caso clínico citado, para a mãe de Jane, a alma da filha ainda está perdida na erraticidade. Essa mãe consulta um curandeiro da floresta com o objetivo de encontrar um modo tradicional de cuidar do sofrimento da filha e, consequentemente, da família. O curandeiro, o sábio, o xamã, aquele que interpreta os sonhos, fez a orientação e o tratamento segundo suas tradições culturais.
A capacidade de entrar em relação terapêutica com o paciente está condicionada à condição íntima e interior do terapeuta frente ao seu relato. Dessa posição contratransferencial surgirá a sua resposta ao paciente.
Trata-se então de definir o estatuto epistemológico que o terapeuta pode atribuir a esse tipo de material, considerando a sua posição interna a respeito desses discursos e rituais tradicionais, codificados pela cultura do paciente. Tanto o paciente quanto o terapeuta estão vinculados a um grupo e a uma cultura, inscritos em histórias coletivas. Essas histórias são introjetadas, impregnadas e representadas nas reações, nos atos e na maneira de agir e pensar daquele que cuida e daquele que é cuidado, estando esses atos conscientes. Sem a análise da contratransferência cultural, o terapeuta arrisca-se a exprimir julgamentos, preconceitos, discursos agressivos e atitudes racistas ou demasiadamente afetivas.
As capacidades de descentralização e análise da contratransferência cultural são objetivos difíceis de atingir, porém são indispensáveis para a prática da clínica transcultural.
Etnopsicanálise ou clínica transcultural
Enfim, descreveu-se aqui um atendimento clínico diferenciado.
Algumas explicações tornam-se necessárias. A clínica transcultural ou etnopsicanálise é um pensamento clínico e uma técnica de atendimento ancorada nos conceitos de complementaridade, universalidade psíquica e descentramento, desenvolvidos por Devereux (1970Devereux, G. (1970). Essais d’ethnopsychiatrie générale. Paris: Gallimard., 1972)Devereux, G. (1972). Ethnopsychanalyse complémentariste. Paris: Flammarion. e utilizados e readaptados na clínica conduzida por Tobie Nathan e Marie Rose Moro. É uma terapia que utiliza a leitura das teorias culturais como meio para compreender e conter os desequilíbrios psicológicos e emocionais presentes nas pessoas – crianças e familiares –, que vivem em contextos de desenraizamento e migração.
Trata-se de um atendimento de segunda linha, já que o paciente recebeu ou ainda recebe cuidados psicoterapêuticos outros, de acordo com a dificuldade em questão. O dispositivo transcultural é proposto, entre outras indicações, quando os pacientes se sentem perdidos e circulam pelas diferentes etiologias culturais e médicas sobre o problema em questão – ou seja, veem-se divididos entre um sistema ocidental de cuidar, representado pelos médicos, psiquiatras e psicoterapeutas, e um sistema tradicional, oriundo dos conselhos de curandeiros da cultura de origem, com compreensões tradicionais e rituais de cura etc., de modo que não conseguem criar vínculos entre as diversas proposições do cuidar, o que lhes impede o trabalho de elaboração do problema, de evolução clínica e de transformação do quadro.
O dispositivo transcultural é indicado a todos os pacientes que se sentem incompreendidos nas suas próprias leituras culturais sobre o sofrimento que os envolve. Apoia-se nas representações culturais tradicionais, dando um sentido aos sintomas, sem julgar o modo de expressão e compreensão dos mesmos. Valoriza o idioma materno do paciente e a necessidade de uma escuta empática, sem julgamentos quanto a suas representações culturais. Para tanto, necessita de um grupo de terapeutas – um terapeuta principal e dois ou mais coterapeutas –, dotados de autoconhecimento cultural e emocional que os torne capazes de trabalhar a problemática em questão. O atendimento geralmente acontece em sessões quinzenais ou mensais, com duração de duas horas cada uma.
Enfim, é uma técnica de atendimento complementar, que está sempre em construção, rumo a novos enquadres clínicos cada vez mais adaptados às necessidades daqueles que sofrem, buscando um cuidar respeitoso através de uma escuta terapêutica transcultural.
-
Como citar este artigo/How to cite this articleBorges, T. W., Peirano, C., & Moro, M. R. (2018). A clínica transcultural: cuidando da parentalidade no exílio. Estudos de Psicologia (Campinas), 35(2), 149-158. http://dx.doi.org/10.1590/1982-02752018000200004
Agradecimentos
À Ana Letícia Rodrigues e Michele Aching pela revisão do manuscrito.
Colaboradores
-
T.W. BORGES na elaboração do projeto depesquisa, atendimento do caso clínico, coleta do material clínico, discussão teórica completa. C. PEIRANO na discussão teórica (papel do psicólogo) e M.R. MORO na discussão teórica (setting da clínica transcultural).
Referências
- Devereux, G. (1970). Essais d’ethnopsychiatrie générale Paris: Gallimard.
- Devereux, G. (1972). Ethnopsychanalyse complémentariste Paris: Flammarion.
- Devereux, G. (1980). De l’angoisse à la méthode Paris: Flammarion.
- Dozio, E., Feldman, M., El Husseini, M., & Moro, M. R. (2015). L’approche transculturelle, une mère sans berceau culturel. In D. Mellier, P. Delion, & S. Missonnier (Dir.), Le bébé dans sa famille Paris: Érès.
- Feldman, M. (2009). Entre trauma et protection. quel devenir pour les enfants juifs caches en France (1940-1944). Paris: Érès.
- Freud, S. (1970). Perspectives d’avenir de la thérapeutique psychanalytique. In S. Freud. La technique psychanalytique Paris: PUF.
- Lebovici, S. (2009). L’arbre de vie: éléments de la psychopathologie du bebé Paris: Érès.
- Moro, M. R. (2006). Narrativité et traumatisme. Le Carnet PSY, 8(112), 47-51.
- Moro, M. R. (2008). Aimer ses enfants ici et ailleurs. histoires transculturelles Paris: O Jacob.
- Moro, M. R., & Nathan, T. (1989). Le bébé migrateur: spécificités et psychopathologie des interactions précoces en situation migratoire. In S. Lebovici, & F. Weil-Halpern (Eds.), Psychopathologie du bébé (pp.683-722). Paris: PUF.
- Nathan, T., & Moro, M. R. (1989). Enfants de djinné. Evaluation ethnopsychanalytique des interactions précoces. In S. Lebovici, P. Mazet, & J. -P. Visier (Eds.), Evaluation des interactions précoces (pp.307-340). Paris: Eschel.
- Roheim, G. (1972). Origine et fonction de la culture Paris: Gallimard.
- Sanahuja, A., & Schawailbold, M. A. (2015). Du symptôme de l’enfant à la crise de couple: transmission dans la famille. Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 2(65), p.121-132.
- Sindzingre, N. (1989). La notion de transfert de représentations: l’exemple des aspects de l’infortune. Anthropologia Medica, p.5-6.
- Winnicott, D. W. (1983). Le développement émotionnel primitif de la pédiatrie à la psychanalyse Paris: Petite bibliothèque Payot.
- Winnicott, D. W. (2006). La mère suffisamment bonne Paris: Petite Bibliothèque Payot.
- Zempléni, A. (1985). La “maladie” et ses “causes” [Introduction]. L’Ethnographie, 81(2), p.13-44.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Apr-Jun 2018
Histórico
-
Recebido
06 Set 2017 -
Revisado
25 Jan 2018 -
Aceito
13 Mar 2018