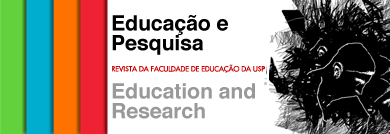Resumos
A entrevista em pauta tem o objetivo principal de dar a conhecer ao público brasileiro informações e reflexões substanciais acerca do Movimento da Escola Moderna - associação portuguesa de autoformação cooperada de professores de todos os graus de ensino, operante em todo o território português desde meados da década de 1970. Para tanto, foi colhido o depoimento de Sérgio Niza, fundador e diretor do Centro de Formação de Professores e da revista Escola Moderna, ambos ligados ao referido Movimento. Os trabalhos editoriais ficaram a cargo do Professor Julio Groppa Aquino, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Por meio do diálogo estabelecido in loco entre entrevistador e entrevistado em setembro de 2012, desponta uma espécie de registro histórico e, ao mesmo tempo, analítico-crítico das questões fulcrais que rondam as práticas escolares desde o retorno da democracia em Portugal, na década de 1970, e que em tantos pontos parecem coincidir com a conjuntura brasileira e suas inflexões características. Tendo o Movimento da Escola Moderna como núcleo temático da entrevista, Sérgio Niza traz à baila a proposta da criação de espaços de gestão coletivo-formativa centrados na reflexão teórico-prática acerca do cotidiano pedagógico, além de oferecer uma apurada avaliação da educação portuguesa nas últimas décadas. Inclui-se, ainda, uma reflexão oportuna sobre a Escola da Ponte (a experiência lusitana mais conhecida entre os brasileiros), assim como lúcidas ponderações sobre o Brasil contemporâneo, conclamando este a "ir muito mais longe" no quesito educacional.
Pedagogia portuguesa; Movimento da Escola Moderna; Profissão docente; Formação docente em serviço
This topic's interview is primarily aimed at providing the Brazilian public with substantial information and reflection about Movimento da Escola Moderna - a Portuguese association for cooperatively organized teacher self-training on all school levels, operating across the Portuguese territory since the mid-1970's. An interview was therefore conducted with Sérgio Niza, founder and head at the Centro de Formação de Professores and at Escola Moderna, a journal, both of which are connected to Movimento da Escola Moderna. The editorial work was done by Julio Groppa Aquino, an associate professor at Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Through the in loco dialogue between interviewer and interviewee in September 2012, a sort of historic record comes forth, along with a critical-analytical one, about questions that have been essential to school practice since the return of democracy in Portugal in the 1970s and that seem to match in so many aspects the Brazilian situation and its peculiar inflections. With Movimento da Escola Moderna as the core subject of the interview, Sérgio Niza brings up the proposal of creating spaces for collective training management focused on theoretical-practical reflection about the pedagogic everyday life, offering also a sharp evaluation of the Portuguese education in the last few decades. Moreover, the interview brings us a timely reflection on Escola da Ponte (the Portuguese experience that is best known among Brazilians), as well as lucid considerations about contemporary Brazil, exhorting it to "go much further" in education.
Portuguese pedagogy; Movimento da Escola Moderna; Teaching; In-service teacher training
ENTREVISTA
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil Contact: groppaq@usp.br
RESUMO
A entrevista em pauta tem o objetivo principal de dar a conhecer ao público brasileiro informações e reflexões substanciais acerca do Movimento da Escola Moderna - associação portuguesa de autoformação cooperada de professores de todos os graus de ensino, operante em todo o território português desde meados da década de 1970. Para tanto, foi colhido o depoimento de Sérgio Niza, fundador e diretor do Centro de Formação de Professores e da revista Escola Moderna, ambos ligados ao referido Movimento. Os trabalhos editoriais ficaram a cargo do Professor Julio Groppa Aquino, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Por meio do diálogo estabelecido in loco entre entrevistador e entrevistado em setembro de 2012, desponta uma espécie de registro histórico e, ao mesmo tempo, analítico-crítico das questões fulcrais que rondam as práticas escolares desde o retorno da democracia em Portugal, na década de 1970, e que em tantos pontos parecem coincidir com a conjuntura brasileira e suas inflexões características. Tendo o Movimento da Escola Moderna como núcleo temático da entrevista, Sérgio Niza traz à baila a proposta da criação de espaços de gestão coletivo-formativa centrados na reflexão teórico-prática acerca do cotidiano pedagógico, além de oferecer uma apurada avaliação da educação portuguesa nas últimas décadas. Inclui-se, ainda, uma reflexão oportuna sobre a Escola da Ponte (a experiência lusitana mais conhecida entre os brasileiros), assim como lúcidas ponderações sobre o Brasil contemporâneo, conclamando este a "ir muito mais longe" no quesito educacional.
Palavras-chave: Pedagogia portuguesa - Movimento da Escola Moderna - Profissão docente - Formação docente em serviço.
Apresentação
Reputado por António Nóvoa (2012, p. 17) como "a presença mais constante, mais coerente e inspiradora da pedagogia portuguesa dos últimos 50 anos", Sérgio Niza é um expoente do pensamento educacional contemporâneo em Portugal, por meio de uma longa e combativa atuação no âmbito da formação profissional docente naquele país. Diretor do Centro de Formação de Professores e da revista Escola Moderna, ambos ligados ao Movimento da Escola Moderna, ele é também integrante do Conselho Nacional de Educação português.
Em julho de 2012, teve seus escritos selecionados e compilados em Sérgio Niza: escritos sobre educação, publicação da Editora Tinta-da-China. Organizado por António Nóvoa, Francisco Marcelino e Jorge Ramos do Ó, o livro traz à luz, em suas mais de 700 páginas, 112 textos elaborados por Niza entre 1965 e 2010. Compêndio notável de suas ideias, trata-se, sobretudo, do testemunho de uma vida dedicada à difícil, senão hercúlea, arte de reposicionar a mentalidade educacional em Portugal, a qual em tantos pontos parece coincidir com a brasileira. Obra do maior quilate ético-político, sem dúvida, para ambos os países.
Nascido em 1940 na fronteira alentejana com a Espanha, Sérgio é um homem notadamente culto, elegante e hospitaleiro. Sua fala pausada, em contraste com a agudeza de seus pontos de vista, faz do depoimento por ele a nós concedido, em setembro de 2012 na capital portuguesa, uma espécie de registro histórico e, ao mesmo tempo, analítico-crítico das questões fulcrais que rondam as práticas escolares desde a segunda metade do século XX e que persistem no presente, não sem certo assombro para aqueles nelas envolvidos.
Ao avaliar as quatro décadas após a Revolução dos Cravos, por meio da qual Portugal retomou o trilho democrático, Sérgio Niza aponta as conquistas macro-históricas decorridas no campo educacional, mas, ao mesmo tempo, reconhece a permanência de uma licenciosa seletividade escolar, expressa na pouca efetividade das aprendizagens que aí tomam lugar. Mesmo tendo em mente que se trata de um processo de mudança cultural que leva um tempo indefinido para se concretizar, a sensação de insuficiência, para os contemporâneos, resulta incontornável.
Como, então, postarmo-nos mediante tal estado de coisas? O pedagogo português aposta numa alternativa precisa: que os professores, como protagonistas-chave da intrincada engenhosidade escolar, possam eles próprios forjar caminhos afirmativos por meio da partilha pública do que já fazem, do que já pensam, mas de que tanto temem se apropriar no plano da consciência. Ou seja, é no espaço da gestão coletivo-formativa, centrada na reflexão teórico-prática acerca do cotidiano pedagógico, que a escola pode porventura desentranhar tudo aquilo que, paradoxalmente, já a habita, de modo que assim seja possível encontrar forma e vazão para um devir mais potente e engrandecedor das existências que lá se encerram.
As ideias norteadoras de Sérgio Niza poderiam ser sintetizadas da seguinte maneira:
A comunidade de práticas é, portanto, o contexto social em que tem lugar a aprendizagem através das trocas que asseguram progressos no trabalho. [...] Só a partir de uma assumida socialização nos usos culturais da profissão docente é que será possível pôr em marcha os processos para superar as aprendizagens espontâneas adquiridas pelos professores nas suas vivências de como os seus próprios professores ensinavam, quando eles ainda eram alunos, para que possam, entretanto, vir a proceder a uma renovação criativa e continuada da cultura profissional. A urgente e inevitável renovação da cultura profissional dos docentes implicará, necessariamente, um trabalho de luto sobre o passado social e cultural da profissão, cristalizado na identidade de cada professor. A construção de alternativas culturais para a profissão pode constituir uma relevante missão das comunidades de práticas. A participação dos professores nas actividades sociais de comunidades de práticas realiza-se, como é evidente, através de estruturas de organização cooperativa do trabalho de aprendizagem. (NÓVOA; Ó; MARCELINO, 2012, p. 600-601)
Figura de proa do Movimento da Escola Moderna (MEM), o qual, novamente segundo Nóvoa, constitui o mais importante movimento pedagógico português, Niza oferece, no depoimento a seguir, um conjunto de esclarecimentos acerca do referido Movimento, seu modus faciendi, suas conquistas e também seus limites.
Experiência de formação docente em serviço sem precedentes para nós, brasileiros, o MEM define-se genericamente como uma associação de autoformação cooperada de professores de todos os graus de ensino (da educação infantil ao ensino superior) organizados em núcleos regionais, sendo que estes abrangem todo o território português, subdividido em 14 regiões. Em tais núcleos, os associados reúnem-se sistematicamente para compartilhar e refletir sobre suas práticas pedagógicas cotidianas, bem como para, a partir daí, produzir saberes e materiais de apoio didático-pedagógico, integrados nos seus projetos de autoformação cooperada realizados em Grupos de Trabalho Cooperativo.
Na página virtual da associação (http://www.movimentoescolamoderna.pt) estão dispostos os princípios que regem as ações aí levadas a cabo. Um conjunto de nortes de inquestionável relevância no que se refere ao trabalho educativo, independentemente da conjuntura em que venha a se realizar. Um conjunto de valores expressamente democráticos que consubstanciariam os fazeres docentes concretos. A saber:
• os meios pedagógicos veiculam, em si, os fins democráticos da educação;
• a atividade escolar desenvolve-se no âmbito de um contrato social e educativo;
• a prática democrática da organização partilhada por todos institui-se em Conselho de Cooperação Educativa;
• os processos de trabalho escolar reproduzem os processos sociais autênticos;
• a informação partilha-se através de circuitos sistemáticos de comunicação;
• as práticas escolares hão de dar sentido social imediato às aprendizagens dos alunos;
• os alunos intervêm ou interpelam o meio social e integram na aula atores comunitários como fonte de conhecimento nos seus projetos.
Destaque também deve ser concedido à revista Escola Moderna, dirigida por Sérgio Niza. Veículo de difusão das ações e do pensamento forjado no interior das práticas do MEM, o periódico está em funcionamento desde 1974, tendo atingido atualmente sua 44ª edição. Além do interesse imediato, Escola Moderna (Sérgio preferiria Escola Contemporânea, conforme se verá adiante) é também um arquivo-patrimônio do que se pensou e se fez na educação portuguesa nas últimas décadas. A propósito, há um artigo redigido por Francisco Marcelino (2009) com um balanço avaliativo das atividades do periódico que merece ser conhecido.
Para que se tenha uma ideia geral da relevância histórica do MEM e, em particular, das contribuições teóricas de Niza veiculadas especialmente em Escola Moderna, a produção do pedagogo português tornou-se objeto temático de três dezenas de teses e dissertações apresentadas às Universidades de Londres, de Boston, de Illinois, Brown University, de Salamanca, de Lisboa, do Porto, do Minho, de Trás-os-Montes, dos Açores, da Madeira, além da Universidade Católica de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa e do Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Nesse mesmo diapasão, a Sérgio Niza é dedicado um verbete no compêndio francês Pédagogues contemporains, de 1996, sob a direção de Jean Houssaye.
Niza é, sem dúvida, um aguerrido defensor da pedagogia e, em particular, da educação pública. Sua vitalidade crítica é inconteste. Prova disso é o fato de que, em um Colóquio intitulado Sérgio Niza, pedagogo e cidadão, realizado em abril passado na Universidade de Évora a título de homenagem ao pedagogo, ele assim se pronunciou:
É preciso resgatar a Pedagogia e eu estou cá para isso. Porque nos enganámos quando pensámos que ela não valia nada. E com o resgate da Pedagogia hão-de regressar os pedagogos. Não os vendilhões, não os pseudo-pedagogos empresariais; uma espécie de uma pedagogia de negócios ou de um ser para o lucro que começa a invadir as escolas públicas, porque as privadas já são deles, que traiçoeiramente transforma agora esses empresários numa espécie de educadores do povo, em promotores da inclusão. Até quando a nossa paciência? (NIZA, 2013)
Pautada em grande parte em sua história de vida, a entrevista - bastante longa e, por razões editoriais, aqui condensada - principia com uma retrospectiva biográfica sua, marcada por um forte apreço pela ideia de liberdade; uma disposição frontal ao clima ditatorial em que viveu sua juventude e os primeiros anos de sua lida, incluindo uma curiosa passagem pelo maio de 68 francês.
Ademais, Sérgio Niza oferece uma apurada avaliação da educação portuguesa pós-1974, além de uma reflexão oportuna sobre a Escola da Ponte (a experiência lusitana mais conhecida entre os brasileiros), assim como lúcidas ponderações sobre o Brasil contemporâneo, conclamando este a "ir muito mais longe" no quesito educacional.
Entrevista
Começo pedindo ao senhor que conte um pouco da sua trajetória profissional e, especialmente, da idealização do MEM em Portugal.
Nos anos 1960, comecei a trabalhar como professor do primeiro ciclo com alguma surpresa e alguma expectativa acerca de mim próprio, porque provavelmente a última coisa, dentro das minhas escolhas de vida, seria ser professor. Eu tinha, acerca da profissão dos professores, a ideia de que eles tinham de repetir muito as coisas. E esse lado repetitivo da vida era qualquer coisa que eu abominava.
Estamos falando do auge da ditadura salazarista, certo?
Sim. Como tínhamos a convicção de que éramos constantemente vigiados - não só convicção; era uma coisa que se interiorizava, fazia parte da nossa identidade - , todo esse clima foi, provavelmente, o mais grave da ditadura. Mas o que eu pensava era que os professores se limitavam a repetir. E eu tinha uma grande curiosidade intelectual, quer para a literatura, quer para a pintura, e ainda pela música. Porque sou de uma família de músicos. Meu avô tinha uma orquestra de câmara, e todos os meus familiares aprenderam um instrumento. Portanto, havia esse ambiente muito culturalista em que eu vivi. E parecia que não era isso que os professores faziam. E eu desejava esse lado da criatividade, da participação na própria cultura, logo no conhecimento etc. Houve uma altura em que eu queria ser escritor e imaginava romanticamente que suportava a solidão da escrita. Depois, houve um período em que queria agir, atuar, trabalhar nas coisas da cultura etc. E foi nesse período, então, que decidi ir a Évora para o magistério, contrariando um pouco as expectativas da minha família. Só mais tarde me pós-graduei em psicologia da educação e também em investigação em educação.
Qual é a formação básica do senhor?
Fui aluno de um colégio em Estremoz. E aí fui educado. De Estremoz eu vim para o Liceu Francês onde me preparava para entrar na Faculdade de Letras. Tive um desastre: caí do elétrico. E o médico achou que eu deveria fazer um período de interrupção, para se poder testar se havia acontecido alguma coisa no cérebro, por causa da queda. Eram os anos 1960, as coisas eram lentas. E foi nesse período, em que regressei à casa de minha família no Alentejo, que tive cada vez mais vontade de passar à ação, de realizar coisas, de trabalhar o mais rapidamente possível.
O senhor tinha qual idade quando começou a lecionar?
Vinte e três. Mas o trabalho de iniciar uma organização de professores foi em fevereiro de 1965. A escola era muito formal e tudo o que se podia estudar eram os pedagogos previamente escolhidos; havia os censurados. A ditadura portuguesa tinha um cuidado imenso sobre os professores, sobretudo os de ensino primário, porque se imaginava que poderiam causar danos muito grandes no plano político. Havia uma vigilância muito grande, quer sobre os alunos, quer sobre os professores.
E como foi seu ingresso no magistério?
Tornei-me professor em 1963. A minha primeira turma era de meninos de segundo ano, muito pequeninos. Mas organizei imediatamente um município escolar, inspirado no modelo descrito por António Sérgio, seguindo as experiências de self government das escolas americanas, sobretudo, e de algumas inglesas. No ano a seguir, eu não fui aceito como professor. O Conselho de Ministros pronunciava-se sobre os funcionários que constassem não defender o Estado, e eu fui expulso como funcionário público por ter ideias contrárias à manutenção do Estado. A partir daí, eu tive de regressar a Lisboa e procurar Rui Grácio, um grande pedagogo português que tinha sido meu professor de filosofia no Liceu Francês e que estava então a trabalhar no Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian. E ele convidou-me a trabalhar com ele. Mas cansava-me muito estar horas e horas a fazer aquele trabalho de análise de questionários; eu queria mesmo era estar em contato com as pessoas. E fui como professor para o Colégio Moderno, da família do Mário Soares. Passados muito poucos meses, eu tinha de pedir o diploma que me autorizasse a permanecer no ensino particular. E aí a polícia política apercebe-se de que eu estava no Colégio Moderno e foi lá para comunicar que eu estava proibido de lecionar. Ou seja, nessa altura, eu fiquei impedido de ensinar, quer no ensino público, quer no ensino particular. Mas, entretanto, eu acompanhava os cursos de aperfeiçoamento profissional no Sindicato Nacional de Professores. Rui Grácio iniciou-os em 1963. E eu participei já nas versões de 1964, 1965 e 1966 com ele. Em fevereiro de 1965, convidei um pequeno grupo de professores a iniciarmos um processo de trabalho coletivo. O primeiro texto de meu livro mais recente, que corresponde a um texto de 1965, é o relato desse trabalho no Sindicato. Os objetivos traçados para esse grupo são praticamente os mesmos que vieram a ser seguidos quando passamos a chamar a esse grupo, que foi crescendo, Movimento da Escola Moderna.
Que persistem até hoje?
Sim. As linhas gerais são quase as mesmas: a possibilidade de os professores se formarem uns aos outros, falando e mostrando textos, suas práticas, analisando os trabalhos dos alunos, relatando o que estão a fazer. E estudando, lendo textos, discutindo etc. Essas dimensões mantiveram-se até hoje como referências genéticas que fundaram o Movimento.
E depois? Para onde o senhor foi?
Estava nesse grupo uma professora, Isabel Pereira, do Centro Infantil Helen Keller, instituição voltada a crianças invisuais. Ela achou que, se eu fosse para lá, não haveria problema, porque era uma instituição privada, mas, ao mesmo tempo, médico-assistencial, e que a polícia política não iria se interessar por isso. Nesse Centro, eles haviam introduzido as técnicas de Freinet. E isso, para mim, também foi um deslumbramento, porque Freinet fazia assentar o seu trabalho numa organização do tipo das cooperativas de produção e de serviços, tal como António Sérgio, que foi um grande cooperativista. E Freinet tinha ajudado a criar três dezenas de cooperativas rurais. Portanto, era um cooperativista militante, que seguiu o movimento das cooperativas escolares, liderado por Profit. Transferiu assim essa organização com aquelas regras de participação e decisão em assembleia, por votos, para a sua prática pedagógica. No Helen Keller, foi de fato muito estimulante. Entretanto, eu ganhei uma bolsa para ir a Paris. Em dezembro de 1966, fui como bolsista da Fundação Gulbenkian para o Instituto Pedagógico Nacional, que depois se transformou no Centre National de Recherche Pédagogique (CNRP). E, entretanto, sobreveio maio de 68. Estava eu lá. E tive de ficar, mudando os meus projetos de trabalho.
Gostaria muito de ouvir um pouco mais sobre esse momento.
Nós passávamos o dia na Sorbonne a discutir, como se diz em França, com os sábios, com o Jean Rostand, com o Jean Paul Sartre etc. Era uma coisa lindíssima, fantástica. A certa altura, o Sartre terminou uma sessão dizendo: "bem, eu agora tenho de me ir embora, porque a partir daqui só começarei a dizer asneiras". Para nós, Sartre era um herói, e vê-lo despir-se assim, em público, era uma coisa fantástica, jovens que éramos. Lembro-me de Jean Rostand com suas barbas brancas; parecia um aristocrata do século XIX. Mas era um homem muito importante na biologia e falava como se escrevesse o melhor francês do mundo. Era deslumbrante ouvi-lo, como se estivesse a ler um francês magnífico - coisa que já não tinha o Sartre, que era mais descuidado na fala. Víamos filmes argentinos maravilhosos, documentários da América Central e do Sul, coisas que não suspeitávamos que existissem. Era uma vida toda em criação constante, uma curiosidade vivíssima. Coisas maravilhosas, música, teatro. Era muito, muito interessante. Convivi com muitos professores justamente de São Paulo que chegavam a Paris; uns por curiosidade, outros por causa da ditadura.
E como se deu sua aproximação especificamente ao MEM Francês?
Em 1966, eu fui com a Rosalina Gomes de Almeida ao Congresso da Escola Moderna em Perpignan, em França, na intenção de conhecermos o Freinet. Acontece, porém, que é o primeiro ano em que Freinet não vai ao Congresso porque está muito doente. E ele morre nesse ano, meses mais tarde.
Então o senhor não conheceu o Freinet pessoalmente?
Nunca o conheci. Ficamos como observadores, dado que, na ditadura, nós não seríamos autorizados a pertencer ao MEM internacional. Essas coisas em Portugal não eram possíveis. Ficamos como observadores, com alguma ligação a eles, pensando que isso nos garantiria a hipótese de alguma defesa no estrangeiro. Se nos acontecesse qualquer coisa, teríamos quem nos defendesse fora de Portugal, haveria uma solidariedade etc. E também era um estímulo para que nós próprios fôssemos desenvolvendo nosso trabalho. Continuamos a acompanhar, mas nunca fomos, como se dizia na altura, muito freinéticos. A ligação ao MEM francês articulava-se, sobretudo, ao fato de haver a possibilidade de os professores se organizarem, ganharem um poder próprio, formarem-se uns aos outros, refletirem e fazerem desenvolver suas práticas. Portanto, era essa a ideia inicial e que se manteve, enquanto a expectativa do Freinet era inversa. O que Freinet quis foi criar um conjunto de técnicas que aperfeiçoassem e melhorassem a escola. E, então, foi juntando técnicas que já eram conhecidas - a impressora a trabalhar na escola já tinha sido utilizada na Alemanha; os diários de parede, na Revolução Russa etc. Portanto, o que ele fez foi uma seleção dessas técnicas e uma boa síntese disso, o que ele manteve durante sua primeira fase de criatividade, entre as duas Guerras. Ele era um homem da Escola Nova. Depois houve um diferendo grande com os comunistas; ele pertencia ao Partido Comunista. Antes da Segunda Guerra, o grupo responsável pelo projeto educativo no Front Populaire foi liderado pelo Langevin e pelo Wallon. Foram eles que fizeram o grande documento da mudança do modelo escolar. Eles eram todos universitários. Já os professores do ensino fundamental não tinham um grande papel na Liga da Educação Nova. Freinet, depois da libertação da França, apercebeu-se de que estes eram tratados como os práticos e, portanto, não tinham poder, não eram ouvidos. Zangou-se muito e fez um corte com o Grupo Francês da Educação Nova. É aí que, finalmente, ele chama ao seu grupo Movimento da Escola Moderna. E qual é a fundamentação? Para ele, a Escola Nova tinha-se tornado escolástica - era o termo que ele utilizava - , tinha-se formalizado, tinha perdido a novidade, o dinamismo. Era uma segunda escola tradicional. E o que ele quer, que é bonito, é trazer as coisas mais interessantes, mais valiosas pedagogicamente da Escola Nova para a escola do povo. Eram, de fato, coisas muito boas as que foram pensadas pela burguesia para a sua Escola Nova. Então, tratava-se agora de transferi-las para a escola do povo, de romper com a Escola Nova - que era a escola moderna, no sentido histórico - e criar uma resposta alternativa. Só que ele a chamou de moderna, porque era mais compreensível chamar de moderno, mas ainda com as ideias de inspiração iluminista. Portanto, houve essas duas conquistas. Pela primeira vez na história, como ele dizia, um movimento de base e uma nova pedagogia popular. Quer dizer, tratava-se de os próprios professores - ainda por cima, os professores primários, de origem mais humilde - juntarem-se e apropriarem-se, tomarem posse dos instrumentos do seu trabalho e tentarem, assim, melhorar sua profissão e a escola.
E esse é o mesmo espírito do MEM português?
De algum modo, sim. É o que me parece mais interessante no Movimento. São essas duas ideias fundamentais: a organização dos próprios professores e o fato de que vamos utilizar o que há de melhor na cultura e dar-lhe um sentido, mas que possa ser a partir da escola. No fundo, no que me diz respeito, isso é tudo o que me liga ao Freinet. Queria apenas dizer que nós, em Portugal, de fato acentuamos a necessidade de os professores trabalharem uns com os outros. Especialmente do ponto de vista político, isso era contrário ao momento histórico, mas era fundamental para os professores ganharem alguma segurança, mesmo no plano emocional, para não viverem tão desesperados. Essa era a ideia do Estado: separá-los completamente, não os deixar reunir, não os deixar estarem juntos. Portanto, para nós, tratava-se de acentuar a prática, pensar a prática e ir melhorando-a, falando sobre isso. Aí, eu, pessoalmente, tive grandes surpresas. Porque não imaginava como é difícil para os professores falarem da sua prática, e mais difícil ainda passarem da fala da profissão à escrita da profissão.
Então, o Movimento liderado pelo senhor é uma associação com ênfase explicitamente formativa, sem fundamentos partidários ou sindicais, nem ligações estatais?
Sempre quisemos manter uma independência em relação às grandes instituições de poder, mas mantendo pontes muito vivas, porque não era possível de outra maneira. Nós tínhamos no Movimento alguns dirigentes sindicais. Mas conseguimos manter-nos dialogando e respeitando uns aos outros e, sobretudo, aprendendo a compreender que as regras do Movimento não podiam se parecer com as de um partido ou de um sindicato. As pessoas tinham de trabalhar, e as falas vinham a partir do trabalho para consolidar a cidadania, a consciência política.
O que se passa com o Movimento depois do fim da ditadura, em 1974?
Nos primeiros anos da década de 1970, nós ainda estávamos muito próximos de Freinet. Utilizamos toda a panóplia das técnicas de Freinet para influenciar o nosso trabalho e para podermos continuar a trabalhar e a falar sobre ele. Porque falar sobre o que se faz é tão difícil que só por si é altamente transformador e formativo. De um modo geral, ainda hoje, em qualquer parte do mundo, os professores têm medo de falar sobre o que fazem e nem sequer aprenderam a falar sobre o que fazem. E isso é uma surpresa por nunca se ter aprendido! É como ter de voltar atrás e dar nome às coisas que todos os professores conhecem. Porque todos passaram por isso, nem que fosse com os seus professores. E o que é certo é que os professores não são capazes de nomear essas coisas. De maneira um pouco simplista, costumávamos dizer assim: nós primeiro temos de reconstituir os nomes que já se dão às coisas e que as pessoas alojam no seu inconsciente como se elas não tivessem nomes. É como se um professor não conseguisse descrever a sequência de uma ação que ele realiza com os alunos, porque se esquece ou acha que é irrelevante.
De tão automática que é?
É impressionante. Primeiro, é necessário reaver isso, quase como quem faz uma psicanálise, entre aspas. Mas é verdade que tem uma força idêntica. E causa mesmo um tipo de resistência idêntico. E, depois, é preciso ir encontrando nomes para as coisas que nós não sabemos dizer. E isso nós encontramos nos textos teóricos, nos pedagogos, nos filósofos etc. Assim, desde o princípio, fomos sempre lendo uns para os outros esses textos e discutindo-os.
Depois do Freinet, quais outros intercessores teóricos surgiram no caminho?
Em 1977, eu tinha publicado dois livros, na Editorial Estampa, dos psicólogos russos da Escola de Moscou: o Leontiev, o Luria, o Vygotsky etc. Fi-lo para revelar aos meus colegas que havia aquele ponto de vista de outros pedagogos e psicólogos. Não havia textos deles cá em Portugal. Eu fiz duas coisas em duas coleções que tinha na Estampa. Uma era dedicada às técnicas de educação e a outra, às ciências pedagógicas. Na primeira, eu procurava coisas mais perto das técnicas, das estratégias, sem serem didáticas normativas. E comecei a publicar a obra do Freinet. O que era fundamental era difundir o Freinet, para não ficar a sensação de que só alguns de nós tínhamos os segredos dele. O Freinet não era uma coisa nossa. Isso foi uma ideia que me pareceu fundamental, até para termos um diálogo mais livre e não ficarmos depositários da sua herança. Isso libertou mais o nosso estudo. Eu desejava também que nós enveredássemos por outras perspectivas, a fim de ajudar as pessoas a saltarem da perspectiva pedocêntrica, focada na criança, para uma perspectiva sociocentrada. Quer dizer, as aprendizagens são sociais, são feitas com os outros, na interação com os outros. Então, esse salto começa a dar-se mais sistematicamente no interior do Movimento na passagem dos anos 1970 para os anos 1980. E começamos a estudar o David Olson, o Jerome Bruner, os pós-vygotskyanos que eu também tentei divulgar. Portanto, um salto para uma perspectiva mais da psicologia cultural e de uma pedagogia mais de cariz sociocultural e histórico-cultural ou, como agora se sugere no Brasil, uma perspectiva sócio-histórico-cultural. Portanto, o salto era denunciar a escola tradicional centrada no professor, não aceitar como boa a herança da Escola Nova, com sua pedagogia centrada na criança, mas aproveitar toda a investigação de cariz mais antropológico e cultural, das aprendizagens sociais, nesse largo espectro de investigadores. Um dos autores que nós lemos muito foi o Gordon Wells, com aquela ligação que ele faz do Vygotsky às propostas linguísticas de Halliday, que são muito inspiradoras.
Um tema específico que eu gostaria que o senhor comentasse: a Escola da Ponte. Faço esse pedido uma vez que se trata da experiência pedagógica portuguesa mais difundida entre os brasileiros.
A Escola da Ponte manteve-se numa aproximação a muitas coisas que são da Escola Nova, mesmo na sua estrutura, nas grandes assembleias de alunos, uma grande individualização do trabalho dos alunos, quase mesmo uma aprendizagem individual. É certo que no percurso, em determinados momentos, faz apelo ao professor ou se criam grupos de colegas para fazer avançar. Mas era como se o percurso normal fosse centrado em cada um dos alunos, depois se juntassem em grupos de necessidades comuns, como os grupos de nível, e finalmente em grandes assembleias formais, nas quais a verdadeira comunicação é impossível. O José Pacheco [ex-diretor da Escola da Ponte] chegou a ter uma espécie de organismo de justiça. Quer dizer, a partir da própria assembleia, os alunos podiam julgar comportamentos. Penso que veio a corrigir e melhorar alguns desses procedimentos. Mas é difícil acompanhar a cultura pedagógica da Ponte por não estar descrita e teorizada pelos professores.
O senhor conhece a Escola da Ponte?
Nunca lá fui. Porque uma coisa que me pareceu sempre estranha é que o José Pacheco achava que, em vez de ser ele a explicar-nos o que se passava na Escola da Ponte, nós devíamos ir lá ver. Portanto, parecia-me perigoso ele não avançar para uma teorização das práticas da Ponte. Isso eu achava perigoso para o trabalho dele, porque depois não teria a possibilidade de se repetir noutra escola, de se expandir. Ficaria ali fechado. E a outra questão que me parecia perigosa era a de que ele pudesse acreditar que quem fosse ver, visse a Escola da Ponte dele. E um professor muito tradicional interpretará a Escola da Ponte da maneira mais tradicional que queira; nunca perceberá o que o José Pacheco quis da Escola da Ponte. A sua liderança carismática se agigantou em relação ao conjunto da equipa. Não são coisas de que ele tivesse culpa, mas provavelmente não houve uma reflexão suficientemente profunda para ver que tudo isso não só impediria a Escola da Ponte de continuar, como no tempo em que ele a criou, mas tornava difícil que aquele sonho fosse retomado por outras pessoas. Depois, ao expandir a metodologia de trabalho para ciclos muito disciplinares, não podendo ser ele a assumir a direção da escola e ao ter de delegar para outra pessoa, parece que tudo isso não foi suficientemente trabalhado. Eu acho que, apesar do muito respeito que lhe tenho, devia ter refletido até onde a Escola da Ponte, como organização por ele vivida, era possível ser transferida para outros ciclos de ensino, e a partir de quando se tornava impossível manter o quadro de organização e valores originais. Uma vez estando ele no Brasil, a Escola da Ponte já não é, com certeza, a Escola da Ponte que ele criou; é outra coisa. Mas, como eu disse, eu nunca fui à Escola da Ponte. Mas tenho muito respeito pelos professores de lá. Pela sua coragem e determinação, embora em outra escola.
Os professores de lá estiveram ligados ao MEM?
Depois de o José Pacheco ter partido para o Brasil, a Escola da Ponte pediu para seus professores fazerem formação no MEM. E nós aceitamos, disponíveis. Nosso local de trabalho é a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto; emprestam-nos os locais e é lá que temos as nossas reuniões de sábado. E eles iniciaram esse trabalho conosco. Mas consta que a administração regional do Governo não gostou que eles se ligassem ao Movimento. Era complicado porque, se eles têm um modelo de estruturação do trabalho já muito formalizado e com prestígio perante um público determinado, é difícil dar um salto para outra concessão pedagógica. De resto, as nossas portas continuam abertas para eles, como para todos os que queiram vir pensar criticamente conosco sobre o trabalho pedagógico.
Mas eles acabaram não permanecendo no MEM?
Não. Se aprofundassem o modelo de trabalho deles, iriam descobrir que se mantinham ligados a uma espécie de pedocentrismo centrado nos planos curriculares individuais das crianças, o que conflitua com uma forte dimensão cooperada de entreajuda que funda as nossas práticas de comunidades de aprendizagem.
Posso concluir, então, que o trabalho lá realizado segue um modelo afinal conservador?
Não aceitarei chamar-lhe conservador. No plano da evolução histórica da pedagogia, poderíamos dizer que eles se vinculam mais ao pedocentrismo da Escola Nova. E nós, no MEM, tentamos romper, por uma análise crítica, não só com a escola tradicional, com a gramática da escola, mas também com o modo como se centra a organização das aprendizagens na Escola Nova. Queremos uma escola contemporânea. Criamos o nome Movimento da Escola Moderna com o equívoco inicial que até o próprio Freinet teve. Mas, por maioria de razão, a nossa associação se deveria chamar Movimento da Escola Contemporânea. Só que essas coisas não se fazem só porque as pessoas querem. A escola moderna quer dizer, para nós, a escola contemporânea; não é a escola moderna do século XIX.
Quanto às ações específicas do MEM, como ele se sustenta financeiramente?
Somos nós. Cada associado tem uma cota, paga por semestre ou por ano. E temos um congresso anual que ajuda financeiramente.
Há apoios externos?
Temos apenas um apoio do Estado. Toda a formação que fazemos é gratuita. E, como contrapartida, o Estado cede anualmente um ou dois professores para apoiarem a organização da formação, tal como o faz para associações de professores, como as de português ou de matemática. Temos grupos de professores em cada uma das 14 regiões do país. O mais importante, porém, é a formação interna no MEM, a que chamamos autoformação cooperada. Faz-se em grupos de trabalho cooperativo, por afinidades de interesse de pesquisa, de análise de práticas e de produção escrita nesses grupos.
Isso cobre o território todo?
Sim, incluindo as ilhas, os Açores e a Madeira. Em cada uma dessas regiões, há encontros durante um sábado por mês, com três horas, geralmente de manhã, abertos a todos. O programa que se realiza ao longo do ano pode funcionar também, para quem precisa e se inscreva, como formação creditada, isto é, pode conceder créditos. E pode ser frequentado livremente por quem quiser. Cada encontro tem uma hora e meia de caráter mais teórico, em que aprofundamos um dos módulos ou uma das áreas em que assenta o que nós chamamos sintaxe do modelo: trabalho por projetos; trabalho coletivo, em pesquisa dialógica; tempo de estudo autônomo na sala de aula, guiado por um plano individual; e organização comparticipada do trabalho curricular em conselho de cooperação educativa.
E essas temáticas são comuns às diferentes regiões do país?
Não. Tem que se tratar é dessas áreas. Na região, escolhem e convidam pessoas do Movimento, de outras regiões ou da própria para tratar desses temas. Temos um Centro de Recursos On-line com muitos textos de investigação e teóricos para poderem ser impressos e servir também de material para leitura e debate nessa hora e meia da parte teórica, como se fosse um seminário. E, depois, na outra hora e meia, é como se se tratasse de estudos de caso. Para nós, é o momento mais importante e o chamamos de relatos de práticas: apresentamos as práticas que realizamos, ilustrando-as, levando os próprios trabalhos dos alunos para mostrar aos demais. Nessa segunda parte, as educadoras estão numa sala, os professores do primeiro ciclo estão noutra sala, e os professores das disciplinas, seja do segundo ciclo ou do secundário, estão juntos, porque, no fundo, nós não falamos propriamente de didáticas. Falamos da gestão do currículo, do modo como os alunos trabalham, dos produtos dos alunos etc. Três salas a funcionar em simultâneo. Mostram-se as práticas e há um debate depois sobre essas práticas. Esse é um tipo de ação de formação que fazemos desde os primórdios dos anos 1960. Realizamos, no entanto, muita outra formação em oficinas, seminários, estágios ou projetos de pesquisa e aprofundamento pedagógico.
E o senhor participa dessas formações?
Sim, participo.
Aqui em Lisboa?
E circulando no país.
E o senhor capitaneia a região de Lisboa?
Não, eu não pertenço à direção. Logo que pude, retirei-me da direção para dar oportunidade para que o maior número de companheiros rotativamente coordenasse os trabalhos do MEM, a partir do órgão colegiado que é o conselho de coordenação pedagógica. Lembro-me de que a última vez em que estive na direção foi difícil, para mim e para o Movimento. Foi no princípio dos anos 1990, durante um governo do Partido Socialista. Alguns responsáveis do governo estavam muito ligados ao MEM e começaram a chamar as pessoas do Movimento para alguns cargos. Como era previsível que o Partido Socialista viesse a ganhar as eleições, lembrei, no Congresso do MEM antes dessas eleições, o que acontecera em França e em Espanha: em França, quando Mitterrand ganhou, ele financiou o Movimento francês e cativou alguns dos seus professores para os programas da educação do Partido Socialista Francês. E, com isso, destruiu o MEM Francês, de algum modo.
E quanto à Espanha?
Quando o partido, o PSOE, ganhou as eleições em Espanha, chamaram os grupos de professores, as associações de professores, com várias designações, várias ideologias etc. Em Barcelona, fizeram uma reunião e propuseram financiar essas associações e esses grupos. Chamaram-lhes Grupos de Renovação Pedagógica. As organizações de professores perderam os seus nomes e as suas identidades, e passaram a ser os Grupos de Renovação. E tinham muito dinheiro. E, ao ter muito dinheiro, passaram a convidar pessoas a fazerem conferências e perderam a iniciativa e a sua identidade. Era, portanto, fundamental, nessa altura, saber enfrentar as tentações do poder para não perdermos o sentido do nosso trabalho, a nossa autonomia e o nosso esforço de reflexão crítica e de cidadania ativa.
Eu gostaria que o senhor fizesse, se possível, um balanço da história dessas últimas décadas da educação em Portugal.
Passados esses quase 40 anos depois do 25 de abril, é preciso reconhecer, perante o atraso enorme do direito de acesso à escola dos portugueses, que as conquistas foram espetaculares. Já o direito a ter sucesso na aprendizagem escolar não tem sido alcançado como se impunha; a escola mantém-se seletiva. Fica-se com alguma nostalgia, portanto. Como não se pôde avançar mais com os meios imensos que tivemos, sobretudo depois de entrarmos na União Europeia, e tendo vindo tanto dinheiro para a educação? Nós queríamos que as coisas se passassem mais depressa, mas eu tenho a consciência plena de que uma mudança de cultura é como um mudar de pele, é mudar o corpo, é mudar a mente, é mudar tudo. E isso, portanto, leva decênios, séculos até. Depois de se ter trabalhado tanto e termos tido tantos recursos, como é que se avançou tão pouco no que há de substancial na escola? Digo sempre isto nos meus escritos e não me cansarei de dizê-lo: o que há de fundamental na escola - a adoção do método simultâneo (ensinar a muitos como se fossem um) - permanece desde o século XVII. Porque isso toma corpo visível no século XVII, seguido da importância decisiva da escola de massas no século XIX, depois da conquista do poder pela burguesia. E até por uma contradição: como é que a burguesia, que quis ter uma escola excelente e de qualidade inultrapassável para os seus filhos, aceitou tão rapidamente, com aquele espírito negocial que tem, que, afinal, o que era fundamental para os filhos deles era o capital social? Como é que ela aceitou que ter os seus filhos juntos dos filhos dos seus pares, ricos, tinha mais valor para a continuidade das suas empresas e bens do que propriamente uma escola diferente? Isso também é desconcertante, porque essas pessoas que tinham o poder econômico, que inicialmente pensaram que tinham de ter uma escola especial, toda de luxo, pensam depois que a escola, tal como era, servia porque eles têm dinheiro suficiente para acrescentar ao currículo aquilo que é do seu grupo social - por exemplo, se for andar a cavalo, é andar a cavalo; se for piano, é piano etc. Coisas que não haverá na escola, mas que ele pode ter. E se quiser melhorar a capacidade numa disciplina, compra o trabalho de outro professor lá para casa. Mas prescindir do avanço da escola é um erro para os capitalistas, que hão de pagar caro num futuro em breve, porque se esgotou mesmo a escola e porque os saberes escolares incorporam cada vez mais o trabalho, todo o trabalho, mesmo o trabalho dos filhos deles. Então, há coisas para que a escola se tornou indispensável, mas obsoleta. E ela tem de, à força, transformar-se e melhorar para eles também poderem ser mais ricos. Veja a contradição e a miséria cultural que isso é. Nem sequer é preciso acentuar aquilo que nós temos de acentuar, que é a centralidade da cultura, da criatividade etc. Mas é preciso mudar para que os filhos deles, tal como os filhos de todos os outros, suportem a escola e ela seja imediatamente útil não só ao progresso da economia, ao progresso social, porque o desenvolvimento econômico e social depende do desenvolvimento humano que só a melhor educação pode assegurar.
Uma contradição estrutural, portanto?
Sim. Veja-se a lição da Suécia ao estremar as tradições das velhas escolas de sempre. Os resultados do PISA na Suécia baixaram só com o governo de direita. Quer dizer, o governo conservador revalorizou a atitude e o trabalho tradicional dos professores, como está a acontecer com a aliança de direita em Portugal. Na Suécia, com os professores mais vigiados e mais controlados, não foi possível obter melhores resultados. Pelo contrário. Só quero significar que a natureza da escola, quer dizer, a natureza histórica da própria escola, cria esse empobrecimento da escola. E, infelizmente, esse empobrecimento do trabalho dentro da escola manteve-se até agora, por vezes de forma mais visível quando governa a direita, mas persiste de forma mais oculta ao longo dos tempos, resistindo à mudança. Em Portugal isso ocorreu, como na maior parte dos países. E, depois, uma coisa que parece mentira, mas que acontece: nunca se fez nada de verdadeiramente importante para educar as crianças, na escola, para a cidadania democrática. Nada se passa para que as crianças vivam essa dimensão da solidariedade, da cooperação, da partilha democrática, de construir regras e de transformá-las, de compreender o que são os valores democráticos na vida do dia a dia. Não falo dos regimes liberais democráticos, mas dos valores que constituem a democracia e que permitiram os direitos humanos. Isso é impensável: como é que, reunidas as condições para que isso pudesse acontecer, não tivesse acontecido? Diz-se que com medo de se parecer a qualquer coisa que acontecia na ditadura, que era a ideologização forçada dos alunos. Mas isso não é suficiente para explicar o que aconteceu. Quer dizer, o Partido Socialista teve muita culpa, porque governou durante muito tempo sem apostar, como devia, na formação para a vida democrática, nas relações cotidianas entre os cidadãos.
Mas por que sentimos falta de algo que, a rigor, nunca houve na história da escola?
Eu situo-me no campo do possível. Eu trabalhei como professor e trabalho com centenas de professores que trabalham com seus alunos, gerindo o currículo de maneira compartilhada, discutindo o que vão fazer, produzindo trabalho e divulgando-o, discutindo as coisas que acontecem de mal quando os outros sentem que um está a fazer mal ao outro. E analisamos isso, conversamos sobre isso. E eles encontram soluções, desde que não sejam soluções-castigos, mas sim a explicitação, a clarificação do que está a acontecer, e se têm razão de ser. E buscam-se novos caminhos para as tensões e para o trabalho cultural. Porque isso acontece com alguns professores e algumas turmas, e até com uma ou outra escola em Portugal; eu sei que isso é possível. Porque, se não, não podia ter acontecido conosco.
E não é sempre por exceção que pensamos a escola? Peço perdão por estar encurralando o senhor.
Eu tive sempre medo de me dizer: eu quero, num tempo determinado, que todas as escolas funcionem como nós funcionamos. Eu não podia fazer isso, porque isso seria contra a minha ética. A única coisa que eu posso dizer é: pode-se fazer de outra maneira, porque há pessoas que fazem de outra maneira. Não aspiro a que haja um governo que diga: vamos todos fazer a Escola Moderna. Porque, nessa altura, eu tinha que me suicidar. Não suporto a ideia de qualquer totalitarismo político, e a educação é o coração da polis - o nosso maior bem, no dizer de Sócrates. É urgente que novas e diversas culturas pedagógicas façam avançar, em diálogo esforçado, a educação e o desenvolvimento humano.
Pois bem, gostaria, por fim, de saber as impressões do senhor sobre a educação brasileira.
Eu sou de um país muito pequeno e, portanto, perco-me na imensidão cultural do teu país. Eu julgava que os brasileiros estavam muito mais ligados aos Estados Unidos da América. E não estão. São coisas que é preciso ir ao Brasil para perceber. Porque há uma ilusão na Europa em relação ao poder dos Estados Unidos sobre as Américas Central e do Sul. E não é tanto assim, muito menos para o povo. Os brasileiros, em geral, não têm nenhuma identificação com a América do Norte. São mais as elites. Mas, nas organizações de educação, há uma forte marca dessa ligação. Por exemplo, a ideia de que boas são as escolas privadas, porque elas é que dão prestígio, e as outras, as escolas públicas, são para o povo, para os pobres. Essa grande divisão é que, a mim, me inquieta, porque mesmo uma pessoa da classe média baixa quer fazer todos os sacrifícios e ter vários empregos para ter um filho na escola privada para lhe assegurar promoção social.
Na sua avaliação, teríamos aberto mão, em alguma medida, da luta coletiva pela valorização da escola pública?
Eu sinto até, talvez injustamente, certa desistência. É como se fosse algo naturalizado. Os municípios têm as escolas para aqueles que não vão para os colégios particulares. Esse esforço das escolas públicas é muito centralizado nos governos federais e municipais, com pessoas provavelmente muito interessantes, mas, como sempre acontece, são quadros que permanecem muitos anos nesses lugares de assessoria. E essa permanência acomoda as pessoas. Achei muito interessante o esforço que fazem. O Estado de São Paulo, riquíssimo que é, faz um imenso esforço hoje, mas uniformiza muito os materiais, uniformizando também os professores. Eu sei que, sendo pessoas culturalmente tão diferenciadas como são os ministros e os secretários de educação, eles têm alguma desconfiança em relação ao nível e à qualidade da formação dos seus professores. Eu creio que é essa desconfiança, que há também na Europa, que centraliza a própria pedagogia e uniformiza as orientações para que se façam as mesmas coisas, ao mesmo tempo. Falo isso com todo respeito, mas eu acho que o Brasil, como país imenso que é, rico que é, tem recursos em que eu espero que os governos brasileiros invistam cada vez mais numa revisão que tem de ser quase radical da formação dos professores. Começaram agora a melhorar o salário, mas é pouquíssimo. Muitos professores que eu conheço continuam a ter três ofícios para conseguir ter alguma dignidade de vida. Ter professores, que são instrumentos tão cruciais para um Estado, a desperdiçar o seu tempo, fazendo-os trabalhar em vários postos, vai-se virar contra o país, contra os brasileiros. Isso me faz pena, faz muita pena. Há muito dinheiro a gastar nas escolas públicas, e algumas deveriam ser escolas de referência. Trata-se de apostar que algumas escolas públicas podem ainda ser melhores que os melhores colégios privados. Se algum dia conseguir o Brasil exibir isso, será um avanço brutal. É preciso que se mostrem escolas públicas não uniformes, que se diferenciem, que façam coisas diferentes. Não tem de ser a escola privada a mostrar que é diferente, porque nunca podemos transferir para a escola pública essa diferença. Esta tem de nascer no interior da escola pública. Uma pedagogia de luxo para os pobres.
E como fazê-lo a contento?
Eu percebo que o Estado brasileiro deu uma grande prioridade, nesse momento, às Universidades, porque precisa de quadros muito bons. Mas a diferença brutal entre um professor universitário e um outro é tão grande que ainda é uma coisa quase impensável. Isso tem de dar uma volta no Brasil. Eu não tenho autoridade, muito menos como português, para dar recados ao Brasil, mas sinto-me ligado a muitos brasileiros e, portanto, é com muito carinho que digo isso. E também respeito o esforço que as duas últimas presidências do Brasil têm feito para dar melhores condições aos pobres. Mas, no plano da educação, é fundamental ir muito mais longe. É claro que levará muito tempo. Fica-se magoado quando se vê que se podia ter tirado melhor partido de coisas que não fizemos etc. Agora, em Portugal, vimo-nos confrontados com uma aliança de direita, com todas as políticas de empobrecimento cultural da direita que aconteceram nos anos 1980 nos Estados Unidos. O mesmo tipo de empobrecimento, a mesma cegueira, o mesmo classismo. Estamos a vivê-lo da maneira mais dramática. No Brasil, ao menos, tem-se outra respiração. No Brasil, não há um governo de direita. Quer dizer, há de ter ainda muita esperança no que os governos do Brasil possam fazer, mesmo que leve muito tempo. Temos de ter algumas grandes escolas públicas e investir muito na formação com prestígio acadêmico. Tem provavelmente de ser com mais estudos, mesmo que os professores não aprendam com mais estudos acadêmicos, que não se tornem melhores práticos, como se tem visto na Europa. Como o António Nóvoa costuma dizer, é preciso trazer a profissão para dentro da formação. E os saberes profissionais foram excluídos da formação à medida que ela se universitarizou. Na Europa, a contradição é essa. No Brasil, ainda se está a tempo de trazer a profissão para dentro da formação. Um curso de formação inicial para professores é um curso profissional, não é um curso para saber as teorias todas e a história toda da educação. Tem de se saber coisas dessas, obviamente, mas tem de se saber das práticas, aprendê-las, criticá-las, voltar atrás, aperfeiçoá-las. E isso é muito doloroso, porque a profissão de professor é muito pesada, mas crucial para todo o desenvolvimento. Isso é novo na história: o reconhecimento de que os professores são imprescindíveis. Essa tomada de consciência mais coletiva pode ajudar a melhorar a condição da profissão docente e melhorar as escolas. Eu acho que é preciso dar mais importância ao ensino público no Brasil, porque as pessoas merecem. E porque o Estado precisa.
Caro Sérgio, agradeço-lhe imensamente as reflexões tão oportunas.
Bibliografia disponível
Julio Groppa Aquino é professor associado (livre-docente) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador do CNPq e da Fapesp.
- MARCELINO, Francisco. Escola Moderna: um produto cultural na construção de uma Cultura Pedagógica Democrática. Escola Moderna, n. 35, p. 51-63, 2009.
- NIZA, Sérgio. Sérgio Niza, pedagogo e cidadão, 2013. Disponível em: <http://www.ueline.uevora.pt/Canais/cultura/(item)/8018>. Acesso em: 25 abr. 2013.
- NÓVOA, António. Ética, pedagogia e democracia são exatamente a mesma coisa. In: NÓVOA, António; Ó, Jorge Ramos do; MARCELINO, Francisco (Orgs.). Sérgio Niza: escritos sobre educação. Lisboa: Tinta-da-China, 2012. p. 17-21.
- ______; Ó, Jorge Ramos do; MARCELINO, Francisco (Orgs.). Sérgio Niza: escritos sobre educação. Lisboa: Tinta-da-China, 2012.
- NIZA, Sérgio. A escola e o poder discriminatório da escrita. In: MOREIRA, Adriano et al. A língua portuguesa: presente e futuro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. p. 107-127.
- ______. A escrita como compromisso público da profissão docente. Posfácio. In: NEVES, Manuel Castro. Da vida na escola: histórias com crianças dentro. Lisboa: Asa, 2006. p. 155-160.
- ______. A escrita e a consciência da sua produção. Prefácio. In: SANTANA, Inácia. A aprendizagem da escrita: estudo sobre a revisão cooperada de texto. Porto: Porto Editora, 2007. p. 13-16.
- ______. As associações pedagógicas e a construção do conhecimento profissional. In: BONITO, Jorge (Org.). Ensino de qualidade e formação de professores. Évora: Departamento de Pedagogia da Universidade de Évora, 2009. p. 381-392.
- ______. Contextos cooperativos e aprendizagem profissional. A formação no Movimento da Escola Moderna. In: FORMOSINHO, João (Coord.). Formação de professores: aprendizagem profissional e ação docente. Porto: Porto Editora, 2009. p. 345-362.
- ______. Como se aprende a ser autónomo na aprendizagem, desde a infância. Prefácio II. In: FOLQUE, Maria Assunção. Aprender a aprender na educação pré-escolar: o modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 27-34.
- NÓVOA, António; Ó, Jorge Ramos do; MARCELINO, Francisco (Orgs.). Sérgio Niza: escritos sobre educação. Lisboa: Tinta-da-China, 2012.
Sérgio Niza: um aguerrido pedagogo português
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
16 Set 2013 -
Data do Fascículo
Set 2013