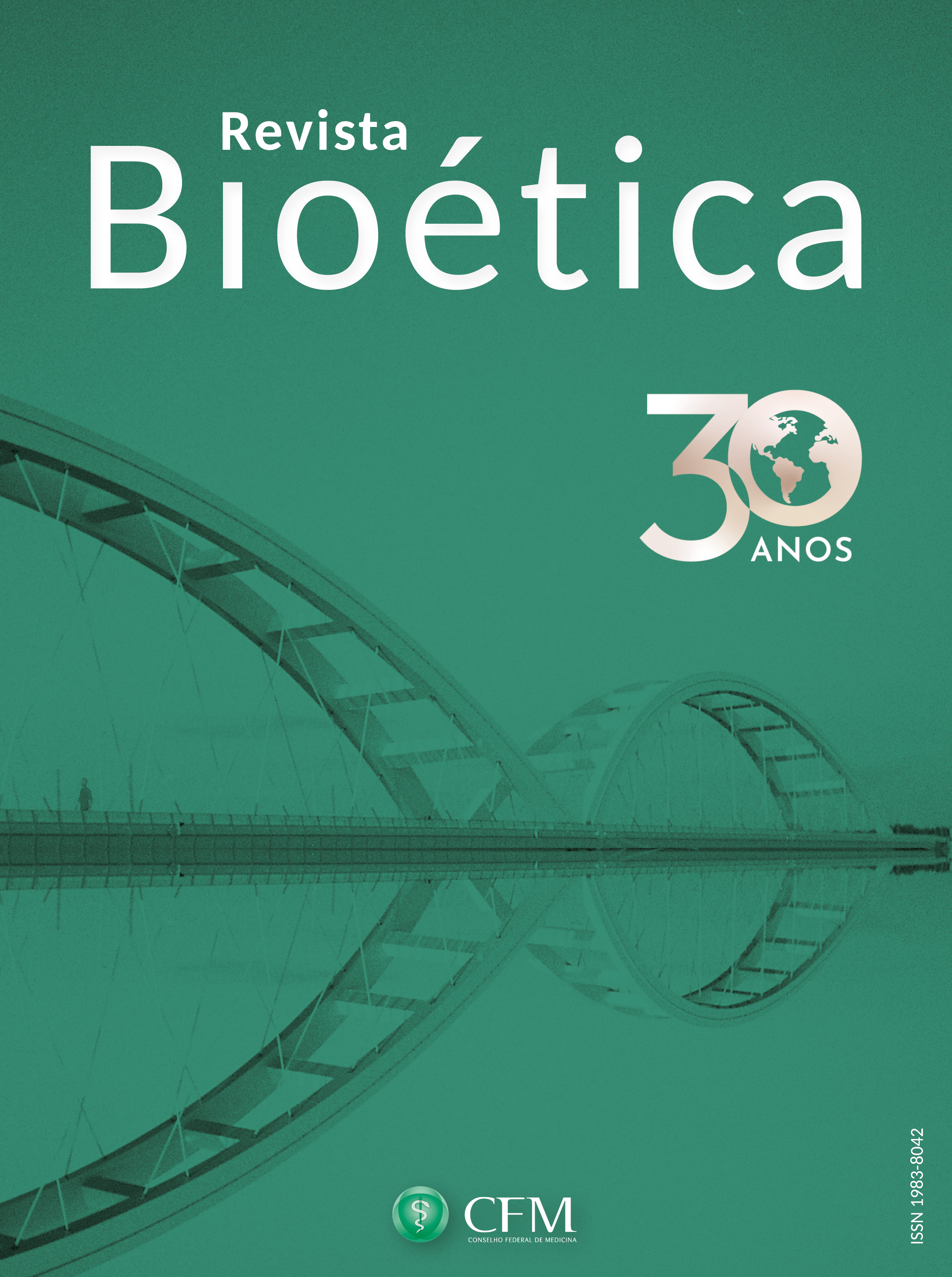Resumo
O princípio da autonomia foi conquista bioética significativa, uma vez que teve impactos positivos na relação médico-paciente. A busca do equilíbrio no contato entre o tradicional paternalismo médico e a especificidade cultural do paciente indígena é fundamental para a manutenção simétrica dessa relação. Diante disso, é indispensável que o médico considere e admita a existência da diversidade social e cultural para elaborar projetos terapêuticos que visem a autonomia do paciente, da família e comunidade, garantindo, assim, bom atendimento e qualidade de vida. Este artigo objetiva caracterizar, sob o enfoque da bioética, o desafio enfrentado na relação médico-paciente indígena, pontuar situações críticas e sugerir aos profissionais estratégias para estabelecer relações idealmente harmoniosas entre essas culturas na área da saúde.
População indígena; Saúde de populações indígenas; Relações médico-paciente; Bioética
Abstract
The principle of autonomy was a significant bioethical achievement in terms of its positive impact on the physician-patient relationship. The search for balance in the paternalistic doctor and indigenous patient relationship is fundamental for the symmetrical maintenance of such relations. In this context, it is essential that the medical professional considers and accepts the existence of social and cultural diversity when planning therapeutic strategies that aim to ensure the autonomy of the patient, the family and community, thus guaranteeing a good quality of service and of life. The aim of this article is to characterize, from the perspective of bioethics, the challenge faced by the physician-indigenous patient relationship, indicate critical situations and suggest means for an ideally harmonious relationship between these cultures in the area of health.
Indigenous population; Health of indigenous peoples; Physician-patient relations; Bioethics
Resumen
El principio de la autonomía fue una conquista bioética significativa, en la medida en que tuvo impacto positivo en la relación médico-paciente. La búsqueda del equilibrio en el contacto entre el tradicional paternalismo médico y la especificidad cultural del paciente indígena es fundamental para el mantenimiento simétrico de esta relación. Frente a ello, es indispensable que el médico considere y admita la existencia de la diversidad social y cultural para elaborar proyectos terapéuticos que contemplen la autonomía del paciente, de la familia y de la comunidad, garantizando así una buena atención y calidad de vida. El presente artículo tiene como objetivo caracterizar, desde el enfoque de la bioética, el desafío enfrentado en la relación médico-paciente indígena, puntuar situaciones críticas y sugerir a los profesionales estrategias para establecer relaciones idealmente armoniosas entre esas culturas en el área de la salud.
Población indígena; Salud de poblaciones indígenas; Relaciones médico-paciente; Bioética
Desde a chegada dos portugueses ao Brasil até os anos 1970, a população indígena brasileira reduziu-se drasticamente e muitos povos foram inevitavelmente extintos. Esse decréscimo passou a ser visto como contingência histórica, fato lamentável, e nas últimas décadas do século XX esse cenário começou a ser alterado. A partir de 1991, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu os indígenas no censo demográfico nacional, e o contingente de brasileiros que se considerava indígena cresceu 150% na década de 1990, ritmo de crescimento quase seis vezes maior que o da população geral. Houve aumento anual de 10,8% da população e média total de 1,6% de crescimento.
Hoje, segundo dados do último censo do IBGE realizado em 2010, a população brasileira soma 190.755.799 pessoas. Ainda segundo o censo, 817.963 são indígenas, das quais 502.783 ou 61,5% vivem em áreas indígenas e 315.180 ou 38,5% em zonas urbanas, revelando assim que estão presentes em todos os estados, inclusive no Distrito Federal. Em relação à composição de sexo e idade da população estudada, o Gráfico 1 mostra a prevalência de ambos os sexos em terras indígenas até pelo menos o início da idade adulta, e a base alargada indica alta taxa de natalidade entre as mulheres 11. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. [Internet]. 2011 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/1Kxx7Bq
http://bit.ly/1Kxx7Bq...
.
Composição da população indígena por sexo e idade, com domicílio declarado dentro ou fora de terras indígenas, segundo o Censo Demográfico de 2010 22. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil indígena. [Internet]. 2011 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2ezJd8s
http://bit.ly/2ezJd8s...
A predominância de mulheres e crianças nas terras indígenas implica indiretamente a real necessidade de políticas públicas de saúde diferenciadas, com atendimento médico eficaz voltado prioritariamente às necessidades dessa população, vulnerável por seu genótipo e por sua condição de minoria étnica. Considerando as históricas situações de injustiça e desigualdade enfrentadas pelos indígenas no Brasil, a começar por seu reconhecimento tardio como parte da população brasileira e a agressão aos direitos de sua personalidade, este artigo visa determinar condições ideais de assistência à saúde para esses povos sob novo ângulo, a partir de referencial bioético da autonomia na relação médico-paciente, levando-se em conta a cultura rica, conflitante e diversificada da população indígena.
Objetivo
Identificar e analisar possíveis desafios enfrentados pela bioética clínica em contextos interculturais e/ou interétnicos. Toma como objeto de estudo as relações estabelecidas entre médicos e pacientes de comunidades indígenas contemplados pela implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnasi), equalizando a autonomia médico-paciente em busca da relação ideal.
Método
Para este estudo foi feita, entre os dias 1º e 30 de junho de 2016, pesquisa bibliográfica e análise comparada dos trabalhos localizados para delimitar o tema, considerando também as políticas e diretrizes de saúde dos povos indígenas no Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia de pesquisa envolveu buscar artigos que contivessem no título os termos “bioética”, “cultura indígena”, “autonomia médico-paciente” e “saúde indígena”, associados ao operador booleano “and”, de forma a se obter os estudos mais adequados ao tema.
No total foram encontrados 169 artigos, sendo excluídas duplicidades. Quanto aos critérios de inclusão, a pesquisa abrangeu trabalhos em inglês, português ou espanhol e não se restringiu à data de publicação, preferindo estudos mais atuais somente em caso de mesma linha de estudo e/ou discussão muito semelhante sobre o tema abordado. Os critérios de exclusão se limitaram a estudos publicados em línguas diferentes das escolhidas e àqueles que não abordavam a bioética em relação ao tema explorado, resultando em uma base de 45 artigos para estudar o tema, planejar e elaborar o texto final.
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
A partir da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro passou a reconhecer os direitos e especificidades das populações indígenas no Brasil, além da necessidade de incorporá-las ao SUS e de elaborar políticas públicas que as favorecessem. Visando ampliar o atendimento médico assistencial a essas populações, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi) e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) foram criados em 1999 33. Brasil. Presidência da República. Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999. Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, altera dispositivos dos Decretos nº 564, de 8 de junho de 1992, e nº 1.141, de 19 de maio de 1994, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília; 28 ago 1999..
Por meio de parcerias entre instituições públicas e organizações indígenas e outras da sociedade civil, os Dsei visaram promover a saúde dessas populações no nível médico e odontológico. O Ministério da Saúde (MS) foi incumbido de elaborar normas e diretrizes a serem executadas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), conforme disposto, respectivamente, nos artigos 2º e 3º do Decreto 3.156/1999, ratificado em setembro do mesmo ano pela Lei 9.836 (Lei Arouca), que atribuiu essa responsabilidade ao Sasi no âmbito do SUS 44. Mendes EV. Distrito sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias do Sistema Único de Saúde. 4ª ed. São Paulo: Hucitec; 1999..
Já em 2002, o MS e a Funasa lançaram a Pnasi 55. Fundação Nacional de Saúde. Política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. sob a justificativa de adotar modelo de atenção diferenciado para garantir a esses povos maior exercício de sua cidadania no que concerne à promoção, proteção e recuperação da saúde. A Pnasi, por sua vez, determina que as equipes multidisciplinares de saúde dos distritos devem incluir agentes indígenas de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, odontologistas e médicos, em conformação similar à do Programa Saúde da Família. Prevê ainda a participação sistemática em cada Dsei de antropólogos e outros profissionais e técnicos especialistas nas questões indígenas, para se criar um espaço etnocultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, e, portanto, promover entre essas populações total cobertura, acesso e aceitabilidade perante o SUS 55. Fundação Nacional de Saúde. Política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2002.,66. Conselho Nacional de Saúde. Memória da comissão intersetorial de saúde indígena. Brasília: UnB; 2006..
A visão do profissional médico
É preciso considerar que a formação universitária de gestores, profissionais da saúde e, principalmente, do profissional médico é construída em geral segundo o determinismo cientificista próprio à epidemiologia e à biomedicina. Essas disciplinas geralmente não incluem conteúdos sólidos de antropologia da saúde, ministrados quase sempre em programas de pós-graduação.
Essa situação contrasta com o que prescreve o eixo de formação ético-humanística recomendado pelo Ministério da Educação. Além disso, essa formação deficitária é apontada pela literatura como incapaz de responder aos diversos conflitos interculturais enfrentados hoje pelos médicos, e que estão relacionados ao desconhecimento da matriz cultural diferenciada que sustenta sistemas médicos indígenas e justifica suas práticas.
Continua, portanto, sendo frequente nas ações de saúde a concepção de que o “civilizado” (profissional médico) deve fazer evoluir o “primitivo” (paciente indígena) e que o saber científico, resumido às interações entre patógenos e hospedeiros, regulação e desregulação gênica e outros desajustes de funções orgânicas, deve esclarecer ou validar o saber local, evidenciando sua supremacia. Esse etnocentrismo nos planejamentos locais de ações de saúde é responsável por descontextualizar comportamentos, simplificar demandas e principalmente por generalizar as necessidades dos indivíduos e sua coletividade 77. Garnelo L, Sampaio S. Organizações indígenas e distritalização sanitária: os riscos de “fazer ver” e “fazer crer” nas políticas de saúde. Cad Saúde Pública. 2005;21(4):1217-23..
Quanto às práticas assistenciais propriamente ditas, é comum que o médico veja as atividades diagnósticas ou terapêuticas dos sistemas tradicionais indígenas como elementos a serem tolerados ou, no máximo, incorporados de forma acessória, mas não articulados com seu conhecimento científico. Existe a tendência de classificá-las como recursos de eficácia simbólica ou, quando muito, complementares ou alternativos, sendo que os praticantes são simplesmente ignorados ou desqualificados enquanto parceiros capazes de intervir nas doenças ou agravos intercorrentes.
A visão do paciente indígena
Na visão de grande parte dos povos indígenas, o processo saúde-doença ultrapassa as rígidas noções de doença e tratamento postuladas atualmente pelas ciências médicas, mais especificamente pela medicina, que, por sua vez, se baseia estritamente em processos fisiopatológicos do organismo humano. A concepção indígena de adoecimento e cura faz parte de uma ordem cosmológica e envolve forças invisíveis da natureza; o significado da doença está muito além da nossa limitada perspectiva de corpo físico. Esse processo não envolve somente sofrimento físico, mas principalmente espiritual e moral.
Mesmo não havendo unanimidade, uma vez que, segundo levantamento do Instituto Socioambiental 88. Ricardo B, Ricardo F, Klein T. Povos indígenas no Brasil 2006/2010. São Paulo: Instituto Socioambiental; 2011., existem hoje no Brasil aproximadamente 250 povos indígenas listados pelo Censo 2010, há nítida divergência quanto ao entendimento do adoecer entre eles e o profissional médico. Como mencionado, esse entendimento não corresponde ao processo patologicamente estruturado definido pela medicina e postulado em todo o meio científico, mesmo para povos que convivem desde os primórdios da colonização com a desenfreada urbanização e industrialização dos espaços geográficos de seus territórios sagrados 99. Langdon EJ. A construção sociocultural da doença e seu desafio para a prática médica. In: Baruzzi RG, Junqueira C, organizadores. Parque indígena do Xingu: saúde, cultura e história. São Paulo: Terra Virgem; 2005. p. 115-33.,1010. Vasconcelos EM. Educação popular: de uma prática alternativa a uma estratégia de gestão participativa das políticas de saúde. Physis. 2004;14(1):67-83..
Entre as adversidades encaradas pelo paciente indígena quando submetido a tratamento médico paternalista está a dificuldade de adaptar-se à nova rotina de ociosidade a que fica submetido o paciente em internação hospitalar, à distância de seus familiares e comunidade durante o tratamento, e à convivência com pessoas de cultura e valores muitas vezes extremamente divergentes 1010. Vasconcelos EM. Educação popular: de uma prática alternativa a uma estratégia de gestão participativa das políticas de saúde. Physis. 2004;14(1):67-83.. O paciente indígena espera que o médico entre em contato com múltiplos territórios do saber, acolhendo a diversidade e a pluralidade sociocultural de cada indivíduo para então estabelecer projetos terapêuticos que deem autonomia ao paciente, à família e à comunidade, garantindo, assim, bom atendimento e qualidade de vida 1111. Organização Pan-Americana da Saúde. Declaração de Alma-Ata. [Internet]. Alma-Ata: Opas; 1978 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2wwmiRH
http://bit.ly/2wwmiRH...
12. Organização Pan-Americana da Saúde. Carta de Ottawa. [Internet]. Ottawa: Opas; 1986 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2bVDHbN
http://bit.ly/2bVDHbN...
-1313. Organização Pan-Americana da Saúde. Declaração de Adelaide. [Internet]. Adelaide: Opas; 1988 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2gvigPV
http://bit.ly/2gvigPV...
.
Geralmente, o índio doente se consulta primeiramente com o pajé, que indica e põe em prática terapêuticas que julga apropriadas, como tratamento com ervas, banhos com plantas ou fumaça. Também orienta se a doença é “de causa material” ou “de causa espiritual”, considerada consequência da não observância do código de comportamento, e causam profundo desequilíbrio no espírito humano. No primeiro caso, o paciente é tratado pelos profissionais da saúde e pelo pajé ao mesmo tempo. No segundo, se constatado que se trata de doença de caráter indígena ou espiritual, e uma vez que se crê na dualidade da alma, o ritual característico de pajé, denominado pejorativa e erroneamente pela sociedade envolvente de “pajelança”, é realizado. Normalmente apresenta bons resultados, devolvendo vivacidade ao enfermo, uma vez que é tratamento efetivo naquele contexto cultural 1414. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Médica convive e aprende com cultura indígena. [Internet]. Jornal do Cremesp. jul 2015 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2x3gvEr
http://bit.ly/2x3gvEr...
.
Relação médico-paciente indígena ideal
A relação médico-paciente deve ser processo contínuo e envolver quatro componentes principais: a consciência, o conhecimento, a habilidade e o encontro cultural. Em outras palavras, a união do conhecimento prático e científico e o respeito à cultura e à autonomia do paciente 1111. Organização Pan-Americana da Saúde. Declaração de Alma-Ata. [Internet]. Alma-Ata: Opas; 1978 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2wwmiRH
http://bit.ly/2wwmiRH...
. É essencial que o profissional médico esteja disposto a ouvir o paciente indígena e compreender como percebe sua experiência de adoecimento, na tentativa de construir juntos uma atenção diferenciada visando o melhor tratamento 99. Langdon EJ. A construção sociocultural da doença e seu desafio para a prática médica. In: Baruzzi RG, Junqueira C, organizadores. Parque indígena do Xingu: saúde, cultura e história. São Paulo: Terra Virgem; 2005. p. 115-33..
Espera-se que o atendimento conte com equipe multiprofissional e que abra espaço para o diálogo entre paciente e equipe, fortalecendo principalmente os laços de confiança entre médicos e paciente indígenas. Para atendimento bem-sucedido e de qualidade é necessária boa preparação dos profissionais, que devem ir além da mera relação médico-paciente, contemplando o contexto sociocultural e as diferentes concepções sobre saúde, doença, tratamento e do próprio indivíduo. Buscam-se dessa forma meios para aproximar culturas e contribuir mutuamente para a decisão do tratamento, valorizando e respeitando a autonomia do paciente de modo a garantir atenção integral, resolutiva e responsável 1515. Pereira ER, Biruel EP, Oliveira LSS, Rodrigues DA. A experiência de um serviço de saúde especializado no atendimento a pacientes indígenas. Saúde Soc. 2014;23(3):1077-90. Disponível: http://bit.ly/2x3w1QT
http://bit.ly/2x3w1QT...
.
Espera-se que o médico desenvolva estratégias para esclarecer o diagnóstico e os procedimentos a serem realizados, assim como para adequar o ambiente e a dieta hospitalar sempre que possível, respeitando as crenças do paciente. Sempre que for possível e oportuno, o médico deve se aproximar da comunidade para aprender a língua local e conhecer os hábitos de vida, o território e as peculiaridades dos indígenas, ampliando assim seu entendimento sobre o processo saúde-doença. Dessa forma, estabelece-se o vínculo entre médico e paciente, e há mais respeito e confiança no atendimento prestado.
O médico deve também integrar ao atendimento o apoio do pajé e de outros membros da comunidade com formação na área da saúde, ou ainda de tradutores que facilitem comunicação e entendimento mútuo sempre que julgar necessário, transmitindo assim maior segurança para o paciente e conferindo maior efetividade ao atendimento. Da mesma forma, o apoio e envolvimento da equipe médica em campanhas e trabalhos nas comunidades, levando informações sobre cuidados, prevenção, imunização e combate a doenças, são importantes para estreitar laços entre médicos e pacientes, além de melhorar a qualidade de vida nas aldeias 1313. Organização Pan-Americana da Saúde. Declaração de Adelaide. [Internet]. Adelaide: Opas; 1988 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2gvigPV
http://bit.ly/2gvigPV...
.
A bioética na relação médico-paciente indígena
A bioética é o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão moral, decisões, conduta e políticas – das ciências da vida e atenção à saúde, utilizando uma variedade de métodos éticos em cenário interdisciplinar1616. Reich WT. Encyclopedia of bioethics. 2nd ed. New York: MacMillan; 1995. p. xxi. voltada para a solução de conflitos concretos em contextos variados e consequências decorrentes do encontro entre culturas distintas. A diversidade cultural não deve ser negligenciada; contudo, suas práticas não podem ser pretexto para justificar a violação da dignidade humana, conforme o preceituado pelo artigo 12 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos:
A importância da diversidade cultural e do pluralismo deve receber a devida consideração. Todavia, tais considerações não devem ser invocadas para violar a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais nem os princípios dispostos nesta Declaração, ou para limitar seu escopo 1717. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração universal sobre bioética e direitos humanos. [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 20 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/1UsDHAx
http://bit.ly/1UsDHAx...
.
A tentativa de unificar valores socioculturais de distintas populações do Brasil é tarefa fadada ao fracasso, uma vez que acabaria com o que há de melhor em todos os povos, a herança cultural, ou seja, os modos de expressar sentimentos e valores ímpares. Porém, do ponto de vista normativo, é possível compartilhar condutas pautadas nos direitos humanos – como condenar genocídio, assassinato, tortura, estupro, escravidão, desaparecimentos forçados, maus-tratos de crianças e idosos e racismo – em busca de convívio mais organizado, propício e harmonioso em sociedade.
Quando se sentem prejudicadas, muitas comunidades indígenas recorrem a mecanismos de proteção de direitos para responsabilizar o Estado por violações praticadas. Fica claro que que povos indígenas percebem direitos humanos como instrumentos aliados e aptos para fazer valer seus valores e ideais, como o direito à terra e à identidade cultural, por exemplo. No entanto, por seu caráter intrinsicamente generalista, os direitos humanos nem sempre respondem adequadamente às peculiaridades socioculturais dos diferentes povos. É possível compreender a dificuldade em conciliar interesses distintos, mantendo-se intocada a identidade cultural, sem adaptações.
Todavia, nem todo conflito bioético pressupõe violação dos direitos humanos, como o exemplo citado por Lorenzo 1818. Lorenzo CFG. Desafios para uma bioética clínica interétnica: reflexões a partir da política nacional de saúde indígena. Rev. bioét. (Impr.). 2011;19(2):329-42. da criança Tukano, de um grupo indígena que vive às margens do rio Uaupés, nos territórios da Amazônia brasileira, Colômbia e Venezuela. A criança foi picada por uma cobra jararaca e internada em unidade de saúde de Manaus, onde o pai solicitou a entrada do pajé para que tratasse de acordo com as práticas de sua cultura, mas teve seu pedido negado. Diante da negativa, o pai buscou medidas judiciais para retirar a criança da unidade de saúde e para que recebesse o tratamento tradicional, exercendo seu direito à autonomia.
Inteirando-se da situação, o diretor de um hospital da região propôs ao pai que a criança continuasse internada na UTI, devido à gravidade do caso, submetida tanto ao tratamento da medicina ocidental quanto à medicina tradicional dos Tukano, ministrada pelo pajé. A proposta foi aceita pelo pai, culminando felizmente na cura da criança.
Certamente houve conflito bioético de base cultural em relação ao tratamento. Contudo, o médico que exercia a função de diretor do hospital teve a sensibilidade de permitir que o paciente e seus responsáveis pudessem vivenciar aspectos fundamentais de sua cultura, utilizando sua própria medicina com a ocidental. Dessa forma, chegou-se a um consenso e nenhuma das partes envolvidas violou os direitos humanos; ambas atuaram em prol do restabelecimento da saúde do paciente.
Medidas intervencionistas que não respeitam a cultura devem ser evitadas; a abordagem intercultural presume perceber a cultura, objeto de análise, sem olhar etnocêntrico, eliminando estereótipos negativos ou preconceitos, para criar relação de empatia. Sendo assim, estratégias de intercâmbio cultural são sempre adequadas para quaisquer conflitos em que se detecte tênue ou explícita violação de direitos humanos.
Distintamente, em outros tipos de conflitos, como no caso da tradição do “infanticídio indígena”, há nítida violação dos direitos humanos de crianças e mulheres, embora o contexto seja diferente. Nessas situações, na maior parte dos casos de indígenas aldeados, até mesmo antropólogos começam a admitir que talvez seja melhor aplicar o princípio do já mencionado artigo 12 1717. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração universal sobre bioética e direitos humanos. [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 20 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/1UsDHAx
http://bit.ly/1UsDHAx...
, segundo o qual não se deve recorrer à diversidade cultural e ao pluralismo para justificar a violação de qualquer direito humano. Neste exemplo, quando práticas tradicionais refletem a posição inferior de mulheres e crianças em dada sociedade patriarcal, diálogo e mediação intercultural não são suficientes.
A solução de conflitos morais de base cultural, seja qual for sua natureza, baseia-se no preceito de que não deveria haver hierarquização de culturas, sendo a proteção de vulneráveis, independentemente da comunidade cultural a que pertencem, dever inexorável do Estado 1919. Albuquerque A. Perspectiva bioética intercultural e direitos humanos: a busca de instrumentos éticos para a solução de conflitos de base cultural. Tempus. 2015;9(2):9-27.. Porém, instrumentos normativos que não representem a diversidade humana acabam perpetuando conflitos sociais. Conflitos gerados pelas diferenças culturais devem ser discutidos de forma simétrica e plural, subsidiados pela bioética, uma vez que a defesa dessas especificidades da saúde indígena tem trazido melhorias relevantes para essa população 2020. Castellani MR, Montagner MA. Saúde indígena: a bioética como instrumento de respeito às diferenças. Rev. bioét. (Impr.). 2012;20(2):349-59.. Recentemente noticiou-se o nascimento de gêmeos do povo Araweté que foram rejeitados pela comunidade indígena. Segundo a crença desse grupo, isso significa algo catastrófico. No caso, a Fundação Nacional do Índio (Funai) acolheu as crianças e as encaminhou para adoção, alternativa comumente adotada para esse tipo de conflito.
Nos processos de “relação intercultural” e mobilidade social, alguns indígenas têm atuado como agentes de saúde em determinadas áreas, especialmente na região Sul do país. Essa atividade tem facilitado muito a relação médico-paciente, uma vez que a atuação médica é permitida sem desrespeitar crenças e hábitos do povo atendido. Os agentes de saúde indígenas conhecem os limites de cada uma das partes e buscam conciliar as diferentes formas de tratar, o que resulta em integração benéfica e estimula a autonomia da relação 2121. Marques Filho J, Hossne WS. A relação médico-paciente sob a influência do referencial bioético da autonomia. Rev. bioét. (Impr.). 2015;23(2):304-10.,2222. Dal Poz J. A etnia como sistema: contato, fricção e identidade no Brasil indígena. Soc Cult. 2003;6(2):177-88.. É muito importante que os serviços de saúde busquem se aproximar cada vez mais da população atendida para entender seus costumes e adequar as formas de cuidado prescritas pela medicina ocidental às suas necessidades culturais e religiosas.
É nesse sentido que se fala do processo de intermedicalidade ou pluralidade terapêutica como forma de somar saberes baseados na medicina tradicional e outras formas de conhecimento não médicos na teoria e na prática, como é o caso dos saberes intrínsecos da saúde indígena 2323. Vieira HTG, Oliveira JEL, Neves RCM. A relação de intermedicalidade nos Índios Truká, em Cabrobó – Pernambuco. Saúde Soc. 2013;22(2):566-74.. Deve-se ponderar ainda sobre a interação medicamentosa quando se tentam conciliar tratamentos indígenas e tratamento médico convencional, e a necessidade de se fazer compreender para que essa relação médico-paciente seja possível. Essas dificuldades foram descritas por Vieira, Oliveira e Neves 2323. Vieira HTG, Oliveira JEL, Neves RCM. A relação de intermedicalidade nos Índios Truká, em Cabrobó – Pernambuco. Saúde Soc. 2013;22(2):566-74. na experiência relatada com o povo Truká. Conciliar essas formas de tratamento é sinal de reconhecimento da pluralidade e de respeito à diversidade cultural.
Para Santos 2424. Santos BS. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova. 1997 [acesso 20 jul 2016];(39):105-24. Disponível: http://bit.ly/2vX0zys
http://bit.ly/2vX0zys...
, o imperativo intercultural é difícil de alcançar devido às concepções concorrentes de igualdade e diferença, que trazem o direito à igualdade quando há inferiorização e o direito à diferença quando há descaracterização. O autor ainda destaca que nem todas as igualdades são idênticas e nem todas as diferenças são desiguais2525. Santos BS. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova. 1997 [acesso 20 jul 2016];(39): p. 115..
Considerações finais
À medida que políticas públicas de saúde alocam profissionais em regiões historicamente excluídas da atenção à saúde ou em contato com povos cuja concepção de saúde difere da ocidental, conflitos éticos surgirão. Como cada cultura tem características bastante particulares, sua resolução, portanto, depende da predisposição ao consenso e às demais ferramentas teóricas para reflexão, além de competências pragmáticas para o diálogo ainda não muito claramente definidas no escopo epistemológico da bioética clínica 1111. Organização Pan-Americana da Saúde. Declaração de Alma-Ata. [Internet]. Alma-Ata: Opas; 1978 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2wwmiRH
http://bit.ly/2wwmiRH...
.
O princípio da autonomia foi conquista bioética significativa, uma vez que teve impacto positivo na relação médico-paciente, mesmo que o aumento da complexidade dessa relação tenha gerado mais conflitos éticos. Desse modo, o equilíbrio entre autonomia e paternalismo é fundamental para manter a simetria do relacionamento entre médico e paciente. No âmbito dos serviços de saúde providos nos ambientes urbanos e para as sociedades com características ocidentais, essa relação vive a era da “decisão compartilhada” e, portanto, médico e paciente são corresponsáveis por suas escolhas 2121. Marques Filho J, Hossne WS. A relação médico-paciente sob a influência do referencial bioético da autonomia. Rev. bioét. (Impr.). 2015;23(2):304-10..
O médico deve atuar como mediador da promoção da saúde, proporcionando aos pacientes indígenas todos os meios necessários para melhorar sua saúde, garantindo acesso universal à rede com equidade e respeito cultural. Deve se dispor também ao aprendizado mútuo perante a diversidade de situações, percebendo assim a importância de ter interesse genuíno em se envolver com a cultura do outro. Para isso, deve estar propenso a se adaptar às condições, necessidades e possibilidades locais, considerando os diversos sistemas sociais, culturais e econômicos. Em contrapartida, é necessária maior abertura das comunidades indígenas para gozar dos serviços oferecidos pelo SUS, que lhe são de direito.
Para uma relação ideal, o médico que for atender pacientes de origem indígena precisa consultá-los e estudá-los como um todo, individual e coletivamente, a partir de abordagem ampla que considere o ambiente onde vive e as características de seu cotidiano, modo de vida e alimentação. Atuando desse modo, o médico age como agente que interpreta e avalia, de forma abrangente, todos os complexos fatores científicos, culturais e ambientais que envolvem a singular relação médico-paciente indígena.
Os profissionais precisam ser capazes de hierarquizar os diversos problemas médicos que acometem o paciente, estabelecendo a sequência devida para que os tratamentos obedeçam às prioridades corretas e às peculiaridades do indígena. Essa providência é indispensável para estabelecer hipóteses diagnósticas principais, programar exames complementares, caso necessário, e prescrever então a terapêutica adequada a cada caso. Quando for considerado necessário, devem solicitar a ajuda do pajé para tratamentos mais abrangentes, unindo forças para um bem maior que, espera-se, repercuta na aceitação e adesão ao tratamento pelo paciente devido à confiança e ao conhecimento que se soma.
Quando se contempla a situação do ponto de vista do paciente, a quem se pretende servir com a ciência médica, salta à vista a necessidade de elemento integrador que reestabeleça a saúde, ou seja, um referencial de confiança capaz de guiá-lo durante o tratamento médico. O paciente indígena precisa perceber o interesse e o comprometimento de seu cuidador, fator essencial na luta contra a doença. No médico se deposita a confiança e, a partir de seus conselhos, enfrenta-se a nova situação: o estar doente. Não se trata de apenas mais uma enfermidade, um caso de estudo ou diagnóstico. A doença acontece sempre em indivíduos concretos, e por isso reveste-se de individualidade, personalidade, das suas peculiaridades, características familiares, sociais e principalmente culturais. A doença é realmente pessoal e intransferível, como o próprio sujeito, como a alma e o ser.
A relação médico-paciente indígena pode ser considerada delicada, uma vez que os conflitos gerados são oriundos de percepções diferentes do processo de saúde-doença, que são permeadas por divergências éticas, morais e culturais das partes envolvidas. Essa relação exige diálogo e entendimento mútuo dos diferentes pontos de vista para se construir vínculos efetivos, de modo que seja possível equilibrar o conhecimento técnico-científico do médico e os saberes associados aos aspectos espirituais do paciente indígena. O único objetivo é restabelecer a saúde sem que essa intervenção cause malefício ao doente, comprometa a autonomia de ambos ou desrespeite a diversidade cultural inserida nesse contexto.
Trata-se de delicado exercício de escuta intercultural compartilhada para estabelecer relações sólidas a partir das diferenças próprias ao povo brasileiro. Deve-se partir da premissa básica de que culturas são incompletas e problemáticas por si só no que tange às suas concepções de dignidade humana, justificando-se assim a necessidade da pluralidade, pois se cada cultura fosse tão completa como se julga, existiria apenas uma e verdadeiramente universal 2424. Santos BS. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova. 1997 [acesso 20 jul 2016];(39):105-24. Disponível: http://bit.ly/2vX0zys
http://bit.ly/2vX0zys...
. A construção efetiva do vínculo médico-paciente indígena passa pela compreensão, trazida pela bioética, sobre a pluralidade dos seres humanos, reunidos em grupos ou não. Assim, o vínculo efetivo construído evolui também como vínculo afetivo.
Referências
-
1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. [Internet]. 2011 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/1Kxx7Bq
» http://bit.ly/1Kxx7Bq -
2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil indígena. [Internet]. 2011 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2ezJd8s
» http://bit.ly/2ezJd8s -
3Brasil. Presidência da República. Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999. Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, altera dispositivos dos Decretos nº 564, de 8 de junho de 1992, e nº 1.141, de 19 de maio de 1994, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília; 28 ago 1999.
-
4Mendes EV. Distrito sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias do Sistema Único de Saúde. 4ª ed. São Paulo: Hucitec; 1999.
-
5Fundação Nacional de Saúde. Política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2002.
-
6Conselho Nacional de Saúde. Memória da comissão intersetorial de saúde indígena. Brasília: UnB; 2006.
-
7Garnelo L, Sampaio S. Organizações indígenas e distritalização sanitária: os riscos de “fazer ver” e “fazer crer” nas políticas de saúde. Cad Saúde Pública. 2005;21(4):1217-23.
-
8Ricardo B, Ricardo F, Klein T. Povos indígenas no Brasil 2006/2010. São Paulo: Instituto Socioambiental; 2011.
-
9Langdon EJ. A construção sociocultural da doença e seu desafio para a prática médica. In: Baruzzi RG, Junqueira C, organizadores. Parque indígena do Xingu: saúde, cultura e história. São Paulo: Terra Virgem; 2005. p. 115-33.
-
10Vasconcelos EM. Educação popular: de uma prática alternativa a uma estratégia de gestão participativa das políticas de saúde. Physis. 2004;14(1):67-83.
-
11Organização Pan-Americana da Saúde. Declaração de Alma-Ata. [Internet]. Alma-Ata: Opas; 1978 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2wwmiRH
» http://bit.ly/2wwmiRH -
12Organização Pan-Americana da Saúde. Carta de Ottawa. [Internet]. Ottawa: Opas; 1986 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2bVDHbN
» http://bit.ly/2bVDHbN -
13Organização Pan-Americana da Saúde. Declaração de Adelaide. [Internet]. Adelaide: Opas; 1988 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2gvigPV
» http://bit.ly/2gvigPV -
14Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Médica convive e aprende com cultura indígena. [Internet]. Jornal do Cremesp. jul 2015 [acesso 18 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/2x3gvEr
» http://bit.ly/2x3gvEr -
15Pereira ER, Biruel EP, Oliveira LSS, Rodrigues DA. A experiência de um serviço de saúde especializado no atendimento a pacientes indígenas. Saúde Soc. 2014;23(3):1077-90. Disponível: http://bit.ly/2x3w1QT
» http://bit.ly/2x3w1QT -
16Reich WT. Encyclopedia of bioethics. 2nd ed. New York: MacMillan; 1995. p. xxi.
-
17Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração universal sobre bioética e direitos humanos. [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 20 jul 2016]. Disponível: http://bit.ly/1UsDHAx
» http://bit.ly/1UsDHAx -
18Lorenzo CFG. Desafios para uma bioética clínica interétnica: reflexões a partir da política nacional de saúde indígena. Rev. bioét. (Impr.). 2011;19(2):329-42.
-
19Albuquerque A. Perspectiva bioética intercultural e direitos humanos: a busca de instrumentos éticos para a solução de conflitos de base cultural. Tempus. 2015;9(2):9-27.
-
20Castellani MR, Montagner MA. Saúde indígena: a bioética como instrumento de respeito às diferenças. Rev. bioét. (Impr.). 2012;20(2):349-59.
-
21Marques Filho J, Hossne WS. A relação médico-paciente sob a influência do referencial bioético da autonomia. Rev. bioét. (Impr.). 2015;23(2):304-10.
-
22Dal Poz J. A etnia como sistema: contato, fricção e identidade no Brasil indígena. Soc Cult. 2003;6(2):177-88.
-
23Vieira HTG, Oliveira JEL, Neves RCM. A relação de intermedicalidade nos Índios Truká, em Cabrobó – Pernambuco. Saúde Soc. 2013;22(2):566-74.
-
24Santos BS. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova. 1997 [acesso 20 jul 2016];(39):105-24. Disponível: http://bit.ly/2vX0zys
» http://bit.ly/2vX0zys -
25Santos BS. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova. 1997 [acesso 20 jul 2016];(39): p. 115.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Sep-Dec 2017
Histórico
-
Recebido
19 Set 2016 -
Revisado
26 Jun 2017 -
Aceito
10 Jul 2017