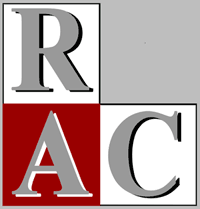Resumos
A discussão dos paradigmas que regem a produção de conhecimento na administração, cuja característica é lidar com objetos e conceitos de elevada complexidade, mostra evidências de que muitos de seus debatedores perdem partes significativas da questão, por se dedicarem à defesa de um paradigma em particular. Tendo por base a seguinte questão-problema: As limitações epistemológicas intrínsecas dos paradigmas empregados na pesquisa em Administração admitem discussões polarizadas, ou o problema possui complexidade maior do que a sustentada pelas visões isoladas de cada paradigma? O objetivo deste ensaio teórico é ressaltar que os paradigmas se complementam e que nenhum pode ser abandonado em função de sua incompletude. O foco difere das apologias ao paradigma positivista, como se observa em Donaldson (1997) e Alvesson (1995), ou nas contraposições dicotômicas e excludentes, como no trabalho de Tadajewski (2009). Os paradigmas positivista, interpretativo e crítico são expostos e contrastados com analogias da Física, nas limitações impostas ao conhecimento pelos estudos recentes da Linguística, dos Hipercubos de Data Mining, e dos estudos de fenômenos emergentes em Sistemas Complexos. O enfoque geral é a exploração de um vazio ontológico, materializado pelas discussões excludentes sobre os paradigmas.
multiparadigmatismo; incompletude paradigmática; paradigma positivista; paradigma interpretativo; paradigma crítico
Discussion of paradigms governing the production of knowledge in administration, whose characteristics deal with objects and concepts of high complexity, shows evidence that many of its panelists lose significant parts of the question by engaging in the defense of one particular paradigm. Taking the question - Do the limitations inherent to the epistemological paradigm employed in Administration research issues permit polarized discussions, or is the problem more complex than what is sustained by isolated visions of each paradigm? - as a basis, the aim of this essay is to show that the theoretical paradigms complement each other and that none of these can be abandoned because of their incompleteness. The focus differs from the positivist paradigm superiority, as noted in Donaldson (1997) and Alvesson (1995), or from dichotomous contrasts and exclusive oppositions, as in the work of Tadajewski (2009). The positivist, interpretative, and critical paradigms are explained and contrasted with analogies with Physics, the limitations imposed by the knowledge provided by the latest Linguistics studies, Hypercubes that mark the Data Mining technique, and studies of emerging phenomena in complex systems. The general approach is the exploration of an ontological gap created by exclusionary debates concerning paradigms.
multiparadigmatism; paradigmatic incompleteness; positivist paradigm; interpretative paradigm; critical paradigm
ARTIGOS
A representação das múltiplas dimensões paradigmáticas no estudo da administração: um ensaio sobre os limites contidos nas defesas paradigmáticas excludentes
The representation of multiple paradigmatic dimensions in the study of administration: an essay on the limits of exclusionary paradigmatic defenses
Luiz Antonio de Lima* * Endereço: Luiz Antonio de Lima Rua Fiação da Saúde, 260, apto. 165, Vila Saúde, São Paulo/SP, 04144-020.
E-mail: delimaluiz@mackenzie.br Universidade Presbiteriana Mackenzie - MacLogs/UPM São Paulo, SP, Brasil
RESUMO
A discussão dos paradigmas que regem a produção de conhecimento na administração, cuja característica é lidar com objetos e conceitos de elevada complexidade, mostra evidências de que muitos de seus debatedores perdem partes significativas da questão, por se dedicarem à defesa de um paradigma em particular. Tendo por base a seguinte questão-problema: As limitações epistemológicas intrínsecas dos paradigmas empregados na pesquisa em Administração admitem discussões polarizadas, ou o problema possui complexidade maior do que a sustentada pelas visões isoladas de cada paradigma? O objetivo deste ensaio teórico é ressaltar que os paradigmas se complementam e que nenhum pode ser abandonado em função de sua incompletude. O foco difere das apologias ao paradigma positivista, como se observa em Donaldson (1997) e Alvesson (1995), ou nas contraposições dicotômicas e excludentes, como no trabalho de Tadajewski (2009). Os paradigmas positivista, interpretativo e crítico são expostos e contrastados com analogias da Física, nas limitações impostas ao conhecimento pelos estudos recentes da Linguística, dos Hipercubos de Data Mining, e dos estudos de fenômenos emergentes em Sistemas Complexos. O enfoque geral é a exploração de um vazio ontológico, materializado pelas discussões excludentes sobre os paradigmas.
Palavras-chave: multiparadigmatismo; incompletude paradigmática; paradigma positivista; paradigma interpretativo; paradigma crítico.
ABSTRACT
Discussion of paradigms governing the production of knowledge in administration, whose characteristics deal with objects and concepts of high complexity, shows evidence that many of its panelists lose significant parts of the question by engaging in the defense of one particular paradigm. Taking the question - Do the limitations inherent to the epistemological paradigm employed in Administration research issues permit polarized discussions, or is the problem more complex than what is sustained by isolated visions of each paradigm? - as a basis, the aim of this essay is to show that the theoretical paradigms complement each other and that none of these can be abandoned because of their incompleteness. The focus differs from the positivist paradigm superiority, as noted in Donaldson (1997) and Alvesson (1995), or from dichotomous contrasts and exclusive oppositions, as in the work of Tadajewski (2009). The positivist, interpretative, and critical paradigms are explained and contrasted with analogies with Physics, the limitations imposed by the knowledge provided by the latest Linguistics studies, Hypercubes that mark the Data Mining technique, and studies of emerging phenomena in complex systems. The general approach is the exploration of an ontological gap created by exclusionary debates concerning paradigms.
Key words: multiparadigmatism; paradigmatic incompleteness; positivist paradigm; interpretative paradigm; critical paradigm.
Introdução
O objetivo deste trabalho é levantar algumas questões multidisciplinares objetivas, que ajudem uma reflexão mais produtiva sobre a validade [isolada ou não] do paradigma positivista - e não apenas deste - na pesquisa atual em ciências sociais aplicadas. A intenção é que o resultado destas considerações venha auxiliar o desenvolvimento de uma discussão que se tem mostrado complexa e importante no campo dos estudos organizacionais. O foco difere das apologias do paradigma, como se observa em Donaldson (1997) e Alvesson (1995), ou difere das contraposições dicotômicas e excludentes, como no trabalho de Tadajewski (2009).
Desta forma, o intuito maior é explorar a desconfortável extensão conceitual que intermedeia as proposições antípodas e mutuamente excludentes que parecem permear a discussão dos paradigmas de pesquisa nas ciências sociais. A pergunta que se faz, a partir das analogias estabelecidas no corpo do trabalho, é: As limitações epistemológicas intrínsecas aos paradigmas empregados na pesquisa das questões da Administração - aqui representados pelo paradigma positivista, interpretativista, e crítico - admitem discussões polarizadas, ou o fato é que o problema possui complexidade maior do que a sustentada pelas visões isoladas de cada paradigma?
O desconforto implícito na questão levantada está justamente nos elementos imponderáveis que fazem com que as pessoas respondam negativamente a situações ambíguas ou que não sejam perfeitamente esclarecidas. Caravantes, Panno e Kloeckner (2005, p. 30) afirmam que "as pessoas, especialmente os administradores, tem uma profunda necessidade psicológica de ver ordem nos eventos que moldam suas vidas. Quando a vida parece ser ordenada, previsível, pode-se compreender o significado dos eventos e responder com confiança". Se esta é característica destacada dos administradores, estariam livres dela os pesquisadores da área de administração? E se o positivismo ou outro paradigma falha eventualmente, como os aviões que caem, toda a tecnologia embutida no paradigma de pesquisa considerado deve ser abandonada? Ainda que este enunciado possa ser entendido como apelo neopositivista, a intenção está na busca da completude paradigmática; esta abordagem, que propõe a exploração das sinergias resultantes de combinações, é considerada útil para alguns autores, como cita Myers (1997). Este afirma que, pelo menos na dimensão de métodos de pesquisa, pode haver combinação útil de vários métodos, o que tem sido chamado de triangulação.
Corpo argumentativo
No âmbito das ciências naturais, como a física, por exemplo, os modelos matemáticos, propostos pelos cientistas, concorrem entre si, tendo por base a capacidade destes de explicar os fenômenos que se propõem decifrar. Assim as ideias newtonianas, notabilizadas como as Leis de Newton (acerca do movimento), abordando deslocamentos no tempo e espaço, dominaram o pensar dos estudiosos desta área por mais de dois séculos de frutífera utilidade, até que Einstein, há um século, as refutou, explorando sua incompletude. Entretanto, mesmo diante da reconhecida e atestada falha do modelo de Newton, as leis e equações newtonianas continuam sendo ensinadas nas escolas e sendo empregadas nas condições gerais do dia-a-dia para a física que rege a limitada experiência humana, por exemplo, de se deslocar em terra com veículos automotores em velocidades baixas. E isto ocorre em condição tal que nenhum destes modelos matemáticos (equações) consegue descrever precisamente a trajetória percorrida por uma formiga - ou mesmo por um ônibus urbano - quer seja na visão newtoniana, ou na mais sofisticada e relativizada perspectiva da visão einsteiniana. Esta angústia intrínseca sobre a imprecisão do conhecimento completo dos fatos ganhou dimensão maior, quando, vinte anos após Einstein, Werner Heisenberg, ao trabalhar nas fundações matemáticas da mecânica quântica, formulou aquele que veio a se tornar conhecido como o princípio da indeterminação (ou da incerteza) de Heisenberg. Segundo este princípio, certos pares de propriedades físicas não podem ser simultaneamente conhecidos com precisão; quanto mais precisa for a medida de uma delas, mais imprecisa será a outra. No entanto isto não impediu que os aparelhos de GPS viessem a existir e a funcionar satisfatoriamente embora estes empreguem tanto elementos da física newtoniana, como da física de Einstein, como também da hermética Mecânica Quântica.
Segundo Caravantes et al. (2005, p. 9), um paradigma pode ser definido como "uma constelação de crenças, valores, e técnicas compartilhadas por membros de uma determinada comunidade científica". O termo foi introduzido, segundo os autores, por Thomas Kuhn, preocupado com as discrepâncias e desentendimentos dos cientistas sociais, "no tocante à aplicação dos métodos e das técnicas da ciência natural aos estudos dos fenômenos humanos nas ciências sociais" (Kuhn, 1962 como citado em Caravantes et al., 2005, p. 9). Os autores colocam textualmente:
Kuhn observou que quando um paradigma é aceito pela maioria da comunidade científica, ele se torna um modo obrigatório de abordagens de problemas. Kuhn chamou este estágio de ciência normal ... assim as teorias dominantes definem o que é possível e o que não é possível nesse universo (de pesquisa) (Caravantes, Panno, & Kloeckner, 2005, p. 9).
Paradigma também é estrutura conceitual comparável a um software, cuja funcionalidade é dirigida a "diferentes formas de dados e diferentes tipos de trabalho, (onde) diferentes estruturas conceptuais são usadas para analisar e resolver problemas ligados ao modelo e à administração das organizações" (Caravantes et al., 2005, p. 8).
Paradigmas possuem uma qualidade notória, mas não evidente, que é a facilidade que agregam aos requisitos ligados às necessidades práticas de transmissão e comunicação do conhecimento entre pessoas e grupos. No caso dos paradigmas de pesquisa, aqui explorados, isto se dá por meio da padronização - e conseqüente normatização - de muitos dos aspectos centrais de um corpus de pesquisa, como os pressupostos, os procedimentos, os valores, a ética, o treinamento, e os processamentos; entretanto os paradigmas apresentam colateralidades negativas, quando estabelecem limites cognitivos para os sujeitos que os adotam, uma vez que, talvez por conforto intelectual dos próprios indivíduos, eles restrinjam (aprisionem?) aqueles que deles se servem, mantendo-os dentro das fronteiras restritivas determinadas pelo mapa ou frame cognitivo que estabelecem. É preciso lembrar, de forma a se evitar uma reificação do termo, que paradigmas, como está implicado na definição de Caravantes et al. (2005) no parágrafo anterior, emergem de uma comunidade de pesquisadores e para ela, ou seja, são fenômenos de natureza social que possuem componentes fundamentados (não exclusivamente) nas necessidades de compartilhamento e transmissão de conhecimento entre pessoas pertencentes a um grupo ou qualquer outro tipo de associação. A discussão dos aspectos ligados à construção de entendimentos comuns e objetivos, de objetos e fenômenos, eliminada a subjetividade que marca o ser humano, implica o estabelecimento de referenciais comuns e absolutos entre os participantes de um mesmo grupo. Esta discussão, se levada para uma meta de perspectiva e análise, ou uma análise de segunda ordem, irá posicionar o assunto na esfera das ontologias, e da própria epistemologia, o que excede a proposta desta limitada exposição reflexiva.
No entanto é preciso que se aborde um aspecto prosaico, porém não menos complexo da intrincada questão da comunicação, que é a própria natureza limitante da linguagem humana. Alfred Korzybski, linguista do início do século passado, refutou a noção aristotélica que baseia a vertente clássica da metafísica das substâncias, ou seja, da plena possibilidade de identificação das coisas que nos cercam (Holl, 2007). O meio encontrado por Korzybski para expor esta negação, sintetizando toda a sua obra, assumiu a forma de dois slogans: "O mapa não é o território" e "As palavras não são as coisas que elas representam" (Korzybski, 2000, p. 749, como citado em Holl, 2007, p. 1049). Em uma geração posterior, Paul Watzlawick, bon vivant e também psicólogo e filósofo, com trabalhos significativos na área de comunicação e terapia, atualizou, não o conceito, mas a imagem escolhida por Korzybski, recomendando "que não se coma o menu no lugar do prato" (Watzlawick et al., 1974, como citado em Holl, 2007, p. 1052). Um aspecto interessante da obra de Korzybski, que influenciou Gregory Bateson, notório antropólogo e teórico do pensamento sistêmico, é que ambos, em seus trabalhos principais, respectivamente Science and sanity, an introduction to non-aristotelian systems and general semantics de 1933, e Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution and epistemology de 1972, irão levantar aspectos ligados à sanidade (ou saúde) mental atrelados à questão dos sentidos (das coisas) que são compartilhados pelos sujeitos.
Mais recentemente, estudos de neurociência têm levado à noção de linguagem para esferas mais complexas ainda. Após Noam Chomsky, um dos mais influentes linguistas dos últimos 50 anos, estabelecer a noção da gramática universal inata ao cérebro humano, e de pesquisas reafirmarem a característica evolutiva da linguagem moderada pela seleção natural, novos achados dão conta de que outros aspectos da expressão humana estão ligados a esta habilidade. Os gestos dos braços e mãos, por exemplo, não constituem característica foi que foram superposta anteriormente, mas parte indispensável da linguagem (Holden, 2004). Assim, se um texto escrito não se apropria desta dimensão de linguagem, como avaliar a validade da extensa e histórica utilização de textos para propagar o conhecimento? Há uma frase de Korzybski que bem expressa a dificuldade do compartilhamento dos significados dos signos entre pessoas. Para ele "filósofos, ... , etc. são de certa forma incapazes de compreender que seus trabalhos são o produto de seus próprios sistemas nervosos. Para a maioria deles é apenas um verbalismo desprendido (detached verbalism)..." (Korzybski, 2000, p. xxxix como citado em Holl, 2007, p. 1053). No fundo o que Korzybski está fazendo é equiparar a produção de sentido a uma identidade biológica, tal qual uma impressão digital. A negativa desta proposição seria equivalente à negativa do conceito de individualidade.
Arenas paradigmáticas
Em relação a uma taxonomia para paradigmas, parece não existir consenso preciso sobre qual seria a lista última e definitiva, até porque o dinamismo de processo, em que estão envolvidas a ciência e a filosofia e o pensar de ambas, impediria este aspecto do definitivo. Guba e Lincoln (1994), diante desta situação, estabelecem como principais paradigmas, que afetam a pesquisa na Administração, o positivismo, o pós-positivismo, as teorias críticas, entre outras, e o construtivismo. Gephart (1999), com propósitos semelhantes, estabelece o positivismo, o interpretativismo, e a teoria crítica/pós-modernismo, como os paradigmas mais significativos. Myers (1997), em texto dirigido aos estudos na área de sistemas de informação, apresenta uma classificação ligeiramente distinta que, no entanto, parece atender satisfatoriamente às necessidades da discussão limitada que se faz neste trabalho. Segundo Myers (1997), três paradigmas maiores se apresentam dentro da epistemologia de pesquisa atual, voltada à administração: o paradigma positivista, o paradigma interpretativo e o paradigma crítico, cujas características resumidas se especificam abaixo.
Paradigma Positivista. O paradigma positivista assume que existe um mundo, ou realidade objetiva, que os métodos científicos, com maior ou menor presteza, podem representar, a partir da descrição de propriedades mensuráveis que independem tanto do observador quanto de seus instrumentos. Esta noção foi desestabilizada pelo Princípio da indeterminação de Heisenberg, já explorado. O paradigma positivista enfatiza o estudo das relações entre variáveis ou fenômenos, cujos dados devem ser objetivamente coligidos e processados, com o apoio de métodos estatísticos, para que então possam ser extraídas previsões e relações causais entre as variáveis-chave (Gephart, 1999; Myers, 1997). Os estudos positivistas costumeiramente visam a um teste de teoria, de forma a aumentar a compreensão preditiva do fenômeno. A abordagem positivista também pode ser denominada empírico-analítica e suas evidências serão encontradas, no emprego de proposições formais, de medidas quantificáveis de variáveis, de testes de hipóteses, e de inferências sobre um fenômeno, obtidas a partir de amostra de uma população geral (Myers, 1997). A base epistemológica para isto está na combinação de duas linhas filosóficas do século 20: a lógica empirista e o positivismo lógico, seu sucessor. Gioia e Pitre (1990 como citado em Hunt, 1994) afirmam que, com sua vertente dirigida à construção de teorias, a pesquisa positivista - dominante na área de gestão, subjaz no paradigma funcionalista. Esta noção fica ainda mais evidente no texto de Caravantes et al. (2005, p. 16).
Nossa preocupação contemporânea com fatos concretos, com dados empíricos, com prova positiva, com a substância da matéria, tudo tem suas raízes no paradigma da ciência positivista e na explicação
lockeana
sobre o funcionalismo da mente como um gravador passivo das impressões sensórias originadas no objeto ou no mundo físico e transmitidas à mente tabula rasa por meio dos cinco sentidos. Isto se baseia na noção aristotélica de que o conhecimento de um objeto pode ser idêntico ao próprio objeto.
Para Alvesson e Deetz (1998) o paradigma positivista encontra no discurso normativo sua expressão maior, tendo por objetivo básico a determinação da lei que estabeleça relações de causalidade entre objetos, empregando para isto os métodos da ciência nomotética, em clima otimista que teme a desordem, e que visa à emancipação progressiva do ser humano, emancipação esta a ser obtida por meio dos avanços tecnológicos, da estratégia, e da especialização.
Segundo Burrell e Morgan (1979, como citado em Myers, 1997), o conceito de ciência nomotética é uma classificação de alta abrangência, cujas pesquisas podem ser tanto objetivas como subjetivas. As pesquisas objetivas, também chamadas de nomotéticas, estão relacionadas à descoberta de leis gerais, e visam à previsão e ao controle. Já as pesquisas subjetivas, também chamadas de idiográficas, buscam lidar com a unicidade de cada situação particular, visando à explanação e o entendimento. Enquanto uma toma a perspectiva de um observador externo, a outra - continuam os autores - toma a perspectiva do observador interno. O conceito de nomotético tem por base a tendência à generalização descrita por Kant, que é a questão central nas ciências naturais. A palavra vem do grego e significa relativo à lei ou legislação, no caso, a busca por um princípio universal abstrato. Ela opõe-se à noção de idiográfico, que observa os fatos individualmente, e está baseada na afirmação kantiana de que, no terreno de estudo das humanidades, há a tendência a especificar. Na perspectiva idiográfica o esforço de pesquisa está em tentar compreender o que é contingente, do que é acidental e do que é subjetivo. Os dois termos foram propostos por Wilhelm Windelband, filósofo alemão da virada do século 19.
Paradigma Interpretativo. No paradigma interpretativo, a pressuposição central é o que o acesso a uma realidade (dada ou socialmente construída) ocorre apenas por meio de construções sociais, como a linguagem, a consciência e os sentidos compartilhados. Na ótica interpretativa, a ênfase é dirigida às percepções dos sujeitos e para o significado que os fenômenos têm para estas pessoas, ou seja, os sentidos que as pessoas lhes atribuem. A pesquisa interpretativa não predefine variáveis dependentes ou independentes, focando na complexidade da produção de sentido humano, à medida que a situação emerge (Kaplan & Maxwell, 1994, como citado em Myers, 1997). Esta abordagem paradigmática de pesquisa também pode ser denominada fenomenológico-hermenêutica. A escola Interpretativista pressupõe que "o mundo social não pode ser entendido da mesma forma que o mundo natural e físico" (Hatch & Yanow, 2003, p. 66). O contexto criado pelas relações e instituições humanas interfere na realidade das organizações, prejudicando a existência de sentidos objetivos para seu entendimento. "Estruturas sociais mais amplas tornaram-se um tópico negligenciado muitas vezes menosprezado e visto como um anacronismo entre os pesquisadores organizacionais que valorizam o desenvolvimento do conhecimento sobre estratégia e performance" (Stern & Barley, 1996, como citado em Lounsbury & Ventresca, 2003, p. 461). A intersubjetividade resultante requer a compreensão de "como grupos, e indivíduos dentro deles, desenvolvem, expressam, e comunicam sentido, algo que uma observação objetiva não mediada (se é que isto venha a ser possível) não pode permitir" (Hatch & Yanow, 2003, p. 66). A ideia interpretativista parte da racional kantiana de que existe um conhecimento a priori, que determina a capacidade de compreender algo. Desta forma, a perspectiva de um observador isento, como propalado pelo pensamento positivista, torna-se, senão impossível, bastante condicionado por uma estratégia reducionista de análise. Para compreender o contexto mais amplo o Interpretativismo lança mão de métodos, como "a observação, entrevistas, análise de conteúdo, semiótica, etnometodologia, e análise metafórica" (Hatch & Yanow, 2003, p. 79). Para Alvesson e Deetz (1998), o discurso interpretativo objetiva a exibição de uma cultura unificada, lançando mão dos métodos hermenêuticos e etnográficos, em clima amigável, que teme a despersonalização dos indivíduos. Com narrativa romântica e envolvente, visa à recuperação de valores integrativos, privilegiam o social.
Paradigma Crítico. Para Myers (1997), no paradigma crítico o problema é percebido em contexto de relações mais amplo, dinâmico e abundante em contradições; o pesquisador assume que a realidade social é historicamente construída e é produzida e reproduzida pelas pessoas. Mesmo que as pessoas procurem agir conscientemente, visando à mudança de circunstâncias sociais e econômicas, os pesquisadores críticos crêem que estas possibilidades são restritas por várias formas de dominação social, cultural e política. A principal missão da pesquisa crítica é a exposição das iniquidades, via crítica social, que resultam de condições restritivas ou alienantes advindas do statu quo. Para Alvesson e Deetz (1998) o objetivo básico do discurso crítico é desmascarar a dominação, usando para tal os métodos ligados à crítica cultural e à crítica ideológica, sempre em clima de suspeita, temendo a autoridade, na esperança de que se possa chegar a uma reforma da ordem social. Também, na visão de Myers (1997), este paradigma de pesquisa tem foco dirigido às oposições, conflitos e contradições da sociedade contemporânea; busca ser emancipatória, eliminando as causas da alienação e da dominação. Segundo Alvesson e Deetz (1998, p. 237)
os teóricos críticos, às vezes, têm programa de trabalho político claro, focado nos interesses de grupos específicos identificáveis, tais como mulheres, trabalhadores, negros, mas normalmente endereçam assuntos gerais como de objetivos, valores, de formas de consciência e distorções comunicativas dentro das corporações
Myers complementa, colocando que esta abordagem paradigmática de pesquisa também pode ser denominada de crítico-dialética.
Dilemas quali-quanti
Como foi visto, os conceitos de ciência nomotética e idiográfica, oriundos de uma classificação de alta abrangência, que polariza a natureza das pesquisas, classificando-as em objetivas versus subjetivas, pode ser um dos fatores responsáveis por este que parece ser um dilema que, com ares shakespearianos, atormenta os pesquisadores que se vêem diante desta escolha bipolar. Confrontados pela aparente importância superior para determinarem qual dos dois métodos de pesquisa deverá ser empregado na coleta de dados, ou seja, se esta deverá assumir características quantitativas ou qualitativas, os pesquisadores negligenciam outros aspectos, talvez de maior importância para a qualidade do trabalho, como a discussão sobre paradigmas e a escolha de teorias organizacionais para interpretar os resultados. Como as pesquisas nomotéticas visam à descoberta de leis gerais, o método quantitativo parece ideal; já para as pesquisas idiográficas, que visam à unicidade e o entendimento, o método qualitativo parece fornecer a base necessária para a coleta de dados. Myers (1997) destaca a importância do método na pesquisa, afirmando que ele é uma estratégia de investigação que parte de um conjunto subjacente de assunções filosóficas (uma epistemologia?) para projetar uma pesquisa e a sua coleta de dados. Para o autor esta escolha implica a forma como o pesquisador coletará os dados, bem como as diferentes habilidades, assunções e práticas de pesquisa que este deverá possuir. Ao discorrer sobre as assunções filosóficas que permeiam os procedimentos a serem seguidos na ciência e na filosofia Ciribelli (2003, p. 39) apresenta os métodos gerais do pensamento científico; são eles: (a) o método fenomenológico, que se refere à intuição intelectual e à descrição do intuito; (b) o método semiótico, que estuda os sinais e o significado dos símbolos e como esses se aplicam; (c) o método dedutivo, um conjunto de proposições particulares, contidas em verdades universais, considerado como procedimento ideal da ciência; e, finalmente, (d) os métodos redutivos, que, por serem indutivos e dedutivos, são aqueles que, na ciência, permitem conhecer, descobrir, descrever e predizer os fenômenos que ocorrem na realidade.
Segundo Bryman (1989), ainda que os métodos de pesquisa admitam inúmeras classificações, a questão se uma pesquisa é quantitativa ou qualitativa assume caráter especial, em face da frequência do emprego desta classificação e das implicações derivadas. O autor coloca que esta denominação advém da natureza qualitativa ou quantitativa que são atribuídas aos dados obtidos pelas técnicas de pesquisa. Para o autor, a mera existência de quantificações não serve para a distinção. Outra objeção procedente que faz é que, em alguma instância, os dados quantitativos também são baseados em julgamentos, enquanto os dados qualitativos também são passíveis de serem descritos e manuseados numericamente. Como principal distinção categórica, a pesquisa qualitativa dá ênfase a um indivíduo, ou objeto específico a ser estudado, enquanto a pesquisa quantitativa é baseada em modelo teórico. Segundo Myers (1997), o emprego do método quantitativo nas ciências sociais inclui os métodos de levantamento (survey), os experimentos laboratoriais, os métodos formais empregados pela econometria, e os métodos numéricos associados à modelagem matemática. A prioridade é que os dados sejam colhidos na forma numérica, de modo que o ferramental estatístico sirva de base para a condução das análises. Para um problema de pesquisa e hipóteses previamente definidos, um teste de hipótese é formulado e verificado. A importância da interpretação é menos pronunciada, tendendo a haver pouca atenção ao contexto. Os aspectos das inter-relações são pouco explorados, e o rigor é dirigido à estruturação do processo de dados. Na pesquisa quantitativa são medidas opiniões, atitudes, preferências e comportamentos. As inferências são garantidas pelo emprego de técnicas estatísticas, podendo criar modelos capazes de predizer comportamentos e tendências (Bryman, 1989).
Explanando a pesquisa qualitativa, Myers (1997) afirma que nela existe o envolvimento e uma não-neutralidade do pesquisador. A percepção sobre qual é o problema a ser explorado pode ocorrer durante o estudo. Assim, não há hipóteses que o orientem. Na análise dos dados coligidos é buscada a essência dos fenômenos em seus contextos de ocorrência. Alguns dos métodos qualitativos são constituídos pela pesquisa-ação, estudo de casos e etnografia. As fontes incluem a observação, a observação participante, entrevistas e questionários, documentos e textos, e impressões e reações dos pesquisadores. Para Bryman (1989), ao se empregar entrevistas e exame de documentos, pode-se explorar assuntos que não podem ser diretamente observados ou mensurados com certa objetividade. A modalidade quantitativa pode ajudar na identificação da extensão total de respostas ou opiniões que existem em um mercado ou população. A pesquisa qualitativa ajuda também na identificação de questões e no entendimento de sua importância. Ela leva em consideração uma amostra pequena de casos não-representativos e a coleta dos dados é frequentemente caracterizada pela ausência de estruturação. O resultado buscado é uma compreensão inicial do problema ou situação.
Explicações complexas
Como os paradigmas abordados têm poucos elementos comuns, as pesquisas cujas essências se mostrarem circunscritas às regiões de intersecções entre estas, ou seja, as pesquisas que irão experimentar um vazio de suporte por parte das três perspectivas exploradas, possivelmente irão engrossar a base de exceções que fornece suporte para a extensa discussão epistemológicoparadigmática que, há muito, perdura na pesquisa das ciências sociais aplicadas. A inexistência de um continuum epistemológico que forneça aporte para as situações que extrapolam as fronteiras transientes e nevoentas dos paradigmas, aqui considerados, pode levar seus atores a discussões polarizadas e a antagonismos apaixonados, uma vez que não permitem a acomodação de situações mais complexas e de difícil classificação. Um exemplo pode ser dado por uma situação de pesquisa que venha a exibir tensões de poder e conflitos de interesses, como os existentes em cadeia de suprimentos, e ao mesmo tempo envolva grande número de personagens, como o pessoal operacional destas empresas, onde se busca a avaliação das condições que ampliam e das condições que inibem o emprego de modelos colaborativos, medidos objetivamente por meio de variações nos indicadoreschave de desempenho mantidos pela cadeia. Uma situação de pesquisa como a descrita tem riqueza e variabilidade interna suficientes para demandar ângulos de cada um dos paradigmas considerados. Entretanto, este aspecto de descontinuidade entre os paradigmas, e posicionamentos quase ideológicos, em relação a estes por parte dos pesquisadores, não irão permitir lugar para abordagem multiparadigmática colaborativa?
Visões unidimensionais e unilaterais poderão dominar os debates, como no caso da discussão levantada por Tadajewski (2009) e sua ferrenha oposição a qualquer modelo que tenha raízes positivistas. Por outro lado, com Donaldson (1997), a abordagem do tipo patronizing se torna explícita, quando afirma: "a mais frutífera abordagem para os estudos organizacionais se dá através da abordagem positivista" (Donaldson, 1997, p. 90). A esta afirmação do autor segue uma justificativa dos níveis de variáveis, mas a consistência parece prejudicada diante das múltiplas considerações sobre o que se considera o positivismo, na visão mais elaborada de Hunt (1994). Alvesson (1995), por sua vez, traz extensa lista de objeções irônicas contra as superficialidades do postulado pósmodernista, demeritoriamente abreviado para pomo em seu texto, em que exalta as argumentações limitadas que são dirigidas contra o modernismo, que traz o paradigma positivista em seu bojo. Nota-se a questão política que engloba um embate de duas linhas de pensamento, que vão opondo-se em argumentos, seguindo uma previsível escalada de ataques e cada vez maior distância de possível conciliação.
O nexo da complexidade
O nexo por detrás das razões que explicam a natureza das divergências, nascidas entre autores, pode apresentar a singela face do óbvio; talvez a mais simples das razões esteja relacionada a uma característica evidente do problema, que é a complexidade intrínseca dos objetos de estudo de uma dada linha de ciência; no caso dos estudos conduzidos na administração, em particular, este fato é notório.
Ao estudarem órbitas planetárias e outros aspectos da dinâmica dos corpos celestes, astrônomos lidam com objetos inanimados macroscópicos, que não exercem vontade própria nos seus destinos, destinos ditados pela impalpável inércia que os mantêm em movimento, tudo isto sob a infatigável supervisão da gravidade, que impõe sua indelével e irresistível vontade a tudo e a todos. Os astrofísicos estarão sujeitos a uma maior complexidade presente em seus objetos de estudo, pois os interesses destes oscilam entre o micro e o macro, quando - em um momento - estipulam comportamentos coletivos que são ditados pelas partículas que habitam um núcleo estelar e, no instante seguinte, estão fazendo especulações sobre objetos de milhões de anos-luz de tamanho, como os aglomerados galácticos. Já os cosmologistas, como Stephen Hawking, colocam para si uma tarefa não menor do que a de decifrar a origem e a natureza do universo, cuja materialidade parece cobrir extremos dimensionais que somente de forma abstrata e simbólica podem ser interpretados por mente humana. Àqueles que se dedicam ao estudo de planetas, sistemas solares, e outros objetos menores, cabe-lhes a fatia da perspectiva meso. No entanto, independentemente de o problema de pesquisa ser micro, meso, ou macro, a condução destas pesquisas exige que uma miríade de técnicas e métodos de coleta de dados, requerendo que muita imaginação e criatividade estejam disponíveis, pois nenhum destes objetos está ao alcance direto de qualquer pesquisador, seja ele astrofísico, planetologista, astrônomo, ou cosmólogo.
A coleção dos objetos de pesquisa da administração tem também considerável espectro dimensional. Os maiores objetos de estudo talvez estejam ligados ao estudo das Supply Chains, com suas intrincadas questões de gestão, marcadas por conflitos de interesse; por seu turno, um dos menores objetos de estudo da administração talvez possa ser associado ao universo psíquico de um tomador de decisões. Entre estes extremos estarão todos os tipos de setores (indústrias), de organizações, de grupos e de indivíduos que, por sua vez, todos estão sujeitos e são afetados por variáveis exógenas representadas pela cultura, geopolítica, condições econômicas, condições sociais, condições afetivo-familiares, tecnologia disponível e condições ambientais. A interdisciplinaridade do estudo da administração é patente, quando se observa que grande parte dos inputs de aporte científico para análise de tal espectro de sujeitos venha da economia, da sociologia, da antropologia, da psicologia, da história, da linguística, da neurociência e de outros quaisquer campos que se mostrem úteis na tentativa de obter conhecimento desta intrincada malha de sujeitos e situações. A analogia dos modelos de estudos do cosmos que foi exposta é imediata e tentadora. Talvez até porque tenha sido o cosmos uma das primeiras estruturas a capturar a curiosidade gerada pela fagulha inicial de inteligência racional que brilhou na mente de um homo suficientemente hábil para articular uma pergunta sobra a sua natureza.
Um hipercubo
A contemporânea técnica de mineração de dados é um tipo de processo analítico que busca a exposição de padrões humanos não-óbvios de consumo e não apenas destes, como comportamentos sociais, relações ligadas ao crédito, ao sexo oposto etc. Isso introduziu o termo hipercubo, para designar as estruturas de dados multidimensionais, que melhor atendem às necessidades do processo de data mining. Um equivalente seriam as planilhas de vários níveis, que podem ser construídas com a ajuda de software, como o Excel da Microsoft. Se o universo da pesquisa de administração fosse colocado em uma estrutura deste tipo, a primeira dimensão seria representada pelos objetos de pesquisa, a segunda pelos contextos que circunscrevem estes objetos, a terceira dimensão pelos agentes do estudo, isto é, os pesquisadores/as. Por sua vez, este também, como foi visto, são propensos a exibir variabilidade; e a quarta dimensão seria destinada aos paradigmas e aos métodos que os acompanham. Uma quinta dimensão seria representada pelas bases epistemológicas, e por último, compondo uma sexta dimensão, teríamos o tempo, representado pelo fluxo da história dos homens e das instituições sociais. Talvez este modelo simplório, exibindo seis dimensões, permita uma estimativa quantitativa-qualitativa da expressiva complexidade intrínseca do estudo das ciências sociais aplicadas à administração.
Para dar corpo ao termo complexidade podem ser destacadas algumas propriedades características de sistemas complexos, que são a causalidade circular, os loopings de realimentação, os paradoxos lógicos; os loopings estranhos; as pequenas mudanças nas causas que implicam efeitos dramáticos; por último, as propriedades da emergência e da imprevisibilidade (Érdi, 2008, p.7). A ordem em uma cidade é uma propriedade emergente, pois não existe planejamento prévio desta ordem (Miller & Page, 2007). Da mesma forma, se pode pensar, se a ordem nas organizações é planejada ou emergente, e por que razão estas parecem desafiar os prognósticos de desenvolvimento, isto é, a previsibilidade. Do ponto de vista de estímulo para o prosseguimento da pesquisa em campo tão complexo, Miller e Page (2007) afirmam que a imprevisibilidade, os grandes eventos, a robustez, a emergência e a novidade constroem o interesse da perspectiva intelectual da complexidade.
Concluindo com Algumas Questões
Depois dos vários aspectos abordados nas seções anteriores, mais do que as questões da capacidade de expressão de um determinado paradigma de pesquisa, ou de sua capacidade de contribuição para a construção do conhecimento na área de administração, talvez um ponto que deveria receber ênfase é a qualidade dos produtos da pesquisa. Um paradigma isolado, somado a um conjunto de métodos, pode garantir a qualidade de uma pesquisa, como selo de garantia nos moldes de uma norma ISO? A multiplicidade de aspectos, superficialmente aqui abordados, indica que a resposta para o problema de qual é o melhor dos paradigmas não chegará tão cedo; portanto, um aspecto no qual pode haver consenso é o da verificação da qualidade do conhecimento produzido, independentemente de sua natureza paradigmática. Estes instrumentos não foram explorados aqui, e ficam, portanto, sugeridos como agenda de pesquisa. Outra questão, para finalizar, explorando uma das várias analogias que foram ofertadas, é considerar que, se a complexidade do estudo do cosmos demanda múltiplas especializações relacionadas, em boa parte ao tamanho das estruturas estudadas, será que a formulação dos paradigmas atuais, e aquela dos pesquisadores de administração, é a mais adequada? As dimensões do problema reveladas na analogia com o hipercubo e as propriedades de sistemas complexos parecem sugerir a necessidade de novo olhar sobre a questão.
Quanto à questão-problema, colocada no início do texto, pode ser ressaltado que as polarizações de discussões em torno de paradigmas, notoriamente incompletos, resultarão em continuada discordância e cizânia; por seu lado reduções oportunistas dos contextos em análise, a fim de que estes se encaixem nos paradigmas compreendidos e privilegiados pelos pesquisadores também levarão à perpetuação da incompletude do conhecimento produzido pela pesquisa resultante. Formas híbridas de pesquisa multiparadigmática, apesar de sua complexidade mais elevada, devem merecer maior consideração dos pesquisadores de Administração. Uma última analogia esclarecedora da intenção deste trabalho pode vir do desenvolvimento da indústria da aviação, ao longo de seu breve histórico de desenvolvimento: ainda que os aviões estejam sujeitos a quedas e a destruições aterradoras, o imenso benefício proporcionado pela gigantesca quantidade de vôos bem-sucedidos, resultado de esforço multidisciplinar e inegociável busca pela perfeição por mais de um século, faz com que cada vez mais este modal de transporte seja utilizado pelas pessoas, ainda que o medo de voar seja uma das fobias latentes mais comuns a atormentar o ser humano moderno. Os benefícios latentes que, socialmente e academicamente, ainda poderão ser extraídos dos estudos sociais aplicados parecem justificar uma afinidade intrínseca com os compromissos da postura descrita.
Artigo recebido em 25.06.2010.
Aprovado em 17.12.2010.
Copyright © 2011 RAC. Todos os direitos, até mesmo de tradução, são reservados. É permitido citar parte de artigos sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte.
- Alvesson, M. (1995). The meaning and meaninglessness of postmodernism: some ironic remarks. Organization Studies, 16(6), 1047-1075. doi: 10.1177/017084069501600606
- Alvesson, M., & Deetz, S. (1998). Teoria crítica e abordagens pós-modernas para estudos organizacionais. In S. R. Clegg, C. Hardy, & W. R. Nord (Eds.), Handbook de estudos organizacionais (pp. 226-264). São Paulo: Atlas.
- Bryman, A. (1989). Research methods and organization studies. New York: Routledge.
- Caravantes, G. R., Panno, C. C., & Kloeckner, M. C. (2005). Administração: teorias e processo São Paulo: Pearson.
- Ciribelli, M. C. (2003). Como elaborar uma dissertação de mestrado através da pesquisa científica. Rio de Janeiro: 7 Letras.
- Donaldson, L. (1997). A positivist alternative to the structure-action approach. Organization Studies, 18(1), 77-92. doi: 10.1177/017084069701800105
- Érdi, P. (2008). Complexity explained. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Gephart, R. (1999). Paradigms and research methods. Recuperado em 4 fevereiro, 2011, de http://division.aomonline.org/rm/1999_RMD_Forum_Paradigms_and_Research_Methods.htm
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hatch, M. J., & Yanow, D. (2003). Organization theory as an interpretative science. In H. Tsoukas, C. Knudsen (Eds.), The Oxford handbook of organization theory (pp. 63-87). Oxford: Oxford University Press.
- Holden, C. (2004). The origin of speech. Science, 303(5662), 1316-1319.
- Holl, H. G. (2007). Second thoughts on Gregory Bateson and Alfred Korzybski. Kibernetes, 36(7/8), 1047-1054. doi: 10.1108/03684920710777829
- Hunt, S. D. (1994). On the rhetoric of qualitative methods: toward historically informed argumentation in management inquiry. Journal of Management Inquiry, 3(3), 221-234. doi: 10.1177/105649269433002
- Lounsbury, M., & Ventresca, M. (2003). The new structuralism in organizational theory. Organization, 10(3), 457-480. doi: 10.1177/13505084030103007
- Miller, J. H., & Page, S. E. (2007). Complex adaptive systems USA: Princeton Univ. Press.
- Myers, M. D. (1997). Qualitative research in information systems. MIS Quarterly, 21(2), 241-242. doi: 10.2307/249422
- Tadajewski, M. (2009). The debate that won't die? Values, incommensurability, antagonism and theory choice. Organization, 16(4), 467-485. doi: 10.1177/1350508409104504
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Mar 2011 -
Data do Fascículo
Abr 2011
Histórico
-
Recebido
25 Jun 2010 -
Aceito
17 Dez 2010