Resumos
O objetivo deste artigo consiste em mostrar que os conceitos de regime de crescimento, restrição externa e financeirização presentes em diversos estudos pós-keynesianos sobre crescimento são, não só compatíveis, mas complementares entre si. Tal conciliação pode ser mais bem interpretada com o uso de alguns conceitos da Teoria da Regulação Francesa.
Regime de crescimento; Restrição de divisas; Financeirização; Economia pós-keynesiana; Teoria da regulação
The aim of this paper is to show that concepts such as growth regime, external constraints and financialization, which are very common in many Post Keynesian studies on growth, are compatible and complementary. Such reconciliation can be better interpreted using some concepts of the French Regulation Theory.
Growth regime; External constraints; Financialization; Post Keynesian economics; French regulation theory
Regime de crescimento, restrição externa e financeirização: uma proposta de conciliação* * Trabalho recebido em 17 de novembro de 2010 e aprovado em 29 de novembro de 2011.
Growth regime, external constraints and financialization: a proposal of conciliation
Claudio Roberto Amitrano
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Pesquisador Associado do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). E-mail: claudio.amitrano@ipea.gov.br
RESUMO
O objetivo deste artigo consiste em mostrar que os conceitos de regime de crescimento, restrição externa e financeirização presentes em diversos estudos pós-keynesianos sobre crescimento são, não só compatíveis, mas complementares entre si. Tal conciliação pode ser mais bem interpretada com o uso de alguns conceitos da Teoria da Regulação Francesa.
Palavras-chave: Regime de crescimento; Restrição de divisas; Financeirização; Economia pós-keynesiana; Teoria da regulação.
ABSTRACT
The aim of this paper is to show that concepts such as growth regime, external constraints and financialization, which are very common in many Post Keynesian studies on growth, are compatible and complementary. Such reconciliation can be better interpreted using some concepts of the French Regulation Theory.
Keywords: Growth regime; External constraints; Financialization; Post Keynesian economics; French regulation theory. JEL E11, E12, F43, O11.
Introdução
A trajetória das economias ao longo do tempo tem sido objeto de grande curiosidade intelectual desde o surgimento da Economia como ciência. De autores do pensamento clássico, como Smith, Ricardo e Marx, ao mainstream da Economia, como nos modelos de Solow e da Teoria do Crescimento Endógeno, passando pelas tradições pós-keynesiana e evolucionária, a magnitude e o ritmo de expansão da atividade econômica configuram-se como elementos centrais para a compreensão, ainda que parcial, do bem-estar das sociedades.
O propósito deste artigo consiste em apresentar uma abordagem específica para o estudo do crescimento econômico de médio e longo prazo que leva em conta elementos de demanda, de oferta e institucionais, bem como a interação entre eles. Mais do que isso, sugere-se, aqui, que é possível combinar, de forma coerente, abordagens distintas, mas que possuem matrizes teóricas equivalentes, tais como aquelas associadas às tradições kaldoriana e kaleckiana. Por meio de um tratamento específico para o papel das instituições no processo de crescimento, pretende-se mostrar que as noções de regime de crescimento, restrição no balanço de pagamentos e financeirização são compatíveis e complementares entre si.
Este trabalho está dividido em três partes, além desta introdução e da conclusão. Na primeira, procura-se descrever o conceito de regime de crescimento e suas implicações para o crescimento de médio prazo. A segunda seção analisa a conexão entre modelos de médio prazo e os modelos de crescimento com restrição no balanço de pagamentos de longo prazo. Por fim, na terceira seção, procura-se mostrar a relação entre financeirização e os conceitos de regime de crescimento e de restrição no balanço de pagamentos.
1 O conceito de regime de crescimento
O tema do crescimento econômico pode ser tratado sob diversas perspectivas teóricas1 (1) Optou-se por não resenhar as diversas abordagens sobre crescimento econômico. Todavia, sugere-se ao leitor interessado em aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto observar os excelentes trabalhos de Solow (1994, 1999), Acemoglu (2008), Zamparelli (2004), Amadeo (1986), Bertella (2000, 2007), Commendatore et al. (2002), Teixeira e Araújo (2011). . No entanto, neste trabalho, procuraremos oferecer uma abordagem específica para essa temática que apresenta como elementos-chave da determinação do ritmo de expansão da atividade econômica2 (2) Veja, a esse respeito, Amitrano (2010). três ordens de questões: i) a importância das instituições; ii) a centralidade da demanda agregada e da distribuição de renda; iii) a relevância do progresso tecnológico.
O conceito central que permite a interação entre esses elementos e que conduz a uma explicação possível para os episódios de crescimento econômico é o de regime de crescimento. Segundo Boyer e Petit (1991) e Setterfield e Cornwall (2002), o regime de crescimento descreve o processo de geração da renda inscrito em um determinado contexto histórico e institucional.
Nesse sentido, o ponto de partida da análise consiste na hipótese de que as economias capitalistas e, portanto, os regimes de crescimento são institucionalmente condicionados. Além disso, seguindo a Teoria da Regulação (TR), supõe-se que existam formas institucionais específicas e preponderantes nas economias capitalistas, tais como o tipo de adesão ao regime internacional, o regime monetário-financeiro, o padrão de atuação do Estado, o regime de concorrência e a relação salarial (Boyer; Saillard, 1995; Petit, 2005; Boyer, 2009) que conferem, sob certas circunstâncias, estabilidade relativa, no tempo e no espaço, ao regime de crescimento. Isso porque, em cada episódio histórico-espacial, as formas institucionais revelam certa complementaridade (Aoki, 2001; Hall; Soskice, 2001; Petit, 2005; Boyer, 2009) entre si, bem como estão associadas a algum tipo de hierarquia institucional (Amable, 2000, 2005; Boyer, 2009).
O tipo de adesão ao regime internacional descreve a forma de integração da economia doméstica à economia mundial, revelando, de um lado, a participação vigente nos fluxos internacionais de comércio (bens e serviços) e de investimento (produtivos e financeiros) e, de outro, seus respectivos mecanismos de regulação. Já o regime monetário-financeiro apresenta a forma de operação da política monetária e as características dos canais de financiamento da economia, tais como o sistema bancário e o mercado de capitais.
O padrão de atuação do Estado delineia os principais instrumentos por meio dos quais o governo afeta as condições de vida da população. Em outras palavras, revela de que maneira o Estado altera a distribuição da renda (via tributos e transferências), provê bens públicos, tanto diretamente (via gastos) quanto indiretamente (via regulamentações), assim como modifica a estrutura e a trajetória das atividades econômicas através da forma de tributar, gastar e regular. Por sua vez, o regime de concorrência especifica o mecanismo preponderante de formação de preços (concorrência perfeita, oligopólio, monopólio, etc.) e as demais estratégias de competição (não preço) entre empresas, bem como os condicionantes do processo de inovação tecnológica3 (3) Certamente, a intervenção do Estado, nesse caso, também se faz notar, sobretudo, por intermédio da regulamentação dos diversos mercados. .
Finalmente, a relação salarial indica de que maneira são formados os salários, conferindo ênfase à intensidade da barganha salarial (via sindicatos) e aos mecanismos de indexação (via produtividade e/ou preços) na determinação das remunerações, mas também ao estabelecimento das condições de trabalho.
É importante ter claro que as características específicas e a ordem de influência dessas formas institucionais não podem ser definidas a priori, mas observadas ex post como resultado do processo histórico. Além disso, ainda que as configurações institucionais sejam relativamente estáveis, tal estabilidade pode ser rompida tanto por eventos de natureza exógena como por movimentos endógenos ao próprio regime de crescimento (Amitrano, 2010).
As questões de ordem institucional são bastante reveladoras sobre uma das facetas do regime de crescimento. Não obstante, é preciso especificar os fatores que determinam o processo de geração da renda nacional.
Neste trabalho, será utilizada uma abordagem pós-keynesiana, para a qual o crescimento econômico se configura como um fenômeno complexo em que elementos relacionados à demanda agregada, à distribuição de renda e ao processo de inovação influenciam a taxa de crescimento econômico4 (4) Como o leitor poderá perceber, propõe-se, neste texto, uma conexão entre uma das vertentes pós-keynesianas e a Teoria da Regulação Francesa (TR). Para uma discussão sobre os nexos entre essas duas abordagens, veja Boyer (1988), Boyer e Petit (1991), Cornwall e Cornwall (2001), Setterfield e Cornwall (2002) e Setterfield (2010b). . Para essa tradição, tais elementos são condicionados tanto pela estrutura pretérita da economia como pela tomada de decisão dos agentes no presente, decisão esta marcada por um ambiente de conflito e incerteza (Palley, 1996). Assim, o crescimento dentro dessa tradição é considerado endógeno na medida em que o progresso tecnológico é explicitamente modelado e a taxa de crescimento resultante do modelo é passível de modificação por meio do processo decisório dos agentes5 (5) É importante notar que, ao assumir que o processo de crescimento depende da história e da contingência, se está conectando a tradição pós-keynesiana ao conceito de path dependence. Nesse sentido, essa abordagem se aproximaria daquilo que, em econometria ficou conhecido como data-driven ou data-first approach (Juselius, 2010). Isto porque, se por um lado, a noção de raiz unitária e, por conseguinte, de path dependence que ela sugere representou um ponto em favor da abordagem de ciclos reais, como bem lembrado por Nelson e Plosser (1982) por outro, também pode ser identificada como um artefato a corroborar teses pós-keynesianas que chamam a atenção para a história e as instituições, assim como para a noção de incerteza associada às trajetórias das variáveis econômicas ao longo do tempo. No entanto, o mecanismo ou conjunto de circunstâncias que dão origem a path dependence podem ser variados. Em verdade, alguns autores (Amable et al., 1993, 1994) têm criticado a abordagem de raiz unitária na medida em que a mesma negligenciaria a existência de não linearidades e mudanças estruturais na economia. De fato, grande parte dos estudos pós-keynesianos tem associado path dependence à existência de não linearidades. Veja, a esse respeito, Oreiro (2001), Libânio (2004, 2005), Herscovici (2005), Moreira; Herscovici (2006) Setterfield (2009). .
Grande parte da reflexão pós-keynesiana sobre crescimento deriva, principalmente, de duas vertentes de trabalhos. A primeira está relacionada ao artigo pioneiro de Dixon e Thirwall (1975), em que os autores formalizaram o argumento exposto por Kaldor sobre a relação entre crescimento e produtividade.
De acordo com Kaldor (1966), existe uma relação positiva entre a performance do setor industrial e a trajetória de crescimento da economia que decorre da existência de rendimentos crescentes de escala naquele setor. Isso acontece porque a indústria conta com economias de escala dinâmicas que resultam de dois mecanismos: i) o incremento da divisão do trabalho associado ao crescimento do mercado; ii) a intensificação do aprendizado relacionado à diferenciação e ao surgimento de novas atividades produtivas. Em linhas gerais, um maior ritmo de expansão da economia, decorrente de aumentos na demanda agregada, possibilita o crescimento do mercado, bem como a diferenciação e o surgimento de novas atividades produtivas. Tais mecanismos fazem com que o crescimento da produtividade industrial dependa do crescimento do PIB da indústria, relação que ficou conhecida na literatura como "Lei de Kaldor-Verdoorn".
A segunda vertente de estudos sobre crescimento da tradição pós-keynesiana está associada aos trabalhos inspirados em Kalecki e Steindl. Autores como Rowthorn (1981), Dutt (1984), Taylor (1985) e Marglin e Bhaduri (1990) elaboraram modelos em que o grau de utilização da capacidade produtiva e, por conseguinte, a taxa de crescimento, são determinados, sobretudo, pelo investimento e pela distribuição funcional de renda6 (6) Uma boa resenha sobre essa vertente pode ser encontrada em Stockhammer (1999) e Blecker (2002). . Nesses modelos, enquanto a distribuição da renda depende da capacidade das empresas fixarem margens de lucro (mark-up), o investimento tem como principais determinantes os impactos diferenciados da margem de lucro, do grau de utilização da capacidade produtiva e da taxa de juros sobre a decisão de investir.
Diversos autores, entre eles Boyer (1988), Boyer e Petit (1991), Amable e Petit (2001), León-Ledesma (2002), Castellacci (2001), Setterfield e Cornwall (2002), Naastepad (2006), Storm e Naastepad (2007), Blecker (2009), Setterfield (2010 a) e Hein e Tarassow (2010), têm demonstrado a possibilidade de convergência dessas duas vertentes da tradição pós-keynesiana7 (7) Rowthorn (1981), Dutt (1990), Taylor (1991) e Lavoie (1992) parecem sugerir que essa convergência seria possível mesmo entre os modelos de crescimento keynesianos de Kaldor e Robinson dos anos 50 e os de Kalecki e Steindl, cuja diferença se dá, aparentemente, apenas em seus fechamentos ( closures). Enquanto Kaldor e Robinson, em virtude das circunstâncias europeias daquele período, supunham ora plena capacidade, ora pleno emprego, ou ambos, o que os levou ao conceito de poupança forçada, Kalecki e Steindl adotavam como hipótese base que o grau de utilização da capacidade produtiva seria endógeno. De certo modo, a análise empreendida por Marglin e Bhaduri (1990) parece ter deixado claro essa possibilidade de convergência. Veja, a esse respeito, Hein (2008). . Em todos esses trabalhos, pertencentes ao Cambridge Post-keynesian (CPK) approach (Palley, 2005), a trajetória de uma economia ao longo do tempo está associada à constituição de um regime de crescimento que tem como principais condicionantes três elementos: i) o regime de demanda; ii) o regime de produtividade; iii) o regime institucional.
Enquanto o regime de demanda procura descrever os determinantes dos componentes da demanda agregada e seus impactos sobre a taxa de crescimento econômico, o regime de produtividade explicita os determinantes do progresso técnico, revelando que a produtividade depende, por um lado, das formas específicas de organização dos processos produtivos e de inovação, isto é, do sistema social de produção e inovação (Amable, 2000) e, por outro, da taxa de crescimento do produto (Lei de Kaldor-Verdoorn).
O regime institucional está relacionado à interação entre as formas institucionais mencionadas acima e, nesse sentido, corresponde à matriz institucional que dá formato e magnitude a cada um dos regimes descritos, mas também estabelece a conexão entre eles. Além disso, as instituições cumprem um papel fundamental na coordenação dos diversos agentes individuais. Isso ocorre porque a existência de incerteza substantiva (Dosi; Egidi, 1991; Dequech, 2000, 2006), a presença de racionalidade limitada (Simon, 2000) e de reciprocidade (Bowles, 2005), adicionalmente ao autointeresse como mote da ação, fazem com que o processo decisório seja condicionado pelas instituições, uma vez que as preferências passam a ser endógenas (Amitrano, 2010). Nesse sentido, por um lado, hábitos e rotinas passam a cumprir um papel central na tomada de decisões; por outro, a noção de satisficing, em virtude da racionalidade limitada e da incerteza, confere um papel mais restrito à otimização no processo decisório dos agentes.
1.1 O regime de demanda
A simples menção ao fato de que o regime de demanda está relacionado aos componentes da demanda agregada não faz jus a toda sua complexidade. Esse regime sintetiza o conjunto de relações sociais no interior de cada sociedade e exprime, por um lado, a distribuição funcional da renda e seu respectivo padrão de consumo; por outro, revela os elementos que incitam as decisões de investimento, bem como procura indicar a forma de atuação do governo. Por fim, reflete o tipo de especialização produtiva e o padrão de inserção no comércio internacional que condicionam a evolução da demanda externa. Mas, como representar todos esses fatores?
1.1.1 As identidades macroeconômicas fundamentais
De acordo com Setterfield e Cornwall (2002) e Blecker (2009), é possível apresentar o regime de demanda sob a forma de um modelo keynesiano8 (8) O modelo apresentado possui caráter apenas ilustrativo, tendo como objetivo mostrar a possibilidade de diálogo e interação entre as abordagens supracitadas. , tendo como ponto de partida as identidades macroeconômicas fundamentais, isto é, o PIB pela ótica do dispêndio e pela ótica da renda. Essas identidades implicam, como se sabe, que:
em que (y) corresponde ao produto real; (c), ao consumo real; (i), ao volume real de investimento; (g ), aos gastos (consumo + investimento) reais do governo e (z),
às exportações líquidas em termos reais. Por sua vez, o PIB, pela ótica da renda, pode ser escrito como:
em que (ω) corresponde ao salário médio real; (N ), ao número de trabalhadores; (ρ), à taxa real de lucro; (k ), ao estoque real de capital; (r), à rentabilidade real dos ativos financeiros9 (9) O significado preciso de ( r) será discutido mais adiante. , (D), ao estoque real de dívida pública e privada e de ações e debêntures; (t), à arrecadação tributária líquida de transferências (incluindo juros) em termos reais; e (h), à renda líquida enviada ao exterior em termos reais (que, para os propósitos deste trabalho, assumiremos como igual a zero).
Uma vez apresentadas as identidades contábeis, é preciso que se especifiquem, claramente, as equações comportamentais de cada um dos determinantes do produto. Como o modelo é de inspiração keynesiana e, portanto, confere proeminência ao papel da demanda agregada, o mesmo se completa a partir das equações comportamentais do consumo, dos gastos do governo, do investimento e das exportações líquidas.
1.1.2 A função consumo
O consumo das famílias configura-se como um dos elementos mais importantes na determinação do produto, tanto em virtude de seu peso quanto pelo fato de que exprime a dinâmica da distribuição de renda entre trabalhadores (salários), capitalistas (lucros) e rentistas (renda financeira).
Nesse sentido, podemos definir o valor real do consumo agregado das famílias (c) por meio da seguinte função consumo10 (10) Para uma especificação semelhante, veja Naastepad (2006), Storm e Naastepad (2007), Ryoo e Skot (2007). :
em que (q) corresponde à produtividade do trabalho;  à parcela da renda nacional apropriada pelos salários;
à parcela da renda nacional apropriada pelos salários;  é o inverso da relação capital-produto;
é o inverso da relação capital-produto;  representa a participação dos lucros na renda;
representa a participação dos lucros na renda;  é a razão entre o produto e o estoque de dívidas, ações e debêntures;
é a razão entre o produto e o estoque de dívidas, ações e debêntures;  é a fração da renda financeira; e ( j ) representa o valor real da parcela do estoque de riqueza gasto em consumo11
(11)
É importante notar que (
j ) está relacionado inversamente à taxa de juros e diretamente à valorização dos ativos no mercado financeiro.
. Por sua vez, (s) corresponde à propensão média a poupar. Note-se que, nesse modelo, enquanto a propensão a poupar a partir dos salários é igual a zero12
(12)
Isso significa dizer que, embora alguns trabalhadores individualmente possam poupar, a poupança da classe trabalhadora como um todo é zero, porque a despoupança dos indivíduos de baixa renda compensa a poupança daqueles com níveis mais elevados de renda.
, as propensões a poupar a partir dos lucros (sΠ ) e da renda financeira (sr ) são iguais e maiores que zero (s = sΠ = sr >0).
é a fração da renda financeira; e ( j ) representa o valor real da parcela do estoque de riqueza gasto em consumo11
(11)
É importante notar que (
j ) está relacionado inversamente à taxa de juros e diretamente à valorização dos ativos no mercado financeiro.
. Por sua vez, (s) corresponde à propensão média a poupar. Note-se que, nesse modelo, enquanto a propensão a poupar a partir dos salários é igual a zero12
(12)
Isso significa dizer que, embora alguns trabalhadores individualmente possam poupar, a poupança da classe trabalhadora como um todo é zero, porque a despoupança dos indivíduos de baixa renda compensa a poupança daqueles com níveis mais elevados de renda.
, as propensões a poupar a partir dos lucros (sΠ ) e da renda financeira (sr ) são iguais e maiores que zero (s = sΠ = sr >0).
Dois outros elementos deveriam compor os determinantes do consumo em uma economia com governo: as transferências e os impostos. Como ambos são objeto de decisões governamentais, e pretende-se discutir, ainda que de forma breve, os determinantes dessas decisões, sua inclusão no regime de demanda será feita quando da discussão sobre a função governo.
1.1.3 A função investimento
Enquanto o consumo depende da distribuição da renda nacional entre salários, lucros e renda financeira, assim como da propensão a poupar da sociedade, o investimento é função, principalmente, de dois fatores: i) a comparação entre a rentabilidade esperada dos investimentos (decomposta entre a participação dos lucros na renda13 (13) O leitor não familiarizado com a literatura pós-keynesiana sobre crescimento pode estranhar a proposição de que o investimento dependa da participação dos lucros na renda. No entanto, essa afirmação está relacionada ao fato de que tal participação é uma função das margens de lucro ( mark-up). Nesse sentido, o que se capta aqui é o impacto das margens de lucro na decisão de investimento. Veja, a esse respeito, Dutt (1990), Taylor (1991), Lavoie (1992) e Hein (2008). e o grau de utilização da capacidade produtiva)14 (14) Por definição, a taxa de lucro corrente ( ρ ) corresponde à razão entre a massa de lucros e o valor do estoque de capital. Seja " Π " a massa real de lucros, " y " o valor real da produção, " k " o estoque real de capital e " " a capacidade produtiva, então a taxa de lucro corrente pode ser definida como se segue. Seja ρ = Π / k e multiplicando o segundo membro da equação por y/y e por / , temos ρ = (Π / k ) . ( / ) . ( y/y) , que, manipulando algebricamente, fornece a equação da taxa de lucro corrente ρ = (Π / y). ( y/ ) . ( / K ) , em que π = (Π / y) é a participação dos lucros na renda; ( y/ ) é o grau de utilização da capacidade produtiva e ( /k ) corresponde ao inverso da relação capital produto potencial. Nesse sentido, a taxa de lucro corrente pode ser entendida apenas como o produto da participação dos lucros na renda pelo grau de utilização da capacidade e pelo inverso da relação capital produto potencial, de modo que ( ρ = πuv). Como um dos fatos estilizados do crescimento econômico de longo prazo, tão bem descritos por Kaldor, é que ( / k ) é relativamente constante, logo, uma boa aproximação para a taxa de lucro corrente é ( ρ = πu) . Porém, como as decisões de investimento dependem da taxa de lucro esperada ( ρ e ), e não da corrente, Marglin e Bhaduri (1990) sugerem que os efeitos da participação dos lucros na renda sejam separados daqueles relacionados ao uso da capacidade. Como a utilização da capacidade instalada muda de acordo com o nível de atividade econômica ( y) , a taxa de lucro esperada será expressa, alternativamente, como uma função separada da participação dos lucros na renda e do nível de atividade, ou seja, ρ e = f ( π; y) . Veja, a esse respeito, Naastepad (2006). e a taxa de juros que remunera os ativos financeiros; ii) as formas de financiamento do investimento, sejam elas internas, como os lucros retidos, sejam elas externas, como as emissões de ações/debêntures e o crédito bancário15 (15) Conferir Wood (1975), Lavoie (1992) e Dallery (2010). .
A função investimento16 (16) É importante salientar que as decisões de investimento são tomadas em um ambiente de incerteza fundamental (Dequech, 2000, 2006), em que não é possível atribuir uma distribuição de probabilidades aos eventos futuros, e procedimental (Dosi, Egidi, 1991), associada à racionalidade limitada dos agentes (Simon, 2000). Por esse motivo, as decisões dependem das expectativas propriamente ditas e do nível de confiança dos agentes (Dequech, 2003). Por fim, cabe notar que o processo de formação de expectativas dos agentes deve ser entendido como adaptativo condicional na medida em que leva em consideração o aprendizado e reconhece a existência de erros sistemáticos. Isso ocorre porque, embora levem em consideração as informações do passado e do presente, não o fazem extrapolando os resultados anteriores para o futuro e tampouco dispõem de toda a informação relevante para a tomada de decisão dada a incompletude do conhecimento e a existência de incerteza fundamental. cumpre um papel central na caracterização dos regimes de demanda e, consequentemente, dos regimes de crescimento. Isto porque é a maior ou menor sensibilidade do investimento às variações em cada um de seus determinantes, tal como apontado na equação (4)17 (17) A apresentação da função investimento nos moldes de uma função de tipo Cobb-Douglas tem sido bastante utilizada por autores do chamado Cambridge Post Keynesian Approach. Veja, a esse respeito, Naastepad (2006). , que confere grande parte da especificidade desses regimes, assim como do padrão de política econômica a ser adotado.
Definimos a equação de investimento como: i =bγπ β1yβ2r-β3ϑ β4 (4), em que (i) corresponde ao volume de investimento; (π ), à participação dos lucros na renda e (y) ao nível de atividade. Por sua vez, (r) representa uma variável síntese associada à rentabilidade real dos ativos financeiros alternativos aos ativos de capital e que procura captar os efeitos sobre o investimento da taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública, os juros relacionados aos empréstimos bancários e os dividendos pagos aos detentores de ações e debêntures (Ryoo; Skot, 2007, 2008; Hein, 2009b). Além disso, (ϑ) corresponde à razão de valorização (valuation ratio) de Kaldor, isto é, a razão entre o valor das empresas no mercado de capitais vis-à-vis seu valor patrimonial18 (18) Essa variável corresponde a uma espécie de "q" de Tobin. A similaridade formal, entretanto, não implica que a taxa de retorno das ações seja equivalente à produtividade marginal do capital. Veja, a esse respeito, Lavoie (1998), Ryoo e Skot (2007) e Hein (2009b). . Note-se que os parâmetros refletem, respectivamente, a disposição espontânea dos empresários para investir (o animal spirits de Keynes), assim como a sensibilidade do investimento à participação dos lucros na renda, ao nível de atividade, à rentabilidade dos ativos financeiros alternativos e à razão de valorização.
Linearizando a equação (4) e diferenciando-a com respeito ao tempo, temos uma equação para a taxa de crescimento do investimento, de modo que:
Em que (β0 = γ.b)
Se, por exemplo, a variação do investimento for relativamente mais sensível às mudanças na participação dos lucros na renda e, consequentemente, a alterações nas margens de lucro que a de outros determinantes, as políticas econômicas devem ser orientadas para a ampliação dos lucros, uma vez que as margens de lucro se configuram como o principal determinante da rentabilidade esperada dos ativos de capital. Por sua vez, se os investimentos forem relativamente mais sensíveis às mudanças no nível de atividade e, por conseguinte, a alterações no grau de utilização da capacidade produtiva, então, a política econômica deve estar voltada para a ampliação dos salários reais e para o aumento da parcela relativa da renda do trabalho. No primeiro caso, o regime de demanda pode ser caracterizado como profit-led, ou seja, comandado pelos lucros, ao passo que no segundo, o regime se caracteriza como wage-led, isto é, comandado pela demanda associada à expansão dos salários a lá Marglin e Bhaduri (1990)19 (19) Conferir Naastepad (2006), Storm e Naastepad (2007). .
É importante notar que elevações nas taxas de juros e nos dividendos pagos a ações e debêntures afetam os investimentos de forma negativa (seja por meio da comparação entre rentabilidades, seja devido à deterioração das condições de financiamento). Porém, a esfera financeira pode repercutir positivamente sobre o investimento, principalmente no que se refere à razão de valorização. Tais impactos dependerão do tipo de financeirização20 (20) A discussão sobre a financeirização será feita na última seção do trabalho. vigente na economia. Para uma economia como a brasileira, por exemplo, esse impacto é claramente negativo, ao passo que, para uma economia como a norte-americana, o mesmo foi positivo nos últimos anos (até a crise de 2008), refletindo um dos aspectos do chamado finance-led growth21 (21) Certamente, a existência de um possível regime finance-led nos EUA não está relacionada apenas ao investimento, mas também à dinâmica do consumo derivado da riqueza financeira. Voltaremos a esse ponto mais adiante. .
Nesse sentido, a caracterização de um regime como profit-led, wage-led ou finance-led está relacionada ao regime institucional que lhe dá suporte e, em particular, às questões de natureza política que sintetizam os conflitos e acordos entre os distintos grupos sociais em uma determinada nação ou região.
1.1.4 A função dos gastos líquidos do governo
Outro elemento importante do regime de demanda diz respeito ao padrão de atuação do governo. Embora seja comum na literatura assumi-lo como discricionário, no entanto, um olhar atento sobre o modo de proceder do poder público revela padrões de atuação bem mais sofisticados. Para os propósitos deste trabalho assume-se que as decisões governamentais de gastos (consumo e investimento) e transferências (incluindo juros) implementadas sob a forma de políticas públicas e líquidas de impostos22 (22) Um aspecto importante a ser esclarecido é que se supôs, no trabalho, a título de simplificação, que os impostos são do tipo lump-sum, isto é, um imposto de montante fixo, independente do nível de renda. Uma versão semelhante para a função gastos do governo foi elaborada por Taylor (1991). são condicionadas por três elementos centrais relacionados ao processo de governo e à hierarquia decisória.
Segundo Couto (2001), Couto e Arantes (2006) e Frey (2000)23 (23) Veja, a esse respeito, Pierson (2004). , o primeiro elemento diz respeito à estrutura constitucional do Estado (polity)24 (24) Termo, em inglês, geralmente utilizado pelos autores da Ciência Política. que, por ter alcance e complexidade maiores, define as condições de operação (conjunto de incentivos e restrições) do jogo político propriamente dito (politics). É por meio desse segundo elemento, a politics, que se manifestam os conflitos de interesse entre os distintos grupos da sociedade. Por fim, ainda que condicionados pela polity e pela politics, os resultados desse jogo, isto é, o conjunto de políticas públicas (policies) fornecido pelo Estado, não estão estabelecidos a priori. Portanto:
Polity, politics e policies correspondem, [...], a diferentes níveis da vida estatal. O primeiro, à sua estrutura; o segundo, ao seu funcionamento; o terceiro, aos seus produtos. A estrutura diz respeito às regras de relacionamento entre os atores e às organizações em que eles atuam [...]. O funcionamento tem a ver com a atividade política [...]. Os produtos são aquilo que o Estado gera, seja para se auto-gerir e manter-se, seja para responder às demandas sociais existentes - filtradas e interpretadas de acordo com as condições em que se desenrola a politics (Couto, 2001, p. 34-35).
Nesse sentido, os gastos e transferências do governo, líquidos de impostos, podem ser representados por uma equação que leve em conta os três elementos acima descritos, conforme a equação (5), a seguir.
Função dos gastos do governo gt = g - t = g(δ ) (5),
em que (δ ) corresponde à interação entre Polity, Politics e Policy.
Note-se que, com esse tipo de função, optou-se por retirar, da função consumo, a parcela dos gastos das famílias associada às transferências governamentais, bem como o impacto da tributação sobre a renda disponível e, consequentemente, sobre o consumo. Porém, ambos afetam o regime de demanda por meio da ação governamental sintetizada na variável (gt ).25 (25) Como se verá adiante, diferentemente dos modelos keynesianos tradicionais, em que a carga tributária incide sobre o multiplicador, neste caso, a mesma incidirá negativamente na determinação do produto da economia por meio da função dos gastos do governo líquidos de impostos.
1.1.5 A função de exportações líquidas
O último fator importante do regime de demanda diz respeito à taxa de crescimento das exportações líquidas e revela o tipo de especialização produtiva do padrão de inserção no comércio exterior, além de refletir o impacto da política macroeconômica sobre a taxa de câmbio real e suas implicações para o saldo da balança comercial.
Para que seja possível explicitar tais relações, é preciso, inicialmente, especificar funções para os volumes de exportações e importações, tal como se segue:
em que (εx ) corresponde à elasticidade preço da demanda por exportações; (εm), à elasticidade preço da demanda por importações; (E) representa a taxa de câmbio nominal; (p*), o nível doméstico de preços; o nível de preços do resto do mundo; (η)representa a elasticidade renda da demanda externa; (y*) a renda do resto do mundo e (η) a elasticidade renda da demanda doméstica.
A razão entre exportações e importações, denominadas em moeda doméstica para captar o efeito sobre a demanda agregada e em termos reais (z') pode ser definida como:
Ao colocarmos essas equações em termos de suas taxas de crescimento, temos que:
em que ê corresponde à variação percentual da taxa nominal de câmbio e as demais variáveis com circunflexo acima representam as suas respectivas taxas de crescimento. Nesse sentido, a taxa de crescimento das exportações líquidas ( ) pode ser definida como:
) pode ser definida como:
Note-se que os parâmetros (εx;εmηx;η) exprimem as características dos bens e serviços adquiridos e vendidos por cada país internacionalmente, revelando, assim, tanto o padrão de consumo quanto a estrutura produtiva, mas também as formas de acesso do país ao mercado internacional de bens e serviços.
Essas características e o peso relativo da demanda externa vis-à-vis a demanda interna têm um papel importante na diferenciação dos regimes de crescimento. Nos chamados export-led growth regimes, por exemplo, as exportações líquidas assumem tal protagonismo no comando do crescimento que as políticas econômicas ficam subordinadas à ampliação da demanda por esse canal.
1.1.6 Determinando o regime de demanda
A taxa de crescimento do produto determinada pelo regime de demanda pode ser obtida por meio da combinação das diversas identidades e equações comportamentais especificadas até o momento. Seguindo Naastepad (2006) e Storm e Naastepad (2007), ao fazermos a substituição da equação (3) em (1) obtemos o produto real da economia.
Seja:
Repare que (λ)nada mais é do que o multiplicador keynesiano da economia, cujo principal determinante é a distribuição da renda entre salários (σ ) , lucros (π ) e renda financeira (φ). Logo, podemos reescrever o produto real da economia simplesmente como:
Aplicando a derivada total em (14) e fazendo algumas manipulações algébricas26 (26) Fazendo a derivada total temos que: Dividindo por tudo y, e multiplicando e dividindo cada componente da demanda por ele mesmo, temos que: . , temos que a taxa de crescimento da economia pode ser definida como:
em que ( )é taxa de crescimento do produto;
)é taxa de crescimento do produto;  é a taxa de crescimento do consumo derivado do estoque de riqueza; Φj é o peso do consumo derivado do estoque de riqueza no produto; (
é a taxa de crescimento do consumo derivado do estoque de riqueza; Φj é o peso do consumo derivado do estoque de riqueza no produto; ( ) é a taxa de crescimento do investimento; (Φi ) é o peso do investimento no produto; (
) é a taxa de crescimento do investimento; (Φi ) é o peso do investimento no produto; ( t)é a taxa de crescimento dos gastos do governo líquido de impostos e transferências; (Φg)é o peso desses gastos no produto; (
t)é a taxa de crescimento dos gastos do governo líquido de impostos e transferências; (Φg)é o peso desses gastos no produto; (
)é a taxa de crescimento das exportações líquidas; (Φz)é o peso das exportações líquidas no produto; (λ)é o multiplicador keynesiano e ( ), a taxa de crescimento do multiplicador keynesiano.
), a taxa de crescimento do multiplicador keynesiano.
Substituindo as equações (4'), (5) e (11) na equação (15) temos que:
Essa expressão pode ser reescrita com o intuito de apresentar uma equação simplificada para o regime de demanda (DR), tal como:
em que  corresponde à taxa ajustada de crescimento do multiplicador e
corresponde à taxa ajustada de crescimento do multiplicador e  representa o multiplicador keynesiano ajustado que, agora, leva em consideração não só os aspectos distributivos, mas também os impactos do efeito acelerador e da elasticidade renda das importações.
representa o multiplicador keynesiano ajustado que, agora, leva em consideração não só os aspectos distributivos, mas também os impactos do efeito acelerador e da elasticidade renda das importações.
Em resumo, a taxa de crescimento do produto determinada pelo regime de demanda depende das variações no multiplicador da economia, do próprio multiplicador ajustado e do peso de cada componente da demanda doméstica multiplicado, basicamente, pela taxa de crescimento de seus principais determinantes.
1.2 Regime de produtividade
Para que se possa compreender completamente a noção de regime de crescimento é preciso conectar o regime de demanda a uma abordagem sobre os determinantes do progresso tecnológico. O regime de produtividade visa apreender o impacto das formas específicas de organização dos processos produtivos e de inovação, de um lado, e da extensão dos mercados, de outro, sobre a trajetória da produtividade. Desse modo, representa uma abordagem para a oferta em que as questões técnicas, organizacionais e setoriais são levadas em consideração, mas que, ao mesmo tempo, explicita sua subordinação às variáveis de demanda. É importante notar que essa noção se configura como uma alternativa à função de produção neoclássica, evitando alguns dos limites daquela abordagem, fato que possibilita a incorporação de novos elementos ao estudo. A equação (17) apresenta uma das formas mais usuais de se conceber o regime de produtividade (PR)27 (27) Veja, a esse respeito, Boyer (1988), Boyer e Petit (1991), Castellacci (2001), Setterfield e Cornwall (2002), Casseti (2002,2003), Naastepad (2006). .
Note-se que o parâmetro (α0 ) tenta exprimir, de forma sintética, todos os fatores relacionados ao sistema social de produção e inovação descritos anteriormente. Em outras palavras, procura captar elementos do sistema produtivo, tais como a composição setorial da produção, o marco regulatório dos diversos mercados de bens e serviços e o regime de incentivos à pesquisa e desenvolvimento (P&D). Ademais, pode abranger a capacidade de cada espaço sociopolítico e econômico de se apropriar das inovações geradas na fronteira tecnológica pelos países líderes, associada, em geral, aos sistemas educacionais e de treinamento profissional, mas, sobretudo, ao social capability apresentado por Moses Abramovitz e tão bem discutido nos modelos catching-up28 (28) Conferir Abramovitz (1986), Farberg (1994), Castelacci (2001), Llerena e Lorentz (2004). . Por fim, esse parâmetro é capaz de apreender também os ganhos de produtividade advindos do progresso tecnológico incorporado aos novos bens de capital, tal como na função de progresso tecnológico de Kaldor ou nos modelos de vintages (safras de equipamentos)29 (29) Veja, a esse respeito, Kaldor (1958), Lavoie (1992), Foley e Michl (1999). .
Por sua vez, o parâmetro (α1) pode ser interpretado como o coeficiente de Kaldor-Verdoorn e mede a sensibilidade do aumento percentual da produtividade ( ) à taxa de expansão do produto30
(30)
É possível especificar uma forma funcional para o regime de produtividade que apresente, de maneira mais adequada, os impactos da composição setorial da economia sobre a produtividade. A equação 17', a seguir, capta justamente esse aspecto, de modo que:
. Note-se que (
n) corresponde ao número de setores da economia e que (
ωi )representa o peso de cada setor na economia, de sorte que o componente autônomo da produtividade é representado por uma média ponderada dos diversos elementos do sistema social de produção e inovação. De forma análoga, o coeficiente de Kaldor-Verdoorn da economia como um todo corresponde a uma média ponderada dos coeficientes setoriais de Kaldor-Verdoorn.
.
) à taxa de expansão do produto30
(30)
É possível especificar uma forma funcional para o regime de produtividade que apresente, de maneira mais adequada, os impactos da composição setorial da economia sobre a produtividade. A equação 17', a seguir, capta justamente esse aspecto, de modo que:
. Note-se que (
n) corresponde ao número de setores da economia e que (
ωi )representa o peso de cada setor na economia, de sorte que o componente autônomo da produtividade é representado por uma média ponderada dos diversos elementos do sistema social de produção e inovação. De forma análoga, o coeficiente de Kaldor-Verdoorn da economia como um todo corresponde a uma média ponderada dos coeficientes setoriais de Kaldor-Verdoorn.
.
Um aspecto central para o entendimento dos regimes de crescimento é que o regime de produtividade e o regime de demanda se conectam por meio do processo de formação de preços. Isso ocorre porque a produtividade afeta os preços, a competitividade externa da economia e, portanto, o regime de demanda. O mecanismo de formação de preços é representado, normalmente, com base na aplicação de um mark-up (τ >1) sobre os custos unitários de produção  , em que (w) representa o salário nominal médio e (q) a produtividade.
, em que (w) representa o salário nominal médio e (q) a produtividade.
Ao colocarmos a equação (18) em termos de sua taxa de crescimento temos:
Repare que, do ponto de vista pós-keynesiano, aumentos de preço são resultado, sobretudo, de pressões de custos, em que a demanda cumpre um papel secundário, sendo os fatores estruturais da economia, como o regime de concorrência, a relação salarial, as regulamentações de mercado, os impostos e a eficiência técnica os mais importantes. Desse modo, variações na taxa de inflação ( ) podem estar associadas a modificações no mark-up (
) podem estar associadas a modificações no mark-up ( ), a mudanças nos salários médios (
), a mudanças nos salários médios ( )31
(31)
A equação (18) é uma versão extremamente simplificada da teoria pós-keynesiana dos preços, uma vez que é possível, e desejável, incorporar diversos elementos no processo de determinação de salários, tais como barganha salarial, expectativas, entre outros, assim como matérias-primas e insumos nos custos médios de produção. Veja, a esse respeito, Lavoie (1992) e Cassetti (2003).
, bem como a alterações na taxa de crescimento da produtividade.
)31
(31)
A equação (18) é uma versão extremamente simplificada da teoria pós-keynesiana dos preços, uma vez que é possível, e desejável, incorporar diversos elementos no processo de determinação de salários, tais como barganha salarial, expectativas, entre outros, assim como matérias-primas e insumos nos custos médios de produção. Veja, a esse respeito, Lavoie (1992) e Cassetti (2003).
, bem como a alterações na taxa de crescimento da produtividade.
A combinação das equações (18') e (16) permite que reformulemos a equação do regime de demanda, separando o efeito da taxa de crescimento da produtividade dos demais efeitos, conforme indicado na equação (19):
Fazendo:
 e
e
 , temos uma nova equação (20) para o regime de demanda, que é função da taxa de crescimento da produtividade. Essa equação, associada à equação (17) do regime de produtividade, nos fornece a taxa de crescimento de equilíbrio do regime de crescimento, conforme expressa na equação (21).
, temos uma nova equação (20) para o regime de demanda, que é função da taxa de crescimento da produtividade. Essa equação, associada à equação (17) do regime de produtividade, nos fornece a taxa de crescimento de equilíbrio do regime de crescimento, conforme expressa na equação (21).
Portanto, com base no conceito de regime de crescimento e seus três elementos constitutivos (regime de demanda, regime de produtividade e regime institucional) é possível descortinar no (MP) os principais determinantes, no tempo e no espaço, de cada episódio singular de crescimento econômico32 (32) A abordagem dos regimes de crescimento pode ser utilizada tanto para analisar episódios de crescimento em âmbito nacional quanto no plano regional, interno às nações. Para aplicações do conceito de regime de crescimento no plano regional, veja McCombie e Roberts (2007), Roberts (2007) e Harris (2008). . As figuras 1 e 2 mostram a constituição dos regimes de crescimento. Note-se, porém, que, enquanto a Figura 1 explicita um regime profit-led, uma vez que aumentos na taxa de crescimento da produtividade estão associados à ampliação da parcela dos lucros na renda e da demanda, o que determina a inclinação positiva da curva, a Figura 2 explicita um regime wage-led, cuja inclinação do regime de demanda é negativa, pois os aumentos de produtividade reduzem a participação dos salários na renda e, consequentemente, da demanda.
Mais do que isso, de acordo com as figura 3 e 4, constata-se que alterações nos valores das variáveis e dos parâmetros que determinam tanto o regime de demanda como o regime de produtividade afetarão (por meio do deslocamento, da inclinação ou de ambos) a taxa de crescimento do produto ao longo do tempo. Em outras palavras, o que as figuras 3 e 4 procuram evidenciar é justamente a interação entre os regimes, de modo que aumentos na demanda, por exemplo, deslocam a curva DR para cima e para a esquerda, enquanto melhorias na organização e na estrutura do processo produtivo e de inovação deslocam a curva PR para baixo e para a direita, ampliando, em conjunto, a taxa de crescimento do produto e da produtividade (e vice-versa).
A noção de médio prazo é fundamental, pois está associada a um equilíbrio provisório (Chick; Caserta, 1997), uma espécie de ponto de referência dotado de relativa estabilidade, mas passível de mudança tanto por meio de choques exógenos como através de mudanças endógenas.
Mas se o regime de crescimento permite apreciar apenas o que acontece no médio prazo, de que forma o arcabouço teórico apresentado indicará os determinantes do crescimento econômico de longo prazo (LP)?
2 Os modelos de crescimento com restrição no balanço de pagamentos
Os modelos de crescimento com restrição de divisas consistem em um dos mais importantes artefatos teóricos e empíricos elaborados recentemente pela literatura pós-keynesiana e estão relacionados às limitações impostas à expansão do produto pelo equilíbrio intertemporal do balanço de pagamentos (Thirlwall, 1979)33 (33) É importante notar que os modelos de crescimento com restrição de balanço de pagamentos também tiveram como fonte de inspiração os trabalhos de Kaldor e como autores pioneiros Thirlwall (1979) e Thirlwall e Dixon (1979). Para uma análise contemporânea da família de modelos kaldorianos, veja McCombie e Thirlwall (1994), McCombie e Roberts (2002), Thirlwall (2005) e Blecker (2009). .
Conforme Lima e Carvalho, quando as economias estão abertas a transações com o resto do mundo "não há como o crescimento econômico escapar da restrição colocada pela circunstância de que os pagamentos em divisas não podem ser, no longo prazo, superiores às receitas em divisas" (2008, p. 57).
E mesmo quando se leva em conta o fato de que déficits nas balanças de comércio e de serviços podem ser sustentados pelo ingresso líquido de investimentos diretos e em carteira, é preciso ter em mente que:
essa entrada líquida de capital não é uma conta bancária de saldo ilimitado, estando sujeita a reavaliações periódicas quanto à solidez dos compromissos de pagamentos externos do país, com isto determinando a margem possível, em cada momento de tempo, para que as importações sejam superiores às vendas externas. E aí, fechando o círculo, os déficits entre os pagamentos referentes às importações e às receitas com exportações não podem ser explosivos (Lima; Carvalho, 2008, p. 58).
O argumento apresentado acima implica que a taxa de crescimento do produto de um país no longo prazo precisa respeitar o equilíbrio intertemporal de seu balanço de pagamentos.
Seguindo a tradição nesse tipo de estudo e, de certo modo, o modelo original de Thirlwall e Hussein (1982), o equilíbrio no balanço de pagamentos pode ser definido como:
em que (p), (p* ), (E), (x) e (m) correspondem, como se sabe, ao nível doméstico de preços, ao nível dos preços internacionais, à taxa de câmbio nominal, às exportações e às importações, respectivamente, enquanto (f ) representa o valor nominal dos fluxos de capitais. Utilizando as equações (6), (7), (9) e (10), a equação (22), em termos de sua taxa de crescimento, e realizando algumas manipulações algébricas, temos que:
em que
 participação das exportações nas receitas externas totais, isto é, exportações mais influxos de capitais.
participação das exportações nas receitas externas totais, isto é, exportações mais influxos de capitais.^
Nesse sentido, a taxa de crescimento do produto de um país no longo prazo depende da razão entre a renda do resto do mundo, os fluxos líquidos de capitais para o país, as elasticidades renda e preço das suas exportações, a elasticidade preço das importações e sua taxa de câmbio real, de um lado, e a elasticidade renda das suas importações, de outro.
Em sua versão mais restrita, também conhecida como Lei de Thirlwall, aquela taxa corresponde simplesmente à razão entre as exportações de um país e sua respectiva elasticidade renda de importações  .
.
Substituindo a equação (18'), referente à formação de preços, em (23), temos que:
Fazendo
temos:
Taxa de crescimento de LP:
Assim, a taxa de crescimento de longo prazo pode ser representada no mesmo plano que os regimes de demanda e produtividade, tal como nas figuras (5a) e (5b)34 (34) Blecker (2009) faz uma derivação semelhante a esta, utilizando, contudo, o resultado de Moreno-Brid (1998-99), para quem o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos deve ser igual a uma razão constante e sustentável do PIB. Para uma análise semelhante à de Moreno-Brid, veja também Barbosa-Filho (2001). . Note-se que o equilíbrio no balanço de pagamentos (BP) pode acarretar tanto uma taxa de crescimento do produto mais elevada, quanto mais baixa que a de médio prazo. Nas figuras 5a e 5b, visualizam-se tanto regimes de crescimento como regimes de demanda profit-led e wage-led, respectivamente, como as curvas de equilíbrio do balanço de pagamentos. Em ambas as figuras, o primeiro caso (BP1) revela que, embora o setor externo não limite o crescimento, o mesmo não será maior, no médio prazo, em função de restrições de oferta e/ou demanda. No longo prazo, porém, seu crescimento deverá convergir para aquele determinado pelo equilíbrio do balanço de pagamentos. Por sua vez, a segunda alternativa (BP2) corresponde à situação na qual, mesmo que existam condições tanto de oferta quanto de demanda, o crescimento será obstado pela restrição de divisas35 (35) Diversos estudos (Lopes; Cruz, 2000; Holland; Vieira; Canuto, 2004; Bértola; Higachi; Porcile, 2002; Jayme Jr., 2003, Santos; Lima; Carvalho, 2005; Lima; Carvalho, 2008; Carvalho; Lima, 2009) têm demonstrado que, para o caso brasileiro, por exemplo, a taxa de crescimento de longo prazo não é diferente da versão restrita do modelo de crescimento com restrição no balanço de pagamentos. Em outras palavras, a taxa de crescimento de longo prazo deve ser igual à razão entre as exportações de um país e sua respectiva elasticidade renda de importações. Nos termos do modelo apresentado, isso significa que ( θ =1), ( εx + εm =1) e que os termos de troca e a taxa de câmbio têm impacto bastante limitado sobre o saldo comercial no longo prazo Repare que isso não significa dizer que os fluxos financeiros do balanço de pagamentos não são importantes, mas o contrário. Em virtude de sua elevada volatilidade, esses fluxos não aliviam de forma permanente as restrições de divisas para o crescimento do produto no longo prazo. Esse fato, aliás, parece muito bem demonstrado por episódios como o da crise da dívida externa na América Latina nos anos 1980. .
Em ambos os casos, as curvas "BP" substituem as curvas relativas ao regime de demanda, seja ele profit-led ou wage-led, indicando que as restrições de balanço de pagamentos se impõem no logo prazo à dinâmica da demanda agregada que comanda o crescimento econômico de médio prazo.
É importante notar que se à primeira vista parecíamos ter nos desconectado, no longo prazo, do conceito de regime de crescimento, pode-se perceber, agora, que os vínculos entre a análise do crescimento feita por aquela abordagem e a baseada nos modelos de restrição no balanço de pagamentos são bastante fortes. Isto porque as formas institucionais que condicionam os regimes de demanda e de produtividade também influenciam o equilíbrio intertemporal do balanço de pagamentos.
Repare que, de um lado, o regime internacional condiciona a evolução dos preços externos, a renda do resto do mundo, o influxo de capitais e a elasticidade renda das exportações de um país. Por outro lado, o tipo de adesão a esse regime e a interação, em cada país, com seus respectivos regimes monetário e financeiro, padrões de atuação do Estado, regimes de concorrência e relações salariais condicionam os preços domésticos, a taxa nominal de câmbio, as saídas de capitais, assim como a elasticidade renda das importações. Nesse sentido, podemos afirmar que não só a abordagem dos regimes de crescimento é compatível e complementar à dos modelos de restrição no balanço de pagamentos, fato, aliás, sobejamente ressaltado por Blecker (2009) e Setterfield (2010a), mas que as formas institucionais que condicionam o crescimento econômico no médio e no longo prazo são as mesmas.
3 Financeirização: uma dimensão importante dos processos contemporâneos de crescimento
A importância dos mercados financeiros na vida dos cidadãos/ consumidores, das empresas e dos Estados tem crescido de forma extraordinária desde, pelo menos, o fim do regime de Bretton Woods. A maneira pela qual a dimensão financeira se manifesta nos demais domínios da vida econômica fica evidente em diversos episódios ao longo dos últimos 30 anos.
Um exemplo interessante está relacionado à elevação dos juros norte-americanos em 1979 e a conseqüente crise da dívida na América Latina na década de 1980. A mudança na forma de operação do regime monetário e financeiro estadunidense repercutiu violentamente nas economias da região, afetando, principalmente, as condições de financiamento do setor público e do balanço de pagamentos. Outro episódio ilustrativo refere-se à crise financeira ocorrida no sudeste da Ásia ao final da década de 1990 que, por meio da conexão entre os diversos mercados financeiros internacionais, afetou as condições de solvência externa de grande parte dos países em desenvolvimento, estivessem eles com estruturas adequadas ou não de financiamento do balanço de pagamentos.
Por fim, outro caso que exemplifica a questão refere-se à recente crise financeira mundial. Após anos de expansão da economia dos EUA comandada pelo processo de endividamento e consumo das famílias, as incertezas sobre sua capacidade de solvência fizeram com que o mercado imobiliário entrasse em colapso, levando consigo grande parte do sistema financeiro e da economia real norte-americanos e, por meio dos vínculos entre os mercados financeiros internacionais, a maior parte da economia mundial.
De acordo com Epstein, a financeirização (financialization) pode ser entendida como "the increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and financial institutions in the operation of the domestic and international economies" (2005, p. 3). Essa definição, se, por um lado, é bastante geral e, por isso mesmo, encontra dificuldades em conferir significado preciso e operacional ao conceito, por outro, permite que se tenha uma percepção dos impactos abrangentes do regime monetário e financeiro sobre os demais âmbitos da vida econômica e social de um país e alhures. Ademais, com essa definição, pode-se perceber que as manifestações desse fenômeno podem apresentar formas variadas tanto no tempo como no espaço.
Mas o que essa discussão acarreta para a reflexão sobre o ritmo de expansão das atividades econômicas, seja no âmbito do conceito de regime de crescimento, seja no que tange aos modelos de crescimento com restrição no balanço de pagamentos?
O fato é que, se for possível conectar o papel crescente da dimensão financeira às formas funcionais definidas anteriormente, perceberemos que a financeirização tem a capacidade de influenciar tanto os regimes de demanda e produtividade quanto as condições que asseguram o equilíbrio intertemporal do balanço de pagamentos. Nesse sentido, poder-se-ia falar de regimes comandados pelas finanças ou finance-led growth regimes (Boyer, 2000; Epstein, 2001; Palley, 2008; Van Treeck, 2007; Stockhammer, 2008; Hein , 2009a).
No que tange ao regime de crescimento, Hein (2009a) observa que o primeiro canal pelo qual a financeirização afeta o crescimento econômico está associado às decisões de investimento. A relação entre as firmas e os seus respectivos provedores de recursos externos, por meio da governança corporativa (corporate governance), revela o possível conflito entre os objetivos dos proprietários, acionistas ou bancos e aqueles relacionados à gerência e, em última instância, à própria firma. Isto porque, enquanto os provedores de recursos estão interessados no retorno imediato sobre o capital (shareholder value orientation), as estratégias de crescimento das firmas podem contemplar lucros menores no curto prazo. A financeirização, nesse caso, pode se manifestar pela escolha de maior lucro em detrimento dos investimentos produtivos que contribuem para a expansão das firmas, fato que ocorre, sobretudo, quando o mercado de capitais se configura como o principal veículo de financiamento.
Além disso, conforme Bruno et al. (2009), em países em desenvolvimento, como o Brasil, a financeirização está associada à renda de juros e tem como fator central o endividamento público interno. Essa modalidade de financeirização faz com que as empresas tenham que enfrentar a escolha entre investir (obtendo retornos elevados, porém incertos, apenas no longo prazo) e aplicar recursos em títulos de dívida (auferindo ganhos elevados e certos no curto prazo). Todos esses impactos sobre o investimento podem ser facilmente percebidos no numerador da equação (19) através dos valores de (β1 ),(β3
),(β3 ) e (β4
) e (β4 ).
).
O segundo canal diz respeito à relação entre riqueza, endividamento doméstico e consumo das famílias e pode ser visualizado por meio do valor de (Φj ) na equação (19). Enquanto o endividamento e a valorização dos ativos financeiros detidos pelas famílias em seus portfólios ampliam o consumo, os pagamentos de juros e as perdas de capital o diminuem.
) na equação (19). Enquanto o endividamento e a valorização dos ativos financeiros detidos pelas famílias em seus portfólios ampliam o consumo, os pagamentos de juros e as perdas de capital o diminuem.
Por fim, conforme Hein (2009a), o terceiro canal está associado às alterações na distribuição funcional da renda que têm como consequência imediata mudanças no multiplicador keynesiano dos gastos. Isto porque quanto maior for a participação dos lucros e das rendas financeiras no PIB, menor será o multiplicador, uma vez que os empresários e os rentistas possuem menor propensão a consumir que os trabalhadores. Note-se que, de acordo com a equação (13), ∂λ/∂σ>0;∂λ/∂π<0 e ∂λ/∂φ<0.
Até agora, evidenciaram-se apenas os impactos que a financeirização pode exercer sobre o regime de demanda36 (36) O nexo entre financeirização e regime de demanda tem como questão correlata a relação entre as formas de alocação do estoque de riqueza dos agentes e suas repercussões sobre a dinâmica da demanda agregada e do crescimento no longo prazo. Uma vertente da literatura pós-keynesiana que tem tratado desse tema é aquela associada aos chamados modelos de consistência entre fluxos e estoques ( Stock Flow Consistent Models - SFC). Alguns estudos têm indicado que esses modelos são compatíveis com o conceito de regime de crescimento, porém, esse tipo de desdobramento ainda é muito preliminar. Sobre a literatura SFC, veja Dos Santos (2006). Godley e Lavoie (2007), Macedo e Silva e Dos Santos (2008) e Dos Santos e Macedo e Silva (2009). Sobre a relação entre os modelos SFC e o conceito de regime de crescimento, veja Hein e Van Treeck (2007; 2008), Van Treeck (2007) e Hein (2009a). ; porém, é possível vislumbrar uma maneira por meio da qual a mesma também afete o regime de produtividade. Conforme Hein (2009b) e Van Treeck (2009), quando o mercado de capitais é o principal canal de financiamento e, portanto, prevalece a orientação para o lucro de curto prazo (shareholder value orientation) em detrimento dos investimentos de longo prazo, as empresas podem tanto aumentar a eficiência, na tentativa de obterem recursos internos adicionais, quanto reduzir a eficiência em virtude da baixa taxa de renovação do estoque de capital, da impossibilidade de realizar reorganizações no processo produtivo e, consequentemente, do menor ritmo de aprendizado organizacional. Ambos os casos decorrem das dificuldades, impostas pelos acionistas, à obtenção de recursos por meio de novas emissões de ações e aos vínculos entre remunerações da alta gerência e a valorização da empresa no mercado acionário.
Por fim, cabe salientar que as formas variadas de manifestação da financeirização e a intensa inter-relação entre os mercados de bens e financeiros faz com que a mesma se configure como elemento importante na conformação dos fatores determinantes do equilíbrio intertemporal do balanço de pagamentos. Tal fato pode se manifestar tanto na conta corrente, por intermédio do impacto dos diferenciais de juros sobre a trajetória da taxa de câmbio e dos preços de certos bens cotados internacionalmente, como as commodities, quanto na conta financeira (vide equação 24), por meio dos fluxos de capitais de curto e de longo prazo associados ao processo de financeirização.
Considerações finais
O presente trabalho teve como propósito apresentar uma abordagem alternativa às visões convencionais acerca dos processos de crescimento econômico. Mais do que isso, ao mobilizar um conjunto bastante amplo de elementos, buscou-se mostrar que a integração entre tradições relativamente consolidadas do pensamento heterodoxo pode ser dotada de relativa coerência, possibilitando a análise de episódios concretos de crescimento.
O pressuposto central da abordagem apresentada é que as economias capitalistas têm sua evolução condicionada por sua trajetória passada, bem como por formas institucionais (regime internacional, regime monetário-financeiro, padrão de atuação do Estado, regime de concorrência e relação salarial) específicas que operam no presente. A combinação entre história e instituições, por um lado, e suas repercussões sobre os determinantes dos regimes de demanda e de produtividade, por outro, são capazes de explicar episódios de crescimento diferentes no tempo e no espaço.
O trabalho procurou explicitar também que, no médio prazo, as características centrais dos regimes de crescimento, isto é, se wage-led, profit-led, export-led ou finance-led, dependem fundamentalmente dos condicionantes da demanda agregada. Porém, a despeito do papel central da demanda, pôde-se constatar que, por meio do regime de produtividade, elementos associados à oferta, tais como a estrutura produtiva e o regime de incentivos à inovação, têm um papel muito importante para o entendimento do crescimento econômico.
No que diz respeito ao longo prazo, verificou-se que as economias não podem escapar ao fato de que suas taxas de crescimento precisam ser compatíveis com o equilíbrio intertemporal do balanço de pagamentos, de modo que suas despesas em divisas estrangeiras não podem exceder permanentemente e de forma explosiva as suas receitas. É importante notar, ainda, que, com base nesses conceitos, foi possível refletir sobre alguns dos possíveis impactos das políticas econômicas sobre a evolução das economias.
Por fim, o artigo chama a atenção para a importância da financeirização, tentando evidenciar que esse fenômeno pode afetar o crescimento econômico no médio prazo por meio tanto dos regimes de demanda quanto de produtividade, assim como limitá-lo através de restrições de divisas ao financiamento do balanço de pagamentos no longo prazo.
Referências bibliográficas
ABRAMOVITZ, M. Catching up, forging ahead, and falling behind. The Journal of Economic History, v. 46, n. 2, The Tasks of Economic History, p. 385-406, Jun., 1986.
ACEMOGLU, D. Introduction to modern economic growth. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
AMABLE, B.; PETIT, P. The diversity of social systems of innovation and production during the 1990s. Cepremap, 2001. (Cepremap Working Papers, Couverture Orange, 0115).
AMABLE, B. Institutional complementarity and diversity of social systems of innovation and production. Review of International Political Economy, v. 7, n. 4, Winter, p. 645-687, 2000.
________. Les cinq capitalismes: diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation. Économie Humaine, 2005.
________; HENRY, J.; LORDON, F.; TOPOL, R. Unit-root in the wage-price spiral is not hysteresis in unemployment. Journal of Economic Studies, n. 20, p. 123-135, 1993.
________; HENRY, J.; LORDON, F.; TOPOL, R. Strong hysteresis versus zero-root dynamics. Economics Letters, n. 44, p. 43-47, 1994.
AMADEO, E. J. Crescimento, distribuição e utilização da capacidade produtiva: um modelo neo-Steindliano. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 16, n. 3, p. 689-712, 1986.
AMITRANO, C. R. Instituições e desenvolvimento: críticas e alternativas à abordagem de variedades de capitalismo. Tese (Doutorado)-Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas (IE/Unicamp), 2010.
AOKI, M. Toward a comparative institutional analysis. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
BARBOSA FILHO, N. H. The balance-of-payments constraint: from balanced trade to sustainable debt. Banca Nazionale Del Lavoro Quarterly Review, n. 219, p. 381-399, 2001.
BERTELLA, M. A. O fio da navalha de Harrod e a resposta da Escola de Cambrigde. Análise Econômica (UFRGS), p. 113-126, set. 2000.
BERTELLA, M. A. Modelos de crescimento Kaleckianos: uma apreciação. Revista de Economia Política, v. 27, p. 209-220, 2007.
BÉRTOLA, L.; HIGASHI, H.; PORCILE, G. Balance-of-payments-constrained growth in Brazil: a test of Thirlwall's Law, 1890-1973. Journal of Post Keynesian Economics, v. 25, n. 1, Fall, 2002.
BLECKER, R. Distribution, demand, and growth in neo-Kaleckian macro models. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demand-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
______. Long-run growth in open economies: export-led cumulative causation or a balance-of-payments constraint? In: SUMMER SCHOOL ON KEYNESIAN MACROECONOMICS AND EUROPEAN ECONOMIC POLICIES, 2. Berlin, 2-9 Aug., 2009. Anais eletrônicos... Disponível em: http://www1.american.edu/academic.depts/cas/econ/workingpapers/2009-23.pdf
BOWLES, S.; GINTIS, H. Social preferences, homo economicus and zoon politikon. In: GOODIN, R. E.; TILLY, C. The Oxford handbook of contextual political analysis. Oxford: Oxford University Press, 2005.
BOYER, R. Formalizing growth regimes. In: DOSI, G. et al. (Ed). Technical change and economic theory. London: Frances Pinter, 1988.
________. Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis. Economy and Society, v. 29, n. 1, p. 111-145, 2000.
________. Teoria da regulação: os fundamentos. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.
BOYER, R.; PETIT, P. Kaldor's growth theories: past, present and prospects for future. In: NELL, E.; SEMMLER, W. (Ed.). Nicholas Kaldor and mainstream economics: confrontation or convergence? London: Macmillan, 1991.
BOYER, R.; SAILLARD, Y. (Org.). Théorie de la régulation: l'état des savoirs. Paris: La Découverte, 1995.
CARVALHO, Veridiana Ramos da Silva; LIMA, Gilberto Tadeu. Estrutura produtiva, restrição externa e crescimento econômico: a experiência brasileira. Economia e Sociedade, Campinas, v. 18, n.1, p. 31-60, 2009.
CASSETI, M. Conflict, Inflation, distribution and terms of trade in the Kaleckian model. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demand-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Edward Elgar, 2002.
________. Bargaining power, effective demand and technical progress: a Kaleckian model of growth. Cambridge Journal of Economics, v. 27, p. 449-464, 2003.
CASTELACCI, F. A. Technology-gap approach to cumulative growth: toward an integrated model. Empirical evidence for Spain, 1960-1997. May 2001. Disponível em: http://www3.druid.dk/wp/20010004.pdf. (DRUID Working Paper, n. 01-04).
CHICK, V.; CASERTA, M. Provisional equilibrium and macroeconomic theory. In: ARESTIS, P.; PALMA, G.; SAWYER, M. (Ed.). Markets, unemployment and economic policy: essays in honour of Geoff Harcourt, v. 2. London: Routledge, 1997.
COMMENDATORE, P. et al. Keynesian theories of growth. In: SALVADORI, N. The theory of economic growth: a 'classical' perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
CORNWALL, J.; CORNWALL, W. Capitalist development in the twentieth century: an evolutionary Keynesian analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
COUTO, C. G. O avesso do avesso: conjuntura e estrutura na recente agenda política brasileira. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15 n. 4, out./dez. 2001.
________; ARANTES, R. B. Constituição, governo e democracia no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 21 n. 61, jun. 2006.
DALLERY, T. Post-Keynesian theories of the firm under financialization. Review of Radical Political Economics, v. 41, n. 4, p. 492-515, Fall, 2010.
DEQUECH, D. Fundamental uncertainty and ambiguity. Eastern Economic Journal, v. 26, n. 1, p. 41-60, 2000.
________. Conventional and unconventional behavior under uncertainty. Journal of Post Keynesian Economics, v. 25, n. 4, p. 145-168, 2003.
________. New institutional economics and the theory of economic behaviour under uncertainty. Journal of Economic Behavior and Organization, v. 59, p. 109-131, 2006.
DIXON, R. J.; THIRLWALL, A. P. A model of regional growth-rate differences on Kaldorian Lines. Oxford Economic Papers, v. 27, p. 201-214, 1975.
DOSI, G.; EGIDI, M. Substantive and procedural uncertainty: An exploration of economic behaviours in changing environments. Journal of Evolutionary Economics, n. 1, p. 145-68, 1991.
DOS SANTOS, C. H. Keynesian theorising during hard times: stock-flow consistent models as an unexplored frontier of Keynesian macroeconomics. Cambridge Journal of Economics, v. 30, p. 541-565, 200.
________; MACEDO E SILVA, A. C. Revisiting (and connecting) Marglin-Bhaduri and Minsky: A SFC look at financialization and profit-led growth. Levy Economics Institute, 2009. (Working Paper, n. 567). Disponível em: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_567.pdf.
DUTT, A. K. Stagnation, income distribution and monopoly power. Cambridge Journal of Economics, n. 8, p. 25-40, 1984.
________. Growth, distribution and uneven development. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1990.
EPSTEIN, G. Financialization, rentier interests, and central bank policy. Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst, MA, December, 2001. (Working Paper). Disponível em: http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/financial/fin_Epstein.pdf.
FAGERBERG, J. Technology and International differences in growth rates. Journal of Economic Literature, v. 32, p. 1147-1175, 1994.
FOLEY, D. K.; MICHL, T. R. Growth and distribution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, IPEA, v. 21, p. 211-259. 2000, Disponível em: http://www.ipea.gov.br/pub/ppp/ppp21/Parte5.pdf.
GODLEY, W.; LAVOIE, M. Monetary economics: an integrated approach to credit, money, income, production and wealth. Palgrave Macmillan, 2007.
HARRIS, R. Models of regional growth: past, present and future. Spatial Economics Research Centre, LSE, 2008. (SERC Discussion Papers, n. 0002). Disponível em: http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercdp0002.pdf.
HEIN, E. Money, distribution conflict and capital accumulation: contributions to monetary analysis. Palgrave Macmillan, 2008.
________. A (post-) Keynesian perspective on 'financialisation'. Macroeconomic Policy Institute (IMK), 2009a. (Working Paper n. 1). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_studies_01_2009.pdf.
________. Financialisation, distribution, capital accumulation and productivity growth in a Post-Kaleckian model. Nov. 2009b. (Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper, n. 18574). Disponível em: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18574/1/MPRA_paper_18574.pdf.
HEIN, E.; TARASSOW, A. Distribution, aggregate demand and productivity growth: theory and empirical results for six OECD countries based on a post-Kaleckian model. Cambridge Journal of Economics, n. 34, p. 727-754, 2010.
HEIN, E.; VAN TREECK. 'Financialisation' in Kaleckian/Post-Kaleckian models of distribution and growth. Macroeconomic Policy Institute (IMK). 2007. (Working Paper, n. 07). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_07_2007.pdf.
________;________. 'Financialisation' in Post-Keynesian models of distribution and growth - a systematic review. Macroeconomic Policy Institute (IMK). 2008. (Working Paper, n. 10). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_10_2008.pdf.
HERSCOVICI, A. História, entropia e não linearidade: algumas aplicações possíveis na Ciência Econômica. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 277-294, 2005.
HOLLAND, M.; VIEIRA, F.; CANUTO, O. Economic growth and the balance-of-payments constraint in Latin America. Investigación Económica, v. LXIII, n. 247, 2004.
JAYME JR., F. G. Balance-of-payments-constrained economic growth in Brazil. Revista de Economia Política, v. 23, jan./mar. 2003.
________; RESENDE, M. F. C. Crescimento econômico e restrição externa: teoria e a experiência brasileira. In: MICHEL, R.; CARVALHO, L. (Org.). Crescimento econômico, setor externo e inflação. Rio de Janeiro: Ipea, 2009.
JONES, C. I. Introdução à teoria do crescimento econômico. Ed. Campus, 2000.
JUSELIUS, K. Time to reject the privileging of economic theory over empirical evidence? A reply to Lawson. Cambridge Journal of Economics, 2010.
KALDOR, N. [1958]. Capital acumulation and growth. In: TARGETTI, F.; THIRLWALL, A. P. (Org.). The Essential Kaldor. New York: Holmes & Meier Publishers Inc., 1989.
________ [1966]. Causes of the slow rate of economic growth of The United Kingdom. In: TARGETTI, F.; THIRLWALL, A. P. (Org.). The Essential Kaldor. New York: Holmes & Meier Publishers, Inc., 1989.
LAVOIE, M. Foundations of post Keynesian economic analysis. Aldershot: Edward Elgar, 1992.
________. The neo-Pasinetti theorem in Cambridge and Kaleckian models of growth and distribution. Eastern Economic Journal, 24, p. 417-434, 1998.
LEÓN-LEDESMA, M. Cumulative growth and the catching-up debate from a disequilibrium standpoint. In: MCCOMBIE, J. S. L.; PUGNO, M.; SORO, B. (Ed. ).
Productivity growth and economic performance: essays on Verdoorn's Law. New York: Palgrave, Macmillan, 2002.
LLERENA, P.; LORENTZ, A. Co-evolution of macro-dynamics and technological change: an alternative view on growth. Revue d'Économie Industrielle, v. 105, p. 47-70, 1er trimester 2004.
LIBÂNIO, G. Unit roots in macroeconomic time series: a post keynesian interpretation. Belo Horizonte: Cedeplar, 2004. (Texto para Discussão, n. 233). Disponível em: http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20233.pdf.
________. Unit roots in macroeconomic time series: theory, implications and evidence. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, p. 145-176, set./dez. 2005.
LIMA, G. T.; CARVALHO, V. R. Macrodinâmica do produto sob restrição externa: a experiência brasileira no período, 1930-2004. Revista de Economia Aplicada, v. 12, p. 55-77, 2008.
LOPEZ, J.; CRUZ, A. Thirlwall´s law and beyond: the Latin American experience. Journal of Post Keynesian Economics, v. 22, n. 3, Spring 2000.
MACEDO E SILVA, A. C.; DOS SANTOS, C. H. Além do curto prazo? Explorando os nexos entre a teoria pós keynesiana e a macrodinâmica de fluxos e estoques. Campinas: IE/ Unicamp, 2008. (Texto para Discussão, n. 141). Disponível em: http://www.eco.unicamp.br/Downloads/Publicacoes/TextosDiscussao/textos141.pdf.
MARGLIN, S. A.; BHADURI, A. Profit squeeze and Keynesian theory. In: MARGLIN, S. A.; SCHOR, J. B. (Ed.). The golden age of capitalism: reinterpreting the postwar experience. Oxford: Oxford University Press, 1990. p. 153-186.
MCCOMBIE, J. S. L.; ROBERTS, M. The role of the balance of payments in economic growth. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demanded-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
________;________. Returns to scale and regional growth: the static-dynamic Verdoorn Law paradox revisited. Journal of Regional Science, v. 47, n. 2, p.179-208, 2007.
________; THIRLWALL, A. P. Economic growth and the balance-of-payments constraint. Basingstoke: Macmillan, 1994.
MOREIRA, R.; HERSCOVICI, A. Path-dependence, expectativas, e regulação econômica: elementos de análise a partir de uma perspectiva pós-keynesiana. Revista Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 547-574, set./dez. 2006.
MORENO-BRID, J. C., On capital flows and the balance-of-payments-constrained growth model. Journal of Post Keynesian Economics, v. 21, n. 2, p. 283-98, Winter 1998-99.
NAASTEPAD, C. W. M. Technology, demand and distribution: a cumulative growth model with an application to the Dutch productivity growth slowdown. Cambridge Journal of Economics, 30, p. 403-434, 2006.
NELSON, C.; PLOSSER, C. Trends and Random Walks in macro-economic time series: some evidence and implications. Journal of Monetary Economics, 10, 1982.
OREIRO, J. L. C. Acumulação de capital, equilíbrios múltiplos e path-dependence: uma análise a partir de um modelo pós-keynesiano de crescimento endógeno. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas, São Paulo, v. 31, n.1, p. 167-203, 2001.
PALLEY, T. Post keynesian economics: debt, distribution, and the macro economy. New York: St. Martin's Press, 1996.
________. Class conflict and the Cambridge theory of distribution. In: GIBSON, B. (Ed.). Joan Robinson's economics: a centennial celebration. Cheltenham: Edward Elgar, 2005.
________. Financialization: what it is and why it matters. PERI, Nov. 2007. (Working Paper Series, n. 153). Disponível em: http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_151-200/WP153.pdf.
PETIT, P. Structural forms and growth regimes of the post-Fordist era. Review of Social Economy, v. 57, 2, p. 220-243, Jun. 1999.
________. Croissance et richesse des nations. Paris: La Decouverte, 2005.
PIERSON, P. Politics in time: history, institutions and social analysis. New Jersey: Princeton University Press, 2004.
ROBERTS, M. The conditional convergence properties of simple Kaldorian growth models. International Review of Applied Economics, v. 21, n. 5, p. 619-632, Dec. 2007.
ROWTHORN, R. E. Demand, real wages and economic growth. Thames Papers in Political Economy, Aut. 1981.
RYOO, S.; SKOT, P. Financialization in kaleckian economies with and without labor constraints. University of Massachusetts Amherst, Department of Economics, 2008. (Working Paper, n. 05). Disponível em: http://www.umass.edu/economics/publications/2008-05.pdf.
SANTOS, A. T. L.; LIMA, G. T.; CARVALHO, V. R. A restrição externa como fator limitante do crescimento econômico brasileiro: um teste empírico. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 23, Natal, dez. 2005. Anais eletrônicos... Disponível em: www.anpec.org.br.
SETTERFIELD, M. Path dependency, hysteresis and macrodynamics. In: ARESTIS, P.; SAWYER, M. (Ed). Path dependency and macroeconomics. London: Palgrave Macmillan, 2009.
________. Endogenous growth: a Kaldorian approach. Trinity College, Department of Economics, 2010a. (Working Paper, n. 10-01). Disponível em: http://internet2.trincoll.edu/repec/WorkingPapers2010/wp10-01.pdf.
SETTERFIELD, M. Anticipations of the crisis: on the similarities between post Keynesian economics and regulation theory. Trinity College, Department of Economics. 2010b. (Working Paper, n. 10-07). Disponível em: http://internet2.trincoll.edu/repec/WorkingPapers2010/wp10-07.pdf
SETTERFIELD, M.; CORNWALL, J. A neo-Kaldorian perspective on the rise and decline of the Golden Age. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demanded-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
SIMON, H. Barriers and bounds to Rationality. Structural Change and Economic Dynamics, 11, p. 243-253, 2000.
SKOT, P.; RYOO, S. Macroeconomic implications of financialization. University of Massachusetts Amherst, Department of Economics, 2007. (Working Paper, n. 08). Disponível em: http://www.umass.edu/economics/publications/2007-08.pdf.
SOLOW, R. Perspectives on growth theory. The Journal of Economic Perspectives, v. 8, n. 1, p. 45-54, Winter 1994.
________. Neoclassical growth theory. In: TAYLOR, J. B.; WOODFORD, M. (Org.). Handbook of macroeconomics. North Holland, 1999.
STOCKHAMMER, E. Robinsonian and Kaleckian growth: an update on post-keynesian growth theories. Department of Economics, Vienna University of Economics and Business Administration, Oct. 1999. (Working Paper, n. 67). Disponível em: http://www.wu.ac.at/inst/vw1/papers/wu-wp67.pdf.
________. Some stylized facts on the finance-dominated accumulation regime. Competition & Change, v. 12, n. 2, p. 184-202, Jun. 2008.
STORM, S.; NAASTEPAD, C. W. M. It is high time to ditch the NAIRU. Journal of Post Keynesian Economics, v. 29, n. 4, p. 531-554, Summer 2007.
TAYLOR, L. Income distribution, inflation and growth: lectures on structuralist macroeconomic theory. Cambridge MA: The MIT Press, 1991.
THIRLWALL A. P. The balance of payments constraint as an explanation of international growth rates differences. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 128, p. 45-53, 1979.
________. A natureza do crescimento econômico: um referencial alternativo para compreender o desempenho das nações. Brasília: Ipea, 2005.
________; DIXON, R. J. A model of export-led growth with a balance of payments constraint. In: BOWERS, J. K. (Ed.). Inflation, development and integration: essays in honour of A. J. Brown. Leeds: Leeds University Press, 1979.
________; HUSSAIN, M. The balance of payments constraint, capital flows and growth rates differences between developing countries. Oxford Economic Papers, v. 34, 1982.
VAN TREEK, T. A synthetic, stock-flow consistent macroeconomic model of financialisation. Macroeconomic Policy Institute (IMK), 2007. (Working Paper, n. 6). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_06_2007.pdf.
ZAMPARELLI, L. The steady state growth rate in the neoclassical theory: a brief survey.
The New School Economic Review, v. 1, n. 1, Fall 2004.
WOOD, A. A theory of profits. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. [Edição em português: Uma teoria de lucros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980] .
- ABRAMOVITZ, M. Catching up, forging ahead, and falling behind. The Journal of Economic History, v. 46, n. 2, The Tasks of Economic History, p. 385-406, Jun., 1986.
- ACEMOGLU, D. Introduction to modern economic growth New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- AMABLE, B.; PETIT, P. The diversity of social systems of innovation and production during the 1990s Cepremap, 2001. (Cepremap Working Papers, Couverture Orange, 0115).
- AMABLE, B. Institutional complementarity and diversity of social systems of innovation and production. Review of International Political Economy, v. 7, n. 4, Winter, p. 645-687, 2000.
- ________. Les cinq capitalismes: diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation. Économie Humaine, 2005.
- ________; HENRY, J.; LORDON, F.; TOPOL, R. Unit-root in the wage-price spiral is not hysteresis in unemployment. Journal of Economic Studies, n. 20, p. 123-135, 1993.
- ________; HENRY, J.; LORDON, F.; TOPOL, R. Strong hysteresis versus zero-root dynamics. Economics Letters, n. 44, p. 43-47, 1994.
- AMADEO, E. J. Crescimento, distribuição e utilização da capacidade produtiva: um modelo neo-Steindliano. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 16, n. 3, p. 689-712, 1986.
- AMITRANO, C. R. Instituições e desenvolvimento: críticas e alternativas à abordagem de variedades de capitalismo Tese (Doutorado)-Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas (IE/Unicamp), 2010.
- AOKI, M. Toward a comparative institutional analysis Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
- BARBOSA FILHO, N. H. The balance-of-payments constraint: from balanced trade to sustainable debt. Banca Nazionale Del Lavoro Quarterly Review, n. 219, p. 381-399, 2001.
- BERTELLA, M. A. O fio da navalha de Harrod e a resposta da Escola de Cambrigde. Análise Econômica (UFRGS), p. 113-126, set. 2000.
- BERTELLA, M. A. Modelos de crescimento Kaleckianos: uma apreciação. Revista de Economia Política, v. 27, p. 209-220, 2007.
- BÉRTOLA, L.; HIGASHI, H.; PORCILE, G. Balance-of-payments-constrained growth in Brazil: a test of Thirlwall's Law, 1890-1973. Journal of Post Keynesian Economics, v. 25, n. 1, Fall, 2002.
- BLECKER, R. Distribution, demand, and growth in neo-Kaleckian macro models. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demand-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
- ______. Long-run growth in open economies: export-led cumulative causation or a balance-of-payments constraint? In: SUMMER SCHOOL ON KEYNESIAN MACROECONOMICS AND EUROPEAN ECONOMIC POLICIES, 2. Berlin, 2-9 Aug., 2009. Anais eletrônicos... Disponível em: http://www1.american.edu/academic.depts/cas/econ/workingpapers/2009-23.pdf
- BOWLES, S.; GINTIS, H. Social preferences, homo economicus and zoon politikon. In: GOODIN, R. E.; TILLY, C. The Oxford handbook of contextual political analysis Oxford: Oxford University Press, 2005.
- BOYER, R. Formalizing growth regimes. In: DOSI, G. et al. (Ed). Technical change and economic theory London: Frances Pinter, 1988.
- ________. Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis. Economy and Society, v. 29, n. 1, p. 111-145, 2000.
- ________. Teoria da regulação: os fundamentos. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.
- BOYER, R.; PETIT, P. Kaldor's growth theories: past, present and prospects for future. In: NELL, E.; SEMMLER, W. (Ed.). Nicholas Kaldor and mainstream economics: confrontation or convergence? London: Macmillan, 1991.
- BOYER, R.; SAILLARD, Y. (Org.). Théorie de la régulation: l'état des savoirs. Paris: La Découverte, 1995.
- CARVALHO, Veridiana Ramos da Silva; LIMA, Gilberto Tadeu. Estrutura produtiva, restrição externa e crescimento econômico: a experiência brasileira. Economia e Sociedade, Campinas, v. 18, n.1, p. 31-60, 2009.
- CASSETI, M. Conflict, Inflation, distribution and terms of trade in the Kaleckian model. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demand-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Edward Elgar, 2002.
- ________. Bargaining power, effective demand and technical progress: a Kaleckian model of growth. Cambridge Journal of Economics, v. 27, p. 449-464, 2003.
- CASTELACCI, F. A. Technology-gap approach to cumulative growth: toward an integrated model. Empirical evidence for Spain, 1960-1997. May 2001. Disponível em: http://www3.druid.dk/wp/20010004.pdf (DRUID Working Paper, n. 01-04).
- CHICK, V.; CASERTA, M. Provisional equilibrium and macroeconomic theory. In: ARESTIS, P.; PALMA, G.; SAWYER, M. (Ed.). Markets, unemployment and economic policy: essays in honour of Geoff Harcourt, v. 2. London: Routledge, 1997.
- COMMENDATORE, P. et al. Keynesian theories of growth. In: SALVADORI, N. The theory of economic growth: a 'classical' perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
- CORNWALL, J.; CORNWALL, W. Capitalist development in the twentieth century: an evolutionary Keynesian analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- COUTO, C. G. O avesso do avesso: conjuntura e estrutura na recente agenda política brasileira. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15 n. 4, out./dez. 2001.
- ________; ARANTES, R. B. Constituição, governo e democracia no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 21 n. 61, jun. 2006.
- DALLERY, T. Post-Keynesian theories of the firm under financialization. Review of Radical Political Economics, v. 41, n. 4, p. 492-515, Fall, 2010.
- DEQUECH, D. Fundamental uncertainty and ambiguity. Eastern Economic Journal, v. 26, n. 1, p. 41-60, 2000.
- ________. Conventional and unconventional behavior under uncertainty. Journal of Post Keynesian Economics, v. 25, n. 4, p. 145-168, 2003.
- ________. New institutional economics and the theory of economic behaviour under uncertainty. Journal of Economic Behavior and Organization, v. 59, p. 109-131, 2006.
- DIXON, R. J.; THIRLWALL, A. P. A model of regional growth-rate differences on Kaldorian Lines. Oxford Economic Papers, v. 27, p. 201-214, 1975.
- DOSI, G.; EGIDI, M. Substantive and procedural uncertainty: An exploration of economic behaviours in changing environments. Journal of Evolutionary Economics, n. 1, p. 145-68, 1991.
- DOS SANTOS, C. H. Keynesian theorising during hard times: stock-flow consistent models as an unexplored frontier of Keynesian macroeconomics. Cambridge Journal of Economics, v. 30, p. 541-565, 200.
- ________; MACEDO E SILVA, A. C. Revisiting (and connecting) Marglin-Bhaduri and Minsky: A SFC look at financialization and profit-led growth. Levy Economics Institute, 2009. (Working Paper, n. 567). Disponível em: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_567.pdf
- DUTT, A. K. Stagnation, income distribution and monopoly power. Cambridge Journal of Economics, n. 8, p. 25-40, 1984.
- ________. Growth, distribution and uneven development Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1990.
- EPSTEIN, G. Financialization, rentier interests, and central bank policy. Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst, MA, December, 2001. (Working Paper). Disponível em: http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/financial/fin_Epstein.pdf
- FAGERBERG, J. Technology and International differences in growth rates. Journal of Economic Literature, v. 32, p. 1147-1175, 1994.
- FOLEY, D. K.; MICHL, T. R. Growth and distribution Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, IPEA, v. 21, p. 211-259. 2000, Disponível em: http://www.ipea.gov.br/pub/ppp/ppp21/Parte5.pdf
- GODLEY, W.; LAVOIE, M. Monetary economics: an integrated approach to credit, money, income, production and wealth. Palgrave Macmillan, 2007.
- HARRIS, R. Models of regional growth: past, present and future. Spatial Economics Research Centre, LSE, 2008. (SERC Discussion Papers, n. 0002). Disponível em: http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercdp0002.pdf
- HEIN, E. Money, distribution conflict and capital accumulation: contributions to monetary analysis. Palgrave Macmillan, 2008.
- ________. A (post-) Keynesian perspective on 'financialisation' Macroeconomic Policy Institute (IMK), 2009a. (Working Paper n. 1). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_studies_01_2009.pdf
- ________. Financialisation, distribution, capital accumulation and productivity growth in a Post-Kaleckian model Nov. 2009b. (Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper, n. 18574). Disponível em: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18574/1/MPRA_paper_18574.pdf
- HEIN, E.; TARASSOW, A. Distribution, aggregate demand and productivity growth: theory and empirical results for six OECD countries based on a post-Kaleckian model. Cambridge Journal of Economics, n. 34, p. 727-754, 2010.
- HEIN, E.; VAN TREECK. 'Financialisation' in Kaleckian/Post-Kaleckian models of distribution and growth Macroeconomic Policy Institute (IMK). 2007. (Working Paper, n. 07). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_07_2007.pdf
- ________;________. 'Financialisation' in Post-Keynesian models of distribution and growth - a systematic review. Macroeconomic Policy Institute (IMK). 2008. (Working Paper, n. 10). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_10_2008.pdf
- HERSCOVICI, A. História, entropia e não linearidade: algumas aplicações possíveis na Ciência Econômica. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 277-294, 2005.
- HOLLAND, M.; VIEIRA, F.; CANUTO, O. Economic growth and the balance-of-payments constraint in Latin America. Investigación Económica, v. LXIII, n. 247, 2004.
- JAYME JR., F. G. Balance-of-payments-constrained economic growth in Brazil. Revista de Economia Política, v. 23, jan./mar. 2003.
- ________; RESENDE, M. F. C. Crescimento econômico e restrição externa: teoria e a experiência brasileira. In: MICHEL, R.; CARVALHO, L. (Org.). Crescimento econômico, setor externo e inflação Rio de Janeiro: Ipea, 2009.
- JONES, C. I. Introdução à teoria do crescimento econômico Ed. Campus, 2000.
- JUSELIUS, K. Time to reject the privileging of economic theory over empirical evidence? A reply to Lawson. Cambridge Journal of Economics, 2010.
- KALDOR, N. [1958]. Capital acumulation and growth. In: TARGETTI, F.; THIRLWALL, A. P. (Org.). The Essential Kaldor New York: Holmes & Meier Publishers Inc., 1989.
- ________ [1966]. Causes of the slow rate of economic growth of The United Kingdom. In: TARGETTI, F.; THIRLWALL, A. P. (Org.). The Essential Kaldor New York: Holmes & Meier Publishers, Inc., 1989.
- LAVOIE, M. Foundations of post Keynesian economic analysis. Aldershot: Edward Elgar, 1992.
- ________. The neo-Pasinetti theorem in Cambridge and Kaleckian models of growth and distribution. Eastern Economic Journal, 24, p. 417-434, 1998.
- LEÓN-LEDESMA, M. Cumulative growth and the catching-up debate from a disequilibrium standpoint. In: MCCOMBIE, J. S. L.; PUGNO, M.; SORO, B. (Ed.
- Productivity growth and economic performance: essays on Verdoorn's Law. New York: Palgrave, Macmillan, 2002.
- LLERENA, P.; LORENTZ, A. Co-evolution of macro-dynamics and technological change: an alternative view on growth. Revue d'Économie Industrielle, v. 105, p. 47-70, 1er trimester 2004.
- LIBÂNIO, G. Unit roots in macroeconomic time series: a post keynesian interpretation. Belo Horizonte: Cedeplar, 2004. (Texto para Discussão, n. 233). Disponível em: http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20233.pdf
- ________. Unit roots in macroeconomic time series: theory, implications and evidence. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, p. 145-176, set./dez. 2005.
- LIMA, G. T.; CARVALHO, V. R. Macrodinâmica do produto sob restrição externa: a experiência brasileira no período, 1930-2004. Revista de Economia Aplicada, v. 12, p. 55-77, 2008.
- LOPEZ, J.; CRUZ, A. Thirlwall´s law and beyond: the Latin American experience. Journal of Post Keynesian Economics, v. 22, n. 3, Spring 2000.
- MACEDO E SILVA, A. C.; DOS SANTOS, C. H. Além do curto prazo? Explorando os nexos entre a teoria pós keynesiana e a macrodinâmica de fluxos e estoques. Campinas: IE/ Unicamp, 2008. (Texto para Discussão, n. 141). Disponível em: http://www.eco.unicamp.br/Downloads/Publicacoes/TextosDiscussao/textos141.pdf
- MARGLIN, S. A.; BHADURI, A. Profit squeeze and Keynesian theory. In: MARGLIN, S. A.; SCHOR, J. B. (Ed.). The golden age of capitalism: reinterpreting the postwar experience. Oxford: Oxford University Press, 1990. p. 153-186.
- MCCOMBIE, J. S. L.; ROBERTS, M. The role of the balance of payments in economic growth. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demanded-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
- ________;________. Returns to scale and regional growth: the static-dynamic Verdoorn Law paradox revisited. Journal of Regional Science, v. 47, n. 2, p.179-208, 2007.
- ________; THIRLWALL, A. P. Economic growth and the balance-of-payments constraint. Basingstoke: Macmillan, 1994.
- MOREIRA, R.; HERSCOVICI, A. Path-dependence, expectativas, e regulação econômica: elementos de análise a partir de uma perspectiva pós-keynesiana. Revista Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 547-574, set./dez. 2006.
- MORENO-BRID, J. C., On capital flows and the balance-of-payments-constrained growth model. Journal of Post Keynesian Economics, v. 21, n. 2, p. 283-98, Winter 1998-99.
- NAASTEPAD, C. W. M. Technology, demand and distribution: a cumulative growth model with an application to the Dutch productivity growth slowdown. Cambridge Journal of Economics, 30, p. 403-434, 2006.
- NELSON, C.; PLOSSER, C. Trends and Random Walks in macro-economic time series: some evidence and implications. Journal of Monetary Economics, 10, 1982.
- OREIRO, J. L. C. Acumulação de capital, equilíbrios múltiplos e path-dependence: uma análise a partir de um modelo pós-keynesiano de crescimento endógeno. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas, São Paulo, v. 31, n.1, p. 167-203, 2001.
- PALLEY, T. Post keynesian economics: debt, distribution, and the macro economy. New York: St. Martin's Press, 1996.
- ________. Class conflict and the Cambridge theory of distribution. In: GIBSON, B. (Ed.). Joan Robinson's economics: a centennial celebration. Cheltenham: Edward Elgar, 2005.
- ________. Financialization: what it is and why it matters. PERI, Nov. 2007. (Working Paper Series, n. 153). Disponível em: http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_151-200/WP153.pdf
- PETIT, P. Structural forms and growth regimes of the post-Fordist era. Review of Social Economy, v. 57, 2, p. 220-243, Jun. 1999.
- ________. Croissance et richesse des nations Paris: La Decouverte, 2005.
- PIERSON, P. Politics in time: history, institutions and social analysis. New Jersey: Princeton University Press, 2004.
- ROBERTS, M. The conditional convergence properties of simple Kaldorian growth models. International Review of Applied Economics, v. 21, n. 5, p. 619-632, Dec. 2007.
- ROWTHORN, R. E. Demand, real wages and economic growth. Thames Papers in Political Economy, Aut. 1981.
- RYOO, S.; SKOT, P. Financialization in kaleckian economies with and without labor constraints. University of Massachusetts Amherst, Department of Economics, 2008. (Working Paper, n. 05). Disponível em: http://www.umass.edu/economics/publications/2008-05.pdf
- SANTOS, A. T. L.; LIMA, G. T.; CARVALHO, V. R. A restrição externa como fator limitante do crescimento econômico brasileiro: um teste empírico. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 23, Natal, dez. 2005. Anais eletrônicos.. Disponível em: www.anpec.org.br.
- SETTERFIELD, M. Path dependency, hysteresis and macrodynamics. In: ARESTIS, P.; SAWYER, M. (Ed). Path dependency and macroeconomics London: Palgrave Macmillan, 2009.
- ________. Endogenous growth: a Kaldorian approach. Trinity College, Department of Economics, 2010a. (Working Paper, n. 10-01). Disponível em: http://internet2.trincoll.edu/repec/WorkingPapers2010/wp10-01.pdf
- SETTERFIELD, M. Anticipations of the crisis: on the similarities between post Keynesian economics and regulation theory. Trinity College, Department of Economics. 2010b. (Working Paper, n. 10-07). Disponível em: http://internet2.trincoll.edu/repec/WorkingPapers2010/wp10-07.pdf
- SETTERFIELD, M.; CORNWALL, J. A neo-Kaldorian perspective on the rise and decline of the Golden Age. In: SETTERFIELD, M. (Ed.). The economics of demanded-led growth: challenging the supply-side vision of the long run. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
- SIMON, H. Barriers and bounds to Rationality. Structural Change and Economic Dynamics, 11, p. 243-253, 2000.
- SKOT, P.; RYOO, S. Macroeconomic implications of financialization. University of Massachusetts Amherst, Department of Economics, 2007. (Working Paper, n. 08). Disponível em: http://www.umass.edu/economics/publications/2007-08.pdf
- SOLOW, R. Perspectives on growth theory. The Journal of Economic Perspectives, v. 8, n. 1, p. 45-54, Winter 1994.
- ________. Neoclassical growth theory. In: TAYLOR, J. B.; WOODFORD, M. (Org.). Handbook of macroeconomics North Holland, 1999.
- STOCKHAMMER, E. Robinsonian and Kaleckian growth: an update on post-keynesian growth theories. Department of Economics, Vienna University of Economics and Business Administration, Oct. 1999. (Working Paper, n. 67). Disponível em: http://www.wu.ac.at/inst/vw1/papers/wu-wp67.pdf
- ________. Some stylized facts on the finance-dominated accumulation regime. Competition & Change, v. 12, n. 2, p. 184-202, Jun. 2008.
- STORM, S.; NAASTEPAD, C. W. M. It is high time to ditch the NAIRU. Journal of Post Keynesian Economics, v. 29, n. 4, p. 531-554, Summer 2007.
- TAYLOR, L. Income distribution, inflation and growth: lectures on structuralist macroeconomic theory. Cambridge MA: The MIT Press, 1991.
- THIRLWALL A. P. The balance of payments constraint as an explanation of international growth rates differences. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 128, p. 45-53, 1979.
- ________. A natureza do crescimento econômico: um referencial alternativo para compreender o desempenho das nações. Brasília: Ipea, 2005.
- ________; DIXON, R. J. A model of export-led growth with a balance of payments constraint. In: BOWERS, J. K. (Ed.). Inflation, development and integration: essays in honour of A. J. Brown. Leeds: Leeds University Press, 1979.
- ________; HUSSAIN, M. The balance of payments constraint, capital flows and growth rates differences between developing countries. Oxford Economic Papers, v. 34, 1982.
- VAN TREEK, T. A synthetic, stock-flow consistent macroeconomic model of financialisation. Macroeconomic Policy Institute (IMK), 2007. (Working Paper, n. 6). Disponível em: http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_06_2007.pdf
- WOOD, A. A theory of profits Cambridge: Cambridge University Press, 1975. [Edição em português: Uma teoria de lucros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980]
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
 " a capacidade produtiva, então a taxa de lucro corrente pode ser definida como se segue. Seja
" a capacidade produtiva, então a taxa de lucro corrente pode ser definida como se segue. Seja

 , temos
, temos

 )
)
 )
)
 /
/
 ) é o grau de utilização da capacidade produtiva e (
) é o grau de utilização da capacidade produtiva e (

 /
/
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
 Dividindo por tudo y, e multiplicando e dividindo cada componente da demanda por ele mesmo, temos que:
Dividindo por tudo y, e multiplicando e dividindo cada componente da demanda por ele mesmo, temos que:
 .
.
(27)
(28)
(29)
(30)
 . Note-se que (
. Note-se que (
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
 Repare que isso não significa dizer que os fluxos financeiros do balanço de pagamentos não são importantes, mas o contrário. Em virtude de sua elevada volatilidade, esses fluxos não aliviam de forma permanente as restrições de divisas para o crescimento do produto no longo prazo. Esse fato, aliás, parece muito bem demonstrado por episódios como o da crise da dívida externa na América Latina nos anos 1980.
Repare que isso não significa dizer que os fluxos financeiros do balanço de pagamentos não são importantes, mas o contrário. Em virtude de sua elevada volatilidade, esses fluxos não aliviam de forma permanente as restrições de divisas para o crescimento do produto no longo prazo. Esse fato, aliás, parece muito bem demonstrado por episódios como o da crise da dívida externa na América Latina nos anos 1980.
(36)
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
26 Set 2013 -
Data do Fascículo
Ago 2013
Histórico
-
Recebido
17 Nov 2010 -
Aceito
29 Nov 2011
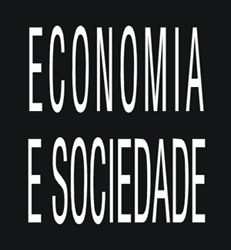









 , então:
, então:


















