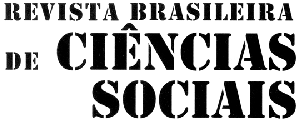Resumos
A previsão de Galbraith em 1967 de que o conhecimento estava substituindo o capital como o fator estratégico de produção mostrou-se verdadeira. O papel estratégico desempenhado pelo conhecimento técnico, organizacional e comunicativo, juntamente com a o surgimento das organizações, como as unidades básicas de produção, deu origem a uma nova classe social - a classe média profissional -, caracterizada pela propriedade coletiva das organizações. No entanto, o surgimento da classe dos técnicos não implicou o aparecimento de um novo sistema social, nem envolveu a concentração de poder político nas mãos da nova classe. A economia continuou sendo controlada pelo mercado e orientada para o lucro, e, portanto, capitalista. Em vez de capitalismo clássico, o que temos é um capitalismo dos técnicos, ou um capitalismo do conhecimento - um sistema em que capitalistas e técnicos dividem lucro e poder, ao mesmo tempo em que lutam por eles. No entanto, como a democracia se tornou também o regime político dominante no século XX, ambas as classes perderam poder para os cidadãos e para os políticos que os representam. A longo prazo, no conflito por poder com os capitalistas, a posição dos técnicos dependerá de sua capacidade, já algumas vezes comprovada, de aliar-se ao povo.
Tecnoburocracia; Classe média profissional; Democracia; Capital; Burocrata
Galbraith’s 1967 prediction that knowledge was replacing capital as the strategic factor of production has proven true. The strategic role that technical, organizational and communicative knowledge play today, coupled with the rise of organizations as the basic units of production, has given rise to a new social class - the professional middle class - characterized by the collective ownership of organizations. Yet, the emergence of the professionals’ class has not implied the rise of a new social system, nor involved the concentration of political power in the hands of the new class. The economy remains controlled by the market, and oriented to profits, thus, capitalist. Instead of classical capitalism, what we have is professionals’ capitalism, a system where capitalists and professionals share income and power while fighting for them. Yet, as democracy has become also the dominant political regime in the twentieth century, both classes have lost power to citizens and to politicians that represent them. In the long run, in the conflict for power with capitalists, professionals’ standing will depend on a capacity that sometimes they already prove to have of allying themselves with common people.
Techno-bureaucracy; Professional middle class; Democracy; Capital; Bureaucrat
La prévision de Galbraith, en 1967, suivant laquelle le savoir était entrain de se substituer au capital en tant que facteur stratégique de production, s’est montrée véritable. Le rôle stratégique du savoir technique, organisationnel et communicatif, ainsi que la création d’organisations, telles les unités de base de production, ont été à l’origine d’une nouvelle classe sociale - la classe moyenne professionnelle - caractérisée par la propriété collective des organisations. Néanmoins, la création de la classe des techniciens n’a pas impliqué dans la mise en place d’un nouveau système social, ni dans la concentration de pouvoir politique dans les mains de la nouvelle classe moyenne. L’économie a continué d’être contrôlée par le marché et orientée vers le profit. Elle est restée capitaliste. À la place du capitalisme classique, nous avons un capitalisme de techniciens ou un capitalisme du savoir, un système dans lequel les capitalistes et les techniciens partagent profits et pouvoir, en même temps qu’ils luttent pour les obtenir. Cependant, comme la démocratie est aussi devenue le régime politique dominant au cours du XXe siècle, les deux classes ont, en fait, perdu leur pouvoir en faveur des citoyens et des politiciens qui les représentent. À long terme, dans le conflit pour le pouvoir avec les capitalistes, la position des techniciens dépendra de leur capacité - qui a déjà fait l’objet de confirmations - de s’allier au peuple.
Technoburocratie; Classe moyenne professionnelle; Démocratie; Capital; Bureaucrate
Capitalismo dos técnicos e democracia* * Trabalho apresentado ao "John Kenneth Galbraith International Symposium", promovido pelo Laboratório de Reorganização Industrial da Université du Littoral, Paris, 23-25 set. 2004. Revisado em mar. 2005.
The capitalism of techinicians and democracy
Capitalisme des techniciens et démocratie
Luiz Carlos Bresser-Pereira
RESUMO
A previsão de Galbraith em 1967 de que o conhecimento estava substituindo o capital como o fator estratégico de produção mostrou-se verdadeira. O papel estratégico desempenhado pelo conhecimento técnico, organizacional e comunicativo, juntamente com a o surgimento das organizações, como as unidades básicas de produção, deu origem a uma nova classe social a classe média profissional , caracterizada pela propriedade coletiva das organizações. No entanto, o surgimento da classe dos técnicos não implicou o aparecimento de um novo sistema social, nem envolveu a concentração de poder político nas mãos da nova classe. A economia continuou sendo controlada pelo mercado e orientada para o lucro, e, portanto, capitalista. Em vez de capitalismo clássico, o que temos é um capitalismo dos técnicos, ou um capitalismo do conhecimento um sistema em que capitalistas e técnicos dividem lucro e poder, ao mesmo tempo em que lutam por eles. No entanto, como a democracia se tornou também o regime político dominante no século XX, ambas as classes perderam poder para os cidadãos e para os políticos que os representam. A longo prazo, no conflito por poder com os capitalistas, a posição dos técnicos dependerá de sua capacidade, já algumas vezes comprovada, de aliar-se ao povo.
Palavras-chave: Tecnoburocracia; Classe média profissional; Democracia; Capital; Burocrata.
ABSTRACT
Galbraiths 1967 prediction that knowledge was replacing capital as the strategic factor of production has proven true. The strategic role that technical, organizational and communicative knowledge play today, coupled with the rise of organizations as the basic units of production, has given rise to a new social class the professional middle class characterized by the collective ownership of organizations. Yet, the emergence of the professionals class has not implied the rise of a new social system, nor involved the concentration of political power in the hands of the new class. The economy remains controlled by the market, and oriented to profits, thus, capitalist. Instead of classical capitalism, what we have is professionals capitalism, a system where capitalists and professionals share income and power while fighting for them. Yet, as democracy has become also the dominant political regime in the twentieth century, both classes have lost power to citizens and to politicians that represent them. In the long run, in the conflict for power with capitalists, professionals standing will depend on a capacity that sometimes they already prove to have of allying themselves with common people.
Keywords: Techno-bureaucracy; Professional middle class; Democracy; Capital; Bureaucrat.
RÉSUMÉ
La prévision de Galbraith, en 1967, suivant laquelle le savoir était entrain de se substituer au capital en tant que facteur stratégique de production, sest montrée véritable. Le rôle stratégique du savoir technique, organisationnel et communicatif, ainsi que la création dorganisations, telles les unités de base de production, ont été à lorigine dune nouvelle classe sociale la classe moyenne professionnelle caractérisée par la propriété collective des organisations. Néanmoins, la création de la classe des techniciens na pas impliqué dans la mise en place dun nouveau système social, ni dans la concentration de pouvoir politique dans les mains de la nouvelle classe moyenne. Léconomie a continué dêtre contrôlée par le marché et orientée vers le profit. Elle est restée capitaliste. À la place du capitalisme classique, nous avons un capitalisme de techniciens ou un capitalisme du savoir, un système dans lequel les capitalistes et les techniciens partagent profits et pouvoir, en même temps quils luttent pour les obtenir. Cependant, comme la démocratie est aussi devenue le régime politique dominant au cours du XXe siècle, les deux classes ont, en fait, perdu leur pouvoir en faveur des citoyens et des politiciens qui les représentent. À long terme, dans le conflit pour le pouvoir avec les capitalistes, la position des techniciens dépendra de leur capacité qui a déjà fait lobjet de confirmations de sallier au peuple.
Mots-clés: Technoburocratie; Classe moyenne professionnelle; Démocratie; Capital; Bureaucrate.
O século XX ficará conhecido no futuro por muitas mudanças importantes: foi o século do progresso tecnológico, das organizações mais do que das unidades de produção familiares; o século em que o número de burocratas ou de técnicos aumentou a ponto de merecerem ser identificados como uma classe social a classe média profissional. Juntamente com essas mudanças, foi o século em que o conhecimento acabou se tornando o fator de produção decisivo, e o controle do conhecimento tecnológico, organizacional e comunicativo tornou-se estratégico. No entanto, foi também o século da democracia, que representa um freio a esse novo poder, ao mesmo tempo em que é condicionada por ele.
Enquanto ocorriam mudanças nas esferas social e política, as economias experimentaram enorme crescimento e tornaram-se muito mais complexas. Nesse processo, os mercados assumiram um papel importante na coordenação da economia alocando fatores de produção empregados pelas empresas comerciais , mas, obviamente, a coordenação de todo o sistema ultrapassou em muito suas possibilidades. Na esfera política macro, o papel do Estado e do sistema institucional ou legal que ele cria e impõe cresceu extraordinariamente. No âmbito da sociedade civil (da sociedade politicamente organizada), as organizações corporativas e, em um segundo momento, as organizações de responsabilidade social cresceram em número e influência, agindo como mecanismos de controle dos governos. Ao mesmo tempo, na esfera econômica, as grandes corporações e todos os outros tipos de grandes organizações tornaram-se predominantes em toda parte. As empresas exigiam empresários, as organizações precisavam de administradores ou técnicos ou profissionais abrangendo um espectro cada vez maior de especialidades. As organizações continuam a exigir ação empresarial ou inovadora, mas o espírito empreendedor se tornou cada vez mais coletivo, e não individual. Dentro de todas as organizações, começando pelo aparelho do Estado e incluindo as organizações de responsabilidade social sem fins lucrativos, as grandes empresas comerciais e as grandes organizações de serviço sem fins lucrativos, as demandas de conhecimento técnico, administrativo e comunicativo também cresceram dramaticamente e o poder dos administradores ou técnicos aumentou proporcionalmente.
No mundo contemporâneo, instituições, organizações e redes são muito mais complexas, na medida em que incorporam um progresso científico e tecnológico cada vez mais sofisticado e que lidam com grandes organizações, regulando redes densas. Em 1967, Galbraith observou que o conhecimento técnico tinha se tornado um fator de produção estratégico. Um pouco mais tarde, quando escrevi meu ensaio básico sobre o aparecimento da tecnoburocracia ou da classe média profissional, acrescentei ao conhecimento técnico o conhecimento organizacional ou administrativo (Bresser-Pereira, 1972); estou agora incluindo um terceiro elemento, o conhecimento comunicativo, para enfatizar o novo papel desempenhado pela tecnologia da informação na formação daquilo que Manuel Castells (1996) denominou, e analisou com tanta agudeza, a "sociedade das redes". Chamarei essas três formas de conhecimento de "conhecimento operacional", na medida em que elas são necessárias para tornar operacionais as modernas e complexas sociedades em que vivemos.
A alegação de Galbraith de que o capital estava deixando de ser o fator estratégico de produção, sendo gradualmente substituído pelo conhecimento tecnológico, apareceu em seu livro clássico O novo estado industrial (1979 [1967]). Hoje em dia há poucas dúvidas sobre o acerto de sua previsão. Vivemos no capitalismo dos técnicos ou na sociedade do conhecimento em um sistema social que continua sendo capitalista, mas é cada vez mais controlado pelo conhecimento, e não pelo capital. As características centrais do sistema capitalista a coordenação do mercado, o lucro como motivação básica e a acumulação de capital com progresso técnico incorporado como o meio básico de atingir resultados continuam sendo válidas, mas o conhecimento se tornou mais estratégico do que a propriedade do capital. No processo produtivo, os bens de capital continuam sendo um fator central de produção e sua propriedade, uma importante fonte de receita e poder, contudo são hoje relativamente menos escassos do que o conhecimento, do que a capacidade de dominar a tecnologia, de administrar as modernas organizações e de comunicar-se através dos vários tipos de mídia. No âmbito político, o conhecimento sempre foi estratégico, mas ele se tornar estratégico na esfera econômica é um importante fato histórico novo que está necessariamente afetando a democracia.
A maior e mais óbvia conseqüência social dessa mudança foi o surgimento da classe média profissional, ou da tecnoburocracia, que, atualmente, divide a renda e a riqueza com a classe capitalista, tanto nas organizações privadas como nas organizações públicas estatais e não estatais, enquanto compete por influência e poder.1 1 Uso como sinônimos, para identificar a nova classe, as expressões classe média profissional, tecnoburocracia, classe dos técnicos, nova classe média, da mesma maneira que uso de forma intercambiável classe capitalista e burguesia. A conseqüência política mais importante é que o surgimento dessa nova classe favoreceu a consolidação da democracia. A democracia só se consolida quando a sociedade respectiva conta com uma "nova" classe média profissional ampla e uma "antiga" classe média de homens de negócio de pequeno e médio porte. Durante algum tempo, porém, os analistas resistiram a essa idéia do surgimento de uma nova classe social. Primeiro, porque a classe média profissional, que inclui políticos e intelectuais, não gosta de ser chamada de nova classe social, e "se esconde"; segundo, porque aceitar a idéia de uma nova classe social emergente poderia acarretar uma perda de poder para a classe capitalista algo que especialmente a esquerda não estava preparada para aceitar, salvo se essa mudança apontasse na direção do socialismo; e terceiro, porque a teoria de uma nova classe social, que estava surgindo nos países capitalistas e havia se tornado predominante na União Soviética, contradizia a análise padrão dos cientistas sociais acerca do poder político.
No entanto, o crescimento da nova classe média foi tão extraordinário que ficou impossível não reconhecer sua existência e sua nova importância. Assim, partirei do pressuposto de que o conhecimento operacional é o novo fator estratégico de produção, e de que a classe média profissional divide renda e disputa poder com a classe capitalista. Quais são as conseqüências dessas novas realidades? Podemos falar de um capitalismo dos técnicos, ou do conhecimento? Podemos ter um capitalismo no qual o poder e uma nova renda derivariam principalmente do conhecimento e não do capital? Em caso afirmativo, isso significaria que a classe média profissional "ganhou" sua lutar por poder, ou que a classe capitalista ainda mantém não apenas a riqueza, mas o poder político? Seria o conceito de capital ainda o mesmo ou, dada a existência da organização, deveria ele ser revisto? Pode a democracia ter-se tornado uma efetiva "força compensatória", no sentido que Galbraith dá a essa expressão? Como aproveitar as vantagens derivadas do fato de o conhecimento se tornar o fator estratégico de produção sem incorrer em suas desvantagens? Neste trabalho, proporei algumas respostas a essas questões.
O técnico e a organização
Sempre que possível, a ciência social convencional evita o uso da palavra "capitalismo", preferindo expressões mais gerais como sociedade de mercado ou economia de mercado. Apesar disso, capitalismo é uma palavra forte e não pode ser evitada. O capitalismo tem recebido muitos adjetivos, à medida que vai se modificando com o tempo. Capitalismo liberal ou clássico, capitalismo monopolista, capitalismo organizado, capitalismo industrial, capitalismo informacional, capitalismo global, cada um enfatizando um determinado aspecto. Ou, em lugar de adjetivos, algumas expressões tentam sugerir que o capitalismo foi ultrapassado, tendo em vista seu próprio sucesso. Viveríamos agora em sociedades pós-capitalistas, ou em sociedades pós-industriais, ou na sociedade global. O fato de que o conhecimento operacional está gradualmente substituindo o capital como o fator estratégico de produção parece corroborar esta última abordagem. No entanto, embora relevante, a variável fator estratégico não define por si só a natureza social e econômica do sistema capitalista. O capitalismo não precisa necessariamente ser o capitalismo burguês; pode bem ser o capitalismo dos técnicos ou, mais diretamente, o capitalismo do conhecimento.
O capitalismo foi originalmente definido por Marx como o sistema econômico e social no qual os meios de produção estão historicamente separados dos trabalhadores, dando origem a uma classe capitalista ou burguesia, que detém o capital (a propriedade privada dos meios de produção), e a uma classe assalariada de trabalhadores ou proletários. Os capitalistas são motivados pelo lucro ou pela mais-valia, que é realizada no mercado por meio de uma troca de valores equivalentes. Para auferir lucros, os empresários acumulam capital e inovam, incorporando o progresso técnico ao processo produtivo, e contratam trabalhadores que vendem sua força de trabalho no mercado como qualquer outra mercadoria. Definidas nesses termos gerais, as sociedades do século XXI continuam sendo capitalistas, apesar da enorme mudança que sofreram. A economia continua a ser essencialmente coordenada pela competição de mercado. A motivação do lucro ainda é primordial, e a acumulação de capital com incorporação do progresso técnico continua sendo o meio por excelência de obter lucros.
No entanto, na medida em que as organizações substituíram as empresas familiares como a unidade básica de produção, e na medida em que o conhecimento operacional se tornou o novo fator estratégico de produção, o controle da produção mudou de mãos. O capitalismo clássico foi obviamente o capitalismo do capital; o capitalismo dos técnicos, porém, ocorre quando capital e organização se associam. Como Berle e Means (1932) observaram há muito tempo, a separação entre o controle e a propriedade das grandes empresas ocorreu no capitalismo moderno. Em toda parte, administradores ou técnicos substituíram os acionistas ou os capitalistas na direção das organizações produtivas. Já utilizei "tecnoburocrata" em lugar de técnico, mas é uma palavra comprida com conotações negativas. "Burocrata" seria uma alternativa, mas geralmente se limita ao setor público. Apesar de suas deficiências, usarei de preferência a expressão "técnico" a "administrador" como a expressão moderna para burocrata, inclusive burocratas privados. O termo "administrador" também seria adequado, na medida em que o administrador controla diretamente as organizações. Mas nosso ator social pode ser um profissional que domina problemas técnicos ou que trabalha em redes de comunicação. Se ele trabalhar para organizações comerciais, será um administrador ou um técnico privado; se trabalhar diretamente para o Estado ou para organizações sem fins lucrativos, será um técnico público ou um funcionário público técnicos públicos incluem os que trabalham para organizações sem fins lucrativos, enquanto funcionários públicos trabalham para o Estado, como políticos eleitos ou como servidores públicos não eleitos. Intelectuais e cientistas também estão na ampla categoria de técnicos ou profissionais. Os técnicos, como as outras classes sociais, estão organizados em estratos (Bresser-Pereira, 1981b): embora eu fale de uma classe média profissional, porque a grande maioria dos técnicos pertence à classe média, existem também executivos com altos salários, que fazem parte mais adequadamente dos estratos superiores, assim como burocratas de nível inferior que se situam mais adequadamente na classe baixa. O técnico toma decisões, define instituições, organiza a produção, cria redes, desenvolve novos conhecimentos, propaga ou questiona valores e crenças, tendo como legitimidade não a tradição nem o capital, mas o conhecimento.
Esta distinção entre capitalistas e técnicos pode ser sempre questionada com o argumento de que do moderno empresário capitalista se exige não apenas capital e a capacidade de assumir riscos, mas também o conhecimento, do qual deriva a inovação. No entanto, a legitimidade máxima do capitalista deriva do capital, não do conhecimento. É verdade também que a clássica definição do empresário feita por Schumpeter diz que "capital" não é a propriedade dos meios de produção, mas o crédito a capacidade de financiar a inovação. Contudo, ao formular essa definição de empresário, Schumpeter (1961 [1911]) estava prevendo a história, estava sugerindo o tipo de espírito empreendedor individual que, juntamente com o espírito empreendedor coletivo nas grandes organizações, constituiria o típico capitalismo dos técnicos.2 2 Identifiquei pela primeira vez o espírito empreendedor coletivo como a forma central por meio da qual a inovação e o desenvolvimento econômico ocorrem no capitalismo moderno em Bresser-Pereira, 1962. É verdade que, como um resultado final de seu espírito empreendedor, o técnico, o detentor de conhecimento, também se tornará um capitalista. Mas isso não muda a fonte básica da qual ele obteve a riqueza.
No capitalismo clássico tínhamos apenas duas classes sociais, se ignorarmos a aristocracia ou os proprietários de terra, cujo papel foi desaparecendo com a ascensão do capitalismo. Nas sociedades modernas temos três classes sociais a classe capitalista, a classe média profissional e a classe trabalhadora. Ter duas classes sociais dominantes não faz sentido quando se adota uma abordagem marxista ortodoxa. Não sendo um marxista, no entanto, em meus escritos anteriores sobre o assunto apresentei uma solução a esse problema. Em primeiro lugar, opus capitalismo "puro" ao modo de produção estatal ou tecnoburocrático "puro", que teria a "organização" como a forma específica de propriedade. Em segundo, sendo provavelmente mais fiel a Marx do que os marxistas oficiais, defini o capitalismo moderno como um sistema social misto, como uma formação social que era predominantemente capitalista mas secundariamente tecnoburocrática (Bresser-Pereira, 1977, 1981a). No modo de produção estatal, o capital deixa de existir, uma vez que a propriedade privada dos meios de produção desaparece, e é substituído pela organização, isto é, pelo controle coletivo das organizações burocráticas por parte da classe média profissional. Ela não detém a propriedade "legal" da empresa e de todas as outras formas de organização, mas a propriedade "efetiva". Enquanto no capitalismo a propriedade é privada, individual, no estatismo ela é coletiva. Enquanto no capitalismo cada capitalista ou possui diretamente os meios de produção ou uma parte proporcional deles na forma de ações, o administrador ou técnico não pode dizer que possui uma empresa ou mesmo uma determinada parte dela. Ele "possui" a organização burocrática, na medida em que ocupa um cargo executivo ou de assessoria na hierarquia organizacional, participa da administração da organização e muitas vezes utiliza seus recursos em benefício próprio.
No capitalismo dos técnicos, os altos executivos no Estado e nas grandes empresas comerciais são capazes de definir sua própria remuneração. Nas empresas comerciais, teoricamente isso é feito pelo conselho de administração, mas muitas vezes esses conselhos são controlados por administradores e não por acionistas. No Estado, os funcionários públicos mais graduados, eleitos e não eleitos, muitas vezes têm um poder semelhante, mas sua remuneração é consideravelmente menor. O fato de os administradores não deterem a propriedade legal mas, em vez disso, a propriedade coletiva da organização evidentemente reduz sua capacidade de definir seus proventos de modo pleno. Eles precisam constantemente justificar suas ações ou explicar sua remuneração em termos de mercado, enquanto o capitalista está livre para fazer uso de sua propriedade em seu próprio benefício e no de sua família; mesmo a "nomenclatura" nas formações sociais predominantemente controladas pelo Estado, como a União Soviética, tinha uma limitação precisa em sua tentativa de se apropriar do excedente econômico. A propriedade dos técnicos não é herdada, ao contrário da propriedade capitalista e pré-capitalista. A nova classe média profissional precisa adotar várias estratégias para transmitir suas posições de classe a seus filhos e filhas, enquanto esse processo é relativamente automático no caso das classes capitalistas e, sobretudo, aristocráticas. Isso significa que a propriedade organizacional é menos definida e menos autoritária do que a propriedade capitalista. Significa que a organização é uma relação de produção que oferece menos estabilidade a seus proprietários do que o capital. E explica por que a mobilidade social tende a ser maior no capitalismo dos técnicos do que no capitalismo liberal.
No capitalismo dos técnicos, o "ideal" meritocrático, que era o sonho de um certo tipo de liberalismo ingênuo norte-americano, transformou-se em uma realidade não tão ideal.3 3 Lloyd Warner (1953) identifica a mobilidade social, essencialmente baseada no espírito empreendedor capitalista, como "o sonho norte-americano". A remuneração dentro da organização depende da posição relativamente instável ocupada pelo indivíduo. A posição, por sua vez, deriva do monopólio sobre o conhecimento técnico, organizacional e comunicativo que o técnico tem ou alega ter. Origina-se do conhecimento técnico e científico real ou presumido do burocrata, de sua competência para administrar organizações burocráticas e de sua capacidade de criar redes e transmitir valores e idéias. Em termos de justiça social, há um aperfeiçoamento meritocrático mas esse aperfeiçoamento está longe de ser ideal, pelo fato de que a remuneração dos altos executivos se torna extremamente elevada, e a renda não fica igualitária, mas freqüentemente acaba se concentrando. Mérito e poder organizacional tornam-se tão inter-relacionados que fica difícil saber qual critério prevalece.
Entretanto, apesar de todas essas mudanças, o sistema continua sendo capitalista, uma vez que se trata um sistema de mercado, em que o lucro é a motivação, a taxa de lucro ou o retorno sobre o investimento calculado de acordo com o fluxo de caixa descontado é o critério de sucesso, e a acumulação de capital com incorporação do progresso técnico é o meio para atingir o lucro. Peter Drucker (1993, p. 8), que cunhou a expressão "sociedade do conhecimento", insiste que a era do capitalismo acabou e que a nova sociedade é uma sociedade pós-capitalista. Repetindo Galbraith, mas usando uma nova expressão, ele diz que "os meios de produção não são mais o capital ou os recursos naturais (a terra dos economistas), nem a mão-de-obra. É e será o conhecimento [ ]. O valor será criado pela produtividade e pela inovação". Drucker está certo em enfatizar o novo papel do conhecimento, mas errado em não compreender que a característica essencial e surpreendente do capitalismo contemporâneo é que ele deixou de ser o capitalismo dos capitalistas para se tornar o capitalismo dos técnicos. Poder e privilégio, que nas sociedades aristocráticas eram atribuídos de acordo com a linhagem e a força militar, e no capitalismo liberal, alocados de acordo com a riqueza e o espírito empreendedor, são hoje em dia cada vez mais distribuídos de acordo com o conhecimento. A riqueza e principalmente o espírito empreendedor continuam a desempenhar papéis importantes, mas hoje este último já depende mais do conhecimento do que da propriedade do capital físico. O espírito empreendedor sempre dependeu de ambos os fatores, além do básico o caráter inovador e a orientação do empresário para a necessidade de realização , mas hoje é cada vez mais improvável que pessoas não dotadas de conhecimento técnico, organizacional e comunicativo venham a ser grandes empresários. O típico empresário capitalista é ou o jovem que sai da universidade com uma idéia brilhante, ou o administrador experiente de uma grande empresa que começa seu próprio negócio. Resumindo, o sistema social continua sendo capitalista, porém se trata de um capitalismo dos técnicos ou do conhecimento.
O conceito de capital
A definição clássica da ação capitalista, que definiu a revolução comercial, foi a acumulação de capital. Com a revolução industrial, a acumulação de capital com incorporação do progresso técnico tornou-se a característica definidora do sistema econômico. Atualmente, essas duas atividades continuam sendo cruciais, e a segunda o progresso técnico é também parte essencial do capitalismo do conhecimento, mas um terceiro elemento importante está incluído, qual seja, a expansão das organizações burocráticas e das redes por meio das quais elas atuam. Se o capitalista acumula capital, a classe média profissional acumula organizações e redes. O objetivo é expandir a organização burocrática, criar novos cargos burocráticos, acumular poder organizacional que depende do número e do caráter dos cargos subordinados na organização hierárquica, ou dos nós nas redes pessoais e organizacionais. O técnico, diferentemente do capitalista, não está tão preocupado em se tornar rico, mas em subir na hierarquia organizacional, e em expandi-la.
Para atingir suas metas, o detentor de conhecimento precisa trazer maior eficiência ou produtividade à sua organização. Esse é o critério básico que legitima sua posição. É assim que ele será julgado por seus superiores, seus pares e seus subordinados. A legitimidade da classe média profissional depende da capacidade, real ou presumida, de aumentar continuamente a produtividade, bem como do monopólio que ela detém sobre a competência técnica, organizacional e comunicativa. Em um mundo cada vez mais voltado para o desenvolvimento econômico, onde a remuneração dos trabalhadores e técnicos depende da produtividade global da economia, aqueles que demonstram capacidade de administrar organizações burocráticas e redes assumirão o poder e deterão uma parcela importante da renda nacional.
Assim, a organização é agora um fator central nas sociedades capitalistas, lado a lado com o capital. Nas sociedades modernas o controle da organização é tão importante quanto o capital. Poder e renda dependem do controle do capital e da organização, e o conhecimento operacional é a ferramenta mais importante nesse sentido. Estou chamando essa nova forma que o capitalismo assumiu de capitalismo do conhecimento ou capitalismo dos técnicos, mas poderia também chamá-la de capitalismo organizacional.
Nesse mar de mudanças a que o sistema capitalista está sendo submetido, o próprio conceito de capital se modificou, assim como a forma de medir o capital. O capital, obviamente, não deve ser confundido com os meios de produção, ou com os "bens de capital". O capital é a propriedade dos meios de produção. Dentro dessa definição ampla, porém, o conceito de capital vem mudando com o tempo. Para os primeiros economistas clássicos, o capital era o capital circulante, era essencialmente a capacidade de contratar trabalhadores, pagando-os antes que o resultado de seu trabalho pudesse ser vendido no mercado. Para Marx, assim como para os economistas neoclássicos e keynesianos, que viveram em uma época na qual o capital fixo tinha se tornado o fator dominante, enquanto os trabalhadores podiam cada vez mais dispensar o pagamento prévio de seus salários, o capital era principalmente a propriedade de instalações e equipamentos. Mais recentemente, quando o software prevalece sobre o hardware, ou quando o conhecimento operacional torna-se o fator estratégico de produção, tomando o lugar dos bens de capital, o capital é a capacidade de derivar lucros das organizações de comando e do conhecimento a elas incorporado. O aspecto curioso e significativo dessa definição de capital é que ela inclui o conceito de organização. O capital só é realmente capital quando seus proprietários são também "proprietários" ou capazes de controlar a organização. Ora, a organização não é apenas a organização burocrática, é também a propriedade coletiva dos meios de produção por parte dos técnicos. A organização é para o técnico ou o profissional o que o capital é para o capitalista.
Observemos que quando Galbraith afirmou que o conhecimento técnico estava substituindo o capital como o fator estratégico de produção, ele estava se referindo ao objeto da propriedade do capital, não ao próprio capital. Ele não estava definindo o capital como a propriedade dos meios de produção, mas adotando o sentido mais habitual da palavra o sentido que identifica o capital com os meios de produção, ou com o capital físico.
Concomitantemente com a transformação do conceito de capital na capacidade da organização de gerar lucros ou fluxos financeiros positivos, a forma de medir o capital também mudou. Não estou me referindo à complexa e inconclusiva discussão dos anos de 1960 entre as duas Cambridges sobre o valor do capital. A teoria econômica, nesses debates, aproxima-se da metafísica, uma abordagem que não se coaduna com minhas preocupações mais pragmáticas. Refiro-me ao valor financeiro do capital, ao valor das empresas comerciais. Na época do capitalismo industrial, até meados do século XX, o capital de uma empresa era medido por seu patrimônio líquido, tal como identificado no balanço patrimonial. Algumas correções poderiam ser feitas, o valor dos ativos intangíveis poderia ser considerado, a avaliação contábil de certos bens de capital poderia ser ajustada, mas, no final, o valor da empresa era a soma dos ativos totais menos o passivo. Enquanto o capital físico era o fator estratégico de produção, medir o valor de uma empresa por seu patrimônio líquido contábil ou pelo retorno sobre o fluxo de caixa não fazia muita diferença. Ambas as medidas eram relativamente equivalentes, uma vez que se podia presumir que, em condições normais e dada a tendência à equalização das taxas de lucro (provavelmente aliada à lei da oferta e da procura, os dois fundamentos da teoria econômica, seja qual for a escola de pensamento), o resultado seria quase o mesmo.
Hoje, não há mais essa visão, e o valor de uma empresa é dado pelo valor descontado de seu fluxo de caixa. Nenhum avaliador sério levará em conta o antigo sistema. O que está por trás de tal mudança? Seria apenas um aperfeiçoamento dos métodos de análise, como presume a teoria econômica não histórica, ou existe algum fato histórico novo que tenha provocado essa mudança metodológica? A relação entre essa mudança na forma de medir o capital e o novo fator estratégico de produção de Galbraith é bastante óbvia, e é dupla. Em primeiro lugar, o conhecimento incorporado ao pessoal da organização, ao software e à própria organização é atualmente o bem mais importante de muitas empresas, e um bem importante para todas. Portanto, não faz sentido medir o valor de uma empresa por seu patrimônio líquido. Em segundo, depois que o conhecimento operacional se tornou estratégico, os analistas do mercado financeiro confirmam diariamente que o valor de uma empresa varia de modo dramático de acordo com a qualidade de sua gestão. Um novo diretor-presidente e um grupo de executivos incompetente ou mais competente na direção de uma empresa poderão mudar seu fluxo de caixa e seus lucros em um período relativamente curto. Nesse caso, o antigo conceito de patrimônio líquido deixa de fazer sentido, enquanto a medida do valor do capital com base no fluxo de caixa se torna a única possibilidade racional. Assim, na medida em que o fluxo de caixa de uma empresa depende fortemente da qualidade de sua alta direção, o valor do capital depende do conhecimento técnico, organizacional e comunicativo detido por esses administradores.
Isso explica por que a alta direção vê sua renda e seu poder aumentarem diariamente. Explica também por que a influência dos acionistas está sendo sistematicamente reduzida. Explica também de maneira perversa por que o abuso e a corrupção, em especial sob a forma de falsos demonstrativos contábeis, como aconteceu com a Enron, tornaram-se tão comuns no capitalismo dos técnicos contemporâneo, levando Galbraith a falar ironicamente sobre a "a economia das fraudes inocentes" título de seu último livro (2004). A extraordinária remuneração dos altos executivos, sob a forma de bônus e opções sobre ações, depende do desempenho do executivo. Assim, forjar bons resultados é uma tentação a que muitos são incapazes de resistir. Esse papel estratégico da alta direção, somado a uma oferta ainda limitada de administradores ou, mais amplamente, de técnicos, apesar da enorme expansão dos cursos de mestrado em administração de negócios e áreas correlatas, e a surpreendente aceleração do progresso técnico incorporado na tecnologia da informação digital também explicam a concentração de renda que caracteriza as economias capitalistas contemporâneas desde meados dos anos de 1970.
Além de mudar a maneira de avaliar o capital, o capitalismo do conhecimento sugeriu a definição de um novo tipo de "capital" o capital humano. Os dois economistas neoclássicos que formularam essa teoria (Schultz, 1961, 1980; Becker, 1962, 1993) garantiram para si próprios o Prêmio Nobel de Economia. E eles o mereceram porque, em lugar de apenas usarem o método hipotético-dedutivo, reconheceram a existência de um novo fato histórico: que o conhecimento tinha se tornado semelhante ao capital físico, e que o investimento em educação é o modo pelo qual os indivíduos "acumulam" esse patrimônio e dele derivam ganhos ou rendimentos. O que eles não enfatizaram foi que a educação de muitos indivíduos, a generalização da educação para toda a sociedade, acarreta externalidades positivas, acarreta desdobramentos e cruzamentos que abrem caminho para a inovação e o aumento da eficiência em nível social, de tal modo que o capital humano total criado é maior do que a soma dos capitais acumulados por cada indivíduo.
A democracia como um poder compensatório
Nas seções precedentes vimos que, dentro das organizações, a ascensão ao poder e o prestígio de homens e mulheres dotados de conhecimento operacional estratégico teve importantes conseqüências econômicas, inclusive uma mudança no conceito e na medida do capital. No entanto, suas conseqüências políticas não são tão claras. Em relação aos capitalistas, os tecnoburocratas perderam ou ganharam poder? E em relação ao povo, ou a coletividade de cidadãos? A classe média profissional certamente ganhou poder, mas está longe de ter alcançado mais poder político do que a capitalista. Isto apenas aconteceu no sistema econômico estatista, mas sabemos que o próprio estatismo foi um fenômeno temporário, efêmero. No capitalismo do conhecimento, a classe média profissional é basicamente associada à aristocracia. Mas é certo que a classe capitalista teme o surgimento da classe média profissional, particularmente quando isto acontece no nível do aparelho do Estado, de organizações do Estado, e de organizações sem fins lucrativos. A ideologia neoliberal, que surgiu nos anos de 1970 nos países capitalistas desenvolvidos, como uma reação à queda da taxa de lucro e da taxa de crescimento do PIB, não foi direcionada à redução do salário direto ou indireto dos trabalhadores: seu objetivo era também reduzir o salário e a influência política da classe média profissional. Esta ideologia, que contou com a cooperação ativa de intelectuais "orgânicos" (Gramsci, 1971 [1934]), e de outros profissionais representantes da classe média profissional (o que mostra que esta classe está longe de ser coesa), obteve sucesso em alcançar seus objetivos, mas isto é apenas um capítulo no longo processo de conflito e cooperação entre as duas classes sociais.
No entanto, no século XX, com a consolidação da democracia como o regime político dominante, os capitalistas, assim como a classe média profissional, perderam poder político, enquanto os políticos e, até certo ponto, os cidadãos por eles representados, ganharam. Políticos, entretanto, são essencialmente profissionais, oficiais eleitos recebendo salário do Estado. Na sua maioria, pertencem à classe média profissional. Mas, diferentemente dos servidores civis não eleitos, eles dependem dos cidadãos, dos eleitores, para conseguir poder político. No Estado absolutista, servindo como auxiliares de príncipes ou monarcas, os burocratas patrimoniais tiveram mais poder do que no século XIX, quando seus sucessores, os servidores públicos profissionais, colaboraram com os políticos liberais. A democracia no século XX implicou uma demanda cada vez maior de responsabilidade dos funcionários públicos eleitos e não eleitos, envolvendo uma redução do poder político dos burocratas, mas aumentou o poder dos políticos. Apesar de divididos entre políticos de direita e esquerda, os primeiros representando principalmente os interesses de capital, e os últimos o do conhecimento, a classe capitalista sempre vê a classe política com desconfiança, e sempre que pode acusa seus membros de incidirem no populismo e no nepotismo, senão na corrupção, para, dessa forma, limitarem seu poder.4 4 É interessante notar que os economistas ortodoxos que, por seu liberalismo econômico, são quase sempre associados aos capitalistas, estão particularmente propensos a acusar os políticos. É significativo, também, que a acusação mais grave, a de corrupção, geralmente tem origem na própria classe capitalista, que em certos casos pode ser vítima de chantagem, mas que mais freqüentemente é corruptora.
O crescimento da organização do Estado em tamanho e complexidade tornou estratégico seu conhecimento operacional e aumentou seu poder político. A criação de agências reguladoras e executivas autônomas e o aparecimento da reforma da gestão pública depois dos anos de 1980 refletiram essa nova realidade. Mas, ao mesmo tempo, como saliento em um livro recente (Bresser-Pereira, 2004a), o crescimento dessa autonomia exigiu dos funcionários públicos graduados uma maior responsabilidade e deu origem a uma miríade de organizações de responsabilidade social que somente puderam florescer em um ambiente democrático. Ao mesmo tempo em que fica claro que os altos executivos das organizações privadas viram seu poder e prestígio dispararem no século XX com a transformação do conhecimento no fator estratégico de produção, com o crescimento paralelo da democracia é difícil dizer se, no final, os funcionários públicos graduados viram aumentar seu poder e influência. Certamente aumentaram dentro do aparelho do Estado e das organizações públicas não estatais, mas é duvidoso que o mesmo tenha ocorrido em termos políticos, quando os funcionários públicos graduados fizeram uso do poder "extroverso" o poder sobre os cidadãos fora da organização do Estado , na medida em que o controle democrático exercido sobre eles por mecanismos internos de responsabilização, pela mídia e pelas organizações de responsabilidade social não deixou de aumentar. Em comparação, os políticos têm hoje em dia mais poder do que tinham no passado, mas esse poder não tem origem apenas no fato de que as necessidades de conhecimento para eles são maiores do que no passado (isso também é verdade para todas as outras profissões), deriva principalmente de sua capacidade de "jogar" o jogo democrático. Os políticos, como os funcionários públicos graduados, são também cada vez mais responsabilizados pelos mecanismos democráticos, mas, diferentemente de servidores civis regulares, a legitimidade de seu poder vem das eleições e do apoio contínuo da opinião pública. Usando o conceito de Galbraith, a democracia funcionou como um poder compensatório ao poder dos técnicos e dos capitalistas, sobretudo ao poder capitalista, porque os políticos, que estão no cerne das democracias, são uma espécie particular de técnico ou profissional.
Este é o segundo caso, neste trabalho, em que observamos uma falta de "correspondência" entre duas variáveis históricas que presumivelmente deveriam ser compatíveis. Primeiro vimos que o capitalismo, embora mantendo suas características essenciais, está se tornando um sistema social que não é basicamente controlado pelos capitalistas, mas pelos técnicos ou profissionais. Agora vemos que os detentores do conhecimento podem ver seu poder aumentar dentro das empresas comerciais e de outras organizações, mas possivelmente decair na esfera política. Por quê? Porque o século XX, além de ser o século da organização, foi também o século da democracia. Porque foi apenas nesse século que a democracia se tornou o regime preferido dos filósofos e dos políticos. Porque somente no século XX, as sociedades mais avançadas em primeiro lugar e depois um grande número de sociedades em desenvolvimento tornaram-se efetivamente democráticas.
O fato histórico novo que provocou essa mudança foi a revolução capitalista, que mudou a forma de apropriação do excedente econômico, das violentas formas da época pré-capitalista para o lucro alcançado no mercado. A partir desse momento a nova classe dirigente deixou de impor um veto absoluto à democracia. Mas, depois dessa revolução, foi necessário um século o século XIX liberal para convencer os capitalistas de que o sufrágio universal não acarretaria a expropriação dos ricos pelos pobres.5 5 Este tema é discutido em profundidade em Bresser-Pereira (2002, 2004a).
Dado o surgimento da democracia, esta segunda "inconsistência" não é tão surpreendente. A correspondência clássica entre as esferas econômica e política, que Marx tão agudamente detectou no século XIX, e que está implícita na maior parte do pensamento social contemporâneo não marxista, perdeu parte de sua validade. O fator estratégico de produção é uma fonte de poder, mas principalmente de poder "direto" o poder oriundo do processo produtivo. O marxismo estabeleceu uma relação quase direta entre o controle do fator estratégico de produção e o poder político. Nas sociedades pré-capitalistas foi a terra; nas capitalistas, o capital. Contudo essa relação nunca foi tão direta. A terra era uma fonte de poder, mas era também o poder militar. No capitalismo clássico, o controle do capital foi chave para o poder político, mas é uma simplificação acreditar que os funcionários governamentais fossem apenas seus representantes. No capitalismo do conhecimento, técnicos de todos os tipos conquistaram poder e influência, mas o aparecimento da democracia impôs limites a seu poder discricionário. A revolução democrática envolveu a autonomia da política em relação à economia, e do poder político em relação ao controle do fator estratégico de produção. Os interesses econômicos e a propriedade do capital e do conhecimento continuam a desempenhar um importante papel político, no entanto a relativa autonomia da esfera política é um fato novo e auspicioso. Sugere que os desenvolvimentos econômico e político são fenômenos complementares, mas cada vez mais independentes.
A aliança entre técnicos e capitalistas
Apesar do avanço da democracia, não podemos facilmente descartar o controle do conhecimento como uma fonte de poder. Em algumas áreas, o poder deriva essencialmente disso. E se torna particularmente perigoso quando os técnicos se associam aos capitalistas. Tomemos, por exemplo, a política macroeconômica, que desempenha um papel estratégico em todas as sociedades contemporâneas, uma vez que a estabilidade econômica e também o crescimento dependem fortemente dela. Embora essa política afete a todos em uma sociedade moderna, o setor financeiro tem hoje um papel privilegiado em sua determinação. Em princípio, esse poder é prerrogativa dos bancos centrais e ministérios da fazenda, mas, em termos práticos, as instituições financeiras privadas têm uma voz decisiva sobre o assunto. Por quê? Seria porque o "capital financeiro" de Hilferding é todo-poderoso? Certamente que não. De acordo com Hilferding (1910), o "capital financeiro" foi o produto da fusão do capital bancário com o capital industrial sob o comando do primeiro. No início do século XX esse fenômeno estava ocorrendo na Alemanha, mas não se reproduziu nos outros países, e mesmo na Alemanha sofreu uma interrupção. Um marxista moderno como François Chesnais (1994, 1997) afirma que o setor financeiro é a ponta de lança da globalização ou mundialização do capital. E, emprestando um conceito da teoria da regulação, acrescenta que o capitalismo mundial é hoje caracterizado "por um regime de acumulação predominantemente financeiro".6 6 Chesnais, porém, também subscreve a teoria do "capitalismo financeiro", que, conforme já vimos, não se confirmou historicamente. Nessa linha de pensamento, o setor financeiro, servindo o capital rentista que vive de juros, é, também, a ponta de lança do capitalismo internacional em seu processo de desorganização (não deliberada mas efetiva) das economias nacionais dos países em desenvolvimento. Mediante a abertura financeira, que ocorreu em um grande número de países a partir do início dos anos de 1990, Washington e Nova York levam os países a perder o controle de sua taxa de câmbio, os quais, sob o influxo de grandes fluxos de capital (poupanças externas), apreciam a taxa de câmbio local, elevam artificialmente os salários e o consumo, e, afinal levam à crise de balanço de pagamentos.7 7 Desde 2001, venho fazendo a crítica dessa prática - a crítica do crescimento com poupança externa. Ver, especialmente, Bresser-Pereira (2004b). Entretanto, essas análises não explicam o poder político desse setor na definição das políticas macroeconômicas, e, particularmente, de um nível de taxa de juros (que não deve ser confundido com as variações dessa taxa necessárias para a política monetária). Uma explicação alternativa estaria no fato de que principalmente os bancos comerciais têm um papel estratégico nas sociedades modernas, nas quais o dinheiro perdeu sua conexão clássica com a riqueza física e se tornou uma convenção, totalmente dependente do crédito de que dispõe cada moeda nacional. Esta é uma boa explicação, mas lhe falta o caráter de fato histórico novo que ofereceria um motivo para o aumento do poder do setor financeiro. Desde o surgimento do capitalismo o sistema financeiro sempre desempenhou um papel estratégico na coordenação do sistema econômico. O ponto que quero salientar aqui, e que constitui fato novo, é a idéia de que as instituições financeiras detêm hoje grande parte do conhecimento técnico macroeconômico, e isto aumenta de forma substancial sua capacidade de influenciar a política macroeconômica. Detêm mais conhecimento sobre o tema do que os outros setores da economia, uma vez que empregam um grande número de macroeconomistas competentes. Essas organizações incluem esse custo em suas operações porque a política macroeconômica e as decisões que o governo toma sobre a taxa de juros, a taxa de câmbio, a base monetária e a política fiscal são o ganha-pão das instituições financeiras. Para investir com competência seus próprios recursos ou o patrimônio de seus clientes, elas precisam fazer previsões diárias sobre tais questões. Se compararmos o número de macroeconomistas capazes de expressar opiniões sobre política macroeconômica contratados pelo setor financeiro com outros setores da economia, inclusive o governo, veremos que o conhecimento macroeconômico convencional está concentrado ali. É muitas vezes um conhecimento viciado, organizado de acordo com os interesses dos rentistas e do setor financeiro, mas é um conhecimento efetivo. Assim, não é difícil compreender o poder desproporcional que o setor financeiro tem sobre assuntos macroeconômicos desproporcional em relação ao capital total que as empresas comerciais detêm nesse setor, mas proporcional a seu conhecimento especializado e muitas vezes viciado.
Este exemplo ilustra não apenas como o poder político pode ter origem no conhecimento, mas mostra também como este poder pode ser aumentado quando capital e conhecimento, capitalistas e técnicos, estão associados. No setor financeiro, essa associação é claríssima. Os grandes bancos de investimento são hoje, e cada vez mais, empresas de sócios profissionais, e cada vez menos empresas de capital. Os grandes bancos de varejo continuam a depender de seu estoque de capital. Os bancos de investimento, porém, e os setores correspondentes nos grandes bancos, lucram ou não à medida que dispõem de técnicos financeiros com os quais os acionistas são obrigados a dividir os resultados econômicos realizados. O setor financeiro é, portanto, cada vez mais estratégico no capitalismo que vivemos, mas é também uma demonstração da emergência do capitalismo dos técnicos. São cada vez mais os profissionais das finanças que comandam as organizações financeiras, e exercem, associados ao capital, a dominação no plano interno e no internacional.
Grupos conservadores dentro de cada Estado-nação participam dessa associação para exercer poder em termos do controle das políticas públicas. Como não podem exercer diretamente a dominação baseada no capital, eles usam o conhecimento, que rapidamente rotulam de "raciocínio científico", para legitimar suas visões e interesses. Esse conhecimento é ideológico, mas é freqüentemente visto como mais "razoável" do que as visões críticas oriundas dos setores à esquerda ou progressistas da sociedade, porque é produto de uma sofisticada teorização por parte de economistas inseridos no sistema de dominação. Esse conhecimento geralmente privilegia os rentistas e o setor financeiro às custas dos setores reais da economia, mas como as críticas oriundas dos grupos opositores são freqüentemente desprovidas do conhecimento técnico necessário, ou têm origem em um grupo de conhecimento competente mas muito pequeno, a probabilidade de que as visões do setor financeiro prevaleçam é grande. No Brasil, onde a política macroeconômica é particularmente estratégica, na medida em que o país tem enfrentado instabilidade macroeconômica crônica nos últimos 25 anos, o poder do setor financeiro é particularmente grande. E os erros de política feitos com seu apoio ativo são impressionantes. Entre 1995 e 1998, por exemplo, ele apoiou uma taxa de câmbio sobrevalorizada, que se mostrou desastrosa para a economia brasileira. Atualmente, apóia a adoção pelo Banco Central de uma taxa básica de juros extremamente elevada, que só beneficia os rentistas.
Em princípio, um regime democrático deveria ser capaz de controlar os bancos centrais e outras agências reguladoras, cujas decisões têm importantes conseqüências sobre a sociedade e a economia. Até o presente, no entanto, não prevaleceu um processo democrático nesses assuntos, porque tanto eles são "altamente técnicos" como perigosamente estratégicos. Assim, os políticos e os eleitores que eles representam abdicam de exercer controle sobre tais agências em nome da falta do conhecimento especializado. Na verdade, esses assuntos são freqüentemente menos complexos do que se diz. As políticas de taxa de juro e de câmbio podem ser baseadas em modelos matemáticos muito sofisticados, no entanto raciocínios simples e pragmáticos se mostram mais compatíveis com a estabilidade econômica e o crescimento. As agências reguladoras, inclusive os bancos centrais, são com freqüência controladas pelo respectivo setor regulador, mas sua "independência" dos políticos será mantida enquanto o conhecimento continuar concentrado neste setor. Os próprios políticos sentem-se mais seguros ao outorgar essa independência quando a agência é realmente estratégica, como os bancos centrais.
A empresa moderna, cujo principal papel na sociedade contemporânea foi discutido com tanta clareza por Galbraith, é essencialmente a epítome da associação entre capital e organização, entre capitalistas e técnicos, e provavelmente por essa razão é tão forte. Em geral, técnicos privados tendem a ser intimamente associados aos capitalistas nas grandes empresas. É por isso que, em termos políticos, os técnicos públicos são mais dignos de nota. Eles também se associam aos capitalistas, mas em grau menor. Têm uma autonomia que falta aos técnicos privados. Sua ideologia tecnocrática, baseada na alegação de uma eficiência superior, é mais coerente do que a dos técnicos privados. Por outro lado, o fato de trabalharem diretamente para a organização do Estado permite-lhes um etos público mais simples e direto. Eles não dependem da mão invisível de Adam Smith para trabalhar no interesse público; fazem isso, ou supõe-se que o façam.
Assim, quando dizemos que temos três classes sociais básicas no capitalismo moderno, e que elas estabelecem entre si relações de associação e conflito, referimo-nos à classe capitalista, à classe trabalhadora e principalmente à classe dos técnicos públicos. Esta última age como uma espécie de intermediário entre as outras duas classes, ao mesmo tempo em que mantém muito claros seus próprios interesses. Enquanto a classe média profissional privada está sempre associada à dos capitalistas, a classe média profissional pública associa-se a uma ou a outra, ou a ambas, de várias maneiras. Após a Segunda Guerra Mundial, os técnicos públicos associaram-se principalmente a trabalhos relativos à construção do Estado de bem-estar social. Desse modo, nos anos de 1970, quando a taxa de lucro e a taxa de crescimento econômico declinaram, a resposta neoliberal que visava a restabelecer ambas as taxas foi dirigida contra essa associação. O objetivo era reduzir o tamanho do Estado, os ordenados dos técnicos e os salários dos trabalhadores. Nos anos de 1930, Keynes percebeu que havia uma alternativa menos conflitante expandir a economia por meio da política fiscal , mas essa alternativa não estava realmente disponível na década de 1970, tendo em vista que, diferentemente dos anos de 1930, os Estados nacionais estavam enfrentando uma grave crise fiscal. A teoria macroeconômica de Keynes foi um avanço geral no pensamento econômico, porém envolvia políticas para restaurar a taxa de lucro e de emprego que dependiam de finanças saudáveis do setor público.
Ideologias
Ao mesmo tempo em que existe uma ideologia capitalista, baseada no liberalismo econômico e no papel empreendedor do capitalista, existe uma ideologia dos técnicos baseada na racionalidade instrumental e na alegação da superior eficiência das organizações burocráticas, ou da coordenação administrativa do sistema econômico. Em certas ocasiões, essas ideologias, apoiadas respectivamente pelo pensamento econômico neoclássico e pela teoria burocrática ou estatista da economia planejada, estão em conflito. Nunca estiveram mais em conflito do que durante a Guerra Fria, quando o capitalismo liberal esteve em confronto com o burocratismo ou estatismo da União Soviética. Quando ambos os grupos e suas respectivas ideologias se associaram estrategicamente, como aconteceu no mundo desenvolvido durante os anos de 1970, quando o capital e o conhecimento se uniram, pudemos observar, na fase ascendente da onda econômica longa, um crescimento econômico que interessou a todos ou, na fase declinante, um processo de reforma estrutural para restaurar a taxa de lucro e retomar o crescimento. A ideologia neoliberal, que surgiu na década de 1970, juntamente com o globalismo, foi a expressão desse conflito em nível nacional. Enquanto o objetivo do globalismo, no plano internacional, foi neutralizar os NICs ("newly industrialized countries" [países de industrialização recente, também chamados de "tigres asiáticos"]), enfraquecendo os respectivos Estados-nação, o neoliberalismo foi uma resposta doméstica à queda das taxas de lucro e de crescimento que ocorreu nos anos de 1970, e seu objetivo era reduzir os salários reais diretos e indiretos enfraquecendo a organização interna do Estado que dava suporte à mão-de-obra e ao Estado de bem-estar social.
A globalização é um fenômeno histórico real envolvendo aspectos tecnológicos, econômicos, culturais e jurídicos. Mas é interessante observar, nos países desenvolvidos e particularmente nos Estados Unidos, como a associação entre os capitalistas e a classe dos técnicos foi instrumental em proteger seus interesses nacionais com relação à ameaça representada pelos NICs. Como os interesses econômicos envolvidos eram enormes, a política e a ideologia tiveram um papel importante. A globalização tornou-se evidente naqueles anos, em que também surgiram os NICs, exportando bens relativamente sofisticados produzidos com mão-de-obra barata. Como os países ricos e, em particular, Washington e Nova York, responderam a essa ameaça? Internamente responderam à queda da taxa de lucro com o neoliberalismo; internacionalmente, com a ideologia "globalista". Essa ideologia tornou os Estados-nação de tal modo interdependentes que eles ficaram irrelevantes. Agora, neste mundo competitivo e sem fronteiras, os Estados nacionais enfrentariam, na expressão de um de seus mais brilhantes ideólogos, Thomas Friedman (2000), uma "camisa de força", de tal forma que não têm alternativa senão copiar o modelo norte-americano de crescimento.
Ao exportarem com sucesso essa ideologia, que era o produto combinado da engenhosidade das classes capitalista e técnica, os países desenvolvidos, sob a liderança dos Estados Unidos, foram capazes de enfraquecer os países de industrialização recente latino-americanos. Não foram tão bem-sucedidos na Ásia, onde o comprometimento dos governos com os interesses nacionais demonstrou ser mais resistente à nova verdade oriunda dos países desenvolvidos. Na verdade, com a globalização os países ficaram mais interdependentes, e as organizações comerciais passaram a competir em nível mundial. No entanto, o que os globalistas se esqueceram de mencionar é que a globalização é uma competição generalizada, em nível mundial, de empresas comerciais apoiadas por seus respectivos Estados nacionais. Assim, o Estado-nação continua sendo bastante estratégico e relevante, dado seu papel de apoiar as corporações nacionais. No entanto, em lugar de desafiar essa alegação altamente ideológica de que o Estado-nação tinha perdido importância, muitos intelectuais progressistas limitaram-se a lamentar esse fato, ou a atacar a globalização. Este é, mais uma vez, um exemplo de como o conhecimento insuficiente ou incompetente de parte dos grupos progressistas impede a necessária crítica das alegações ideológicas emitidas pelos grupos conservadores associados aos técnicos de classe média.
No entanto, o neoliberalismo já está desaparecendo nos países desenvolvidos. Ele teve sucesso em limitar a excessiva intervenção do Estado e em restaurar as taxas de lucro e de crescimento, que foram perigosamente reduzidas nos anos de 1970, mas foi incapaz de oferecer uma alternativa sensata a duas grandes realizações das democracias modernas: o planejamento macroeconômico e o Estado de bem-estar social. Essa é a razão pela qual, não levando em conta a privatização, mas somente o aparelho do Estado no sentido estrito, as reformas neoliberais foram incapazes de reduzir a carga tributária e, portanto, o tamanho da organização do Estado. Por outro lado, o globalismo está sendo cada vez mais criticado nos países em desenvolvimento, particularmente na América Latina, onde se tornou dominante desde o início da década de 1980, na medida em que fracassou dramaticamente em promover o crescimento econômico. É verdade que o único caminho para o crescimento econômico é o capitalista, mas sabemos que existem muitas variedades de capitalismo além daquela baseada na poupança externa imposta aos países que abriram sua conta de capital e continuam cronicamente vulneráveis em termos financeiros.8 8 Sobre o tema, ver, em particular, Bresser-Pereira (2004b). Uma demonstração desse fato são os dinâmicos países asiáticos que há décadas continuam a crescer rapidamente sem abrir suas contas de capital, mantendo suas taxas de câmbio sob controle, relativamente desvalorizadas, e combinando competição de mercado no âmbito externo com uma eficaz coordenação administrativa e de mercado da economia, no interno. Na verdade, o capitalismo do conhecimento é eficaz em proteger a taxa de lucro, porque sem ela a estabilidade e o crescimento não são possíveis, mas não fará isso desnecessariamente, destruindo algumas grandes conquistas institucionais, tais como o Estado de bem-estar social e a política macroeconômica. O Estado de bem-estar social garante estabilidade social e legitimidade política. As políticas econômicas complementam a coordenação da economia pelo mercado, de um lado defendendo a competição de mercado e corrigindo a alocação de recursos; de outro, suavizando o ciclo e estimulando o investimento e o crescimento.
Conclusão
Em conclusão, a previsão de Galbraith em 1967 de que o conhecimento estava substituindo o capital como o fator estratégico de produção foi corroborada pelos fatos. Essa mudança, juntamente com a substituição das empresas familiares pelas organizações como as unidades básicas de produção, deu origem a uma nova classe social a classe média profissional , caracterizada pela propriedade coletiva das organizações. No entanto, o surgimento da classe dos técnicos não implicou o aparecimento de um novo sistema social, nem envolveu a concentração de poder político nas mãos da nova classe. A economia continuou sendo controlada pelo mercado e orientada para o lucro, portanto, capitalista. No entanto, em vez do capitalismo clássico, o que temos é um capitalismo dos técnicos em que a nova classe divide simultaneamente renda e poder com os capitalistas, ao mesmo tempo em que disputa particularmente por poder. A tentativa da nova classe de implantar uma economia planificada teve êxito em obter poupança forçada e em promover ou consolidar a industrialização inicial, mas o arranjo puramente estatal fracassou na União Soviética. Por outro lado, a ascensão da democracia no século XX representou um importante freio às tendências autoritárias da nova classe e ao poder de ambas as classes, capitalista e classe média profissional. Hoje em dia, as modernas economias capitalistas são mistas, não apenas porque capitalistas e técnicos ou detentores do conhecimento dividem poder e renda, mas também porque a coordenação do sistema econômico não se baseia em um mercado forte e em um Estado mínimo, como sonhavam os neoliberais, nem em um Estado forte e um mercado fraco, como almejavam os estatistas. Ao contrário, é fundada em um mercado forte, porque competitivo e baseado numa classe capitalista empresarial, e num Estado forte, onde representantes eleitos e não eleitos da classe média profissional são capazes de organizar a ação coletiva de modo democrático e eficiente. Esse mercado nunca é tão competitivo, e o Estado nunca é tão eficiente e democrático quanto gostaríamos, mas são o bastante para manter em movimento o desenvolvimento econômico e político.
O capitalismo do conhecimento é parte do processo de desenvolvimento que as sociedades modernas estão vivendo desde a revolução capitalista. Esse processo econômico, social e político é complexo, contraditório, às vezes dispendioso, freqüentemente injusto, mas, de qualquer modo, avança. Apesar de todas as desvantagens, o capitalismo dos técnicos representou um avanço em relação ao capitalismo clássico ou liberal. Não apenas porque essa forma de capitalismo é mais eficiente do que a anterior, mas também porque é mais compatível com a democracia e com uma distribuição de renda mais igualitária. A razão essencial para isso provavelmente reside no fato de que o conhecimento é mais acessível às classes mais baixas do que o capital. Embora o conhecimento também possa ser "herdado" e, em momentos de progresso tecnológico, extremamente rápido, e ainda possa implicar concentração de renda como demonstraram os últimos trinta anos, é mais difícil para os ricos transferirem conhecimento a seus filhos do que capital. Com o capitalismo dos técnicos, a mobilidade social é maior e a igualdade de oportunidades é um objetivo menos utópico no capitalismo do conhecimento do que no capitalismo clássico. Sei que esta é uma visão otimista que não se mostrou verdadeira durante os últimos trinta anos em termos de distribuição de renda, uma vez que a oferta de pessoas dotadas de conhecimento foi inferior ao que exigiam os mercados, e os ordenados cresceram mais do que os salários. Mas a garantia de educação básica para todos e o enorme aumento de estudantes inscritos nas universidades sugerem que este otimismo de longo prazo não é desprovido de realismo.
Esta crença nas qualidades positivas das economias mistas, e a visão crítica da "opinião comumente aceita", expressão que John Galbraith criou, está presente na maior parte de seu trabalho, desde American capitalism: the concept of countervailing power (1957) e The affluent society (1958) até The good society (1996) e The economics of innocent fraud (2004). Ele sempre esteve mais interessado na empresa do que no Estado, no administrador de negócios do que no burocrata estatal, mas sempre deixou claro que a chave para compreender o capitalismo contemporâneo está na interação entre essas duas entidades e seus respectivos agentes. Além disso, está sempre pronto para apresentar uma visão inovadora. Em seu último livro, por exemplo, afirma: "Uma parte grande e cada vez maior do que é chamado de setor público está, para todos os efeitos práticos, no setor privado [ ]. O gasto com armas não ocorre após uma análise imparcial pelo setor público, como se pensa comumente" (Galbraith, 2004, p. 34).
Por ser uma classe social, a maior fraqueza da classe média profissional é a falta de um nítido engajamento político. Os interesses de seus membros são diversificados, suas associações dependem fortemente de para quem eles trabalham. Se falarmos de técnicos que trabalham para organizações privadas, eles estarão facilmente associados à classe capitalista. Se trabalharem para o Estado, quer como políticos, quer como servidores civis, ou para organizações públicas não estatais, poderão ser mais autônomos. Nos regimes democráticos, os membros da classe média profissional, em lugar de simplesmente se aliarem aos capitalistas, como muitas vezes fazem, ou de tentarem se tornar totalmente autônomos, como aconteceu na União Soviética, podem também se aliar aos trabalhadores e aos pobres ou ter uma atitude republicana em direção aos direitos básicos de cidadania e ao interesse público. Se esta tendência se confirmar, seu poder político continuará muito provavelmente a crescer no futuro às custas dos capitalistas, mas, em compensação, terão que compartilhá-lo com o povo.
Notas
BIBLIOGRAFIA
Artigo recebido em janeiro/2005
Aprovado em agosto/2005
Luiz Carlos Bresser-Pereira, doutor e livre docente em economia pela Universidade de São Paulo (USP), é professor, desde 1959, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), onde ensina teoria econômica e teoria política. Oferece um curso de um mês por ano na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). Edita desde 1981 a Revista de Economia Política. Ensinou ainda na Universidade de Paris I (1978) e no Departamento de Ciência Política da USP (2001-2002). Foi visitante associado da Universidade de Oxford (Nuffield College and St. Anthonys College) e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi presidente do Banespa e Secretário do Governo Montoro. Em 1987 tornou-se Ministro da Fazenda do governo Sarney. Em 1995 assumiu o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. No segundo mandato, foi, durante os primeiros seis meses, ministro da Ciência e Tecnologia. Entre seus livros destacam-se Desenvolvimento e crise no Brasil (1968, 2003), As revoluções utópicas dos anos 60 (1972), Estado e subdesenvolvimento industrializado (1977), O colapso de uma aliança de classes (1978), A sociedade estatal e a tecnoburocracia (1980), Inflação e recessão, com Yoshiaki Nakano (1984), Lucro, acumulação e crise (1986), A crise do Estado (1992), Economic reforms in new democracies, com Adam Przeworski e José Maria Maravall, (1993), Economic crisis and State reform in Brazil (1996), Reforma do Estado para a cidadania (1998), Democracy and public management reform: building the republican State (2004). E-mail: lcbresser@uol.com.br.
- AMSDEN, Alice H. (1989), Asias next giant. Oxford, Oxford University Press.
- BECKER, Gary S. (1962), "Investment in human capital: a theoretical analysis". Journal of Political Economy, "Investment in Human Beings", NBER Special Conference 15, out.
- _________. (1993), Human capital 3Ş ed. Berkeley, Chicago, The University of Chicago Press.
- BERLE, Adolf & Means, Gardiner. (1950 [1932]), The modern corporation and private property Nova York, McMillan.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. (1962), "Desenvolvimento econômico e o empresário". Revista de Administração de Empresas, 4: 79-91.
- _________. (1972 [1968]), "A revolução estudantil", in _________, Tecnoburocracia e contestação, Petrópolis, Vozes, pp. 141-208.
- _________. (1972 [1968]), "A emergência da tecnoburocracia" in _________, Tecnoburocracia e contestação, Petrópolis, Vozes, pp. 17-140.
- _________. (1977), "Notas introdutórias ao modo tecnoburocrático ou estatal de produção". Estudos CEBRAP, 21: 75-110 (trad. Francesa: "Notes dintroduction au mode de production technobureaucratique". LHomme et Société, 55-58: 61-89, 1980).
- _________. (1981a), A sociedade estatal e a tecnoburocracia São Paulo, Brasiliense.
- _________. (1981b), "Classes and social strata in contemporay capitalism". Disponível em www.bresserpereira.org.br
- _________. (2002), "Why democracy became the preferred regime only in the twentieth century?". Trabalho apresentado no III Congresso da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, Niterói, 29-31 jul. Disponível em www.bresserpereira.org.br
- _________. (2004a), Democracy and public management reform. Oxford, Oxford University Press.
- _________. (2004b), "BrazilÆs quasi-stagnation and the growth cum foreign savings strategy". International Journal of Political Economy, 32 (4): 76-102.
- CASTELLS, Manuel. (1996), The rise of the network society (Tomo I de The information age). Oxford, Blackwell Publishers.
- CHESNAIS, François. (1994), La mondialisation du capital Paris, Syros.
- _________. (1997), "A emergência de um regime de acumulação financeira". Praga û Estudos Marxistas, 3: 19-46.
- DOOLEY, Michael, FOLKERTS-LANDAU, David & GARBER, Peter. (2003), "An essay on the revived Breton woods system". Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, Working Paper 9971.
- DRUCKER, Peter. (1993), Post-capitalist society. Nova York, Harper Business.
- FRIEDMAN, Thomas. (2000), The lexus and the olive tree. 2Ş ed. Nova York, Random House.
- GALBRAITH, John Kenneth. (1957), American capitalism: the concept of countervailing power. 2Ş ed. Boston, Houghton Mifflin Company.
- _________. (1958), The affluent society. Boston, Houghton Mifflin Company.
- _________ (1996) The good society: the humane agenda. Nova York, Mariner Books.
- _________. (1979 [1967]), The new industrial State Nova York, Mentor Books.
- _________. (2004), The economics of innocent fraud. Boston, Houghton Mifflin Company.
- GRAMSCI, Antonio. (1971 [1934]) Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (orgs. Q. Hoare e G. Smith). Nova York, International Publishers.
- HILFERDING, Rudolf. (1963 [1910]), El capital financiero Madrid, Editorial Tecnos.
- SCHULTZ, Theodore W. (1961), "Investment in human capital". American Economic Review, 51 (1): 1-17.
- SCHUMPETER, Joseph A. (1961 [1911]), The development economics Oxford, Oxford University Press.
- _________. (1980), Investing in people Berkeley, University of California Press.
- WADE, Robert. (1990), Governing the market. Princeton, Princeton University Press.
- WARNER, William Lloyd. (1953), American life: dream and reality Chicago, University of Chicago Press.
- WORLD BANK. (1993), The Asian miracle Nova York, Oxford University Press.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
17 Abr 2007 -
Data do Fascículo
Out 2005
Histórico
-
Aceito
Ago 2005 -
Recebido
Jan 2005