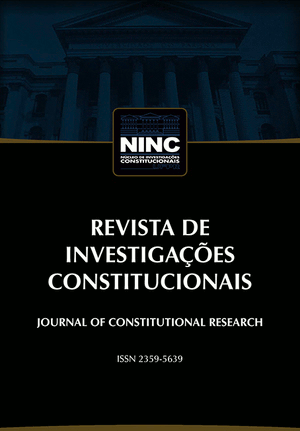Resumo
Utiliza-se a teoria da construção hierárquica do direito de Merkl para analisar e propor uma resposta à questão sobre o status hierárquico das leis complementares e ordinárias. Inicialmente as perspectivas tradicionais sobre o tema são apresentadas. Em seguida explica-se a teoria de Merkl sobre a estrutura hierárquica do direito. Por fim emprega-se a teoria de Merkl para tratar da questão sobre a hierarquia entre leis complementares e lei ordinárias.
Palavras-chave:
estrutura hierárquica das leis; lei complementar; lei ordinária; teoria da construção escalonada; Adolf Merkl
Abstract
Merkl’s theory of law’s hierarchical structure is utilized to analyze and propose an answer to the question of the hierarchical status of complementary statutes and ordinary statutes. Initially the traditional views on the subject are presented. Then Merkl’s theory of law’s hierarchical structure is explained. Finally, Merkl’s theory is employed in order to deal with the question about the hierarchical status of complementary statutes and ordinary statutes.
Keywords:
hierarchical structure of laws; complementary statutes; ordinary statutes; staggered construction theory; Adolf Merkl
1. INTRODUÇÃO
Um dos debates clássicos dentro do direito brasileiro é aquele sobre a eventual existência de uma relação hierárquica entre as espécies normativas lei complementar e lei ordinária. O presente texto almeja apresentar um modelo de argumento que permite tratar desse problema por meio do emprego de um elemento central da teoria do direito de Adolf Julius Merkl, sua teoria da construção escalonada do direito. Na primeira parte do artigo serão apresentados os principais argumentos oferecidos pela literatura a respeito da existência ou não de uma relação hierárquica de subordinação e superordenação entre lei ordinária e lei complementar. Posteriormente serão indicados os aspectos centrais da teoria da construção escalonada do direito de Merkl. Na terceira parte as ideias de Merkl sobre o tema serão empregadas para responder à questão sobre se no direito brasileiro lei complementar e lei ordinária se encontram ou não no mesmo patamar hierárquico. Por meio do desenvolvimento dessas etapas pretende-se ao final justificar uma conclusão obtida por meio da aplicação da teoria de Merkl, conforme a qual no ordenamento jurídico brasileiro lei complementar e lei ordinária se encontram em duas espécies de relações hierárquicas: tendo em vista a construção escalonada do direito que disciplina o poder de criar normas as duas espécies de normas estão no mesmo patamar hierárquico, tendo em conta a construção escalonada do direito que disciplina o poder de derrogar normas as leis ordinárias são em certas circunstâncias hierarquicamente inferiores às leis complementares.
2. AS POSIÇÕES DA DOUTRINA NACIONAL SOBRE O PROBLEMA DA HIERARQUIA ENTRE LEI COMPLEMENTAR E LEI ORDINÁRIA
Não existe unanimidade na doutrina nacional a respeito da questão da hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Esse tema sempre atraiu atenção significativa dos doutrinadores pátrios e já gerou acaloradas discussões sobre o tema. Um primeiro passo a fim de tratar dessa matéria consiste em apresentar quais são as correntes teóricas a respeito da questão da hierarquia, assim como os argumentos oferecidos para embasar cada um dos entendimentos sustentados.
Pode-se encontrar na literatura três correntes teóricas sobre o tema da hierarquia entre lei ordinária e lei complementar1 1 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Segurança jurídica e lei complementar. Nomos: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, n. 1, 2008, p. 180. CARVALHO, Rogério A. Fernandes de. A Consequência Jurídica do Conflito Normativo entre a Lei Ordinária e a Lei Complementar Tributária. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 4, n. 7, 2005, p. 440. : a) sempre existe hierarquia entre as duas espécies de norma; b) nunca existe hierarquia entre as duas espécies de norma; c) haverá hierarquia entre as duas espécies de normas em certas circunstâncias. Logo abaixo são apresentados os argumentos vinculados a essas três correntes.
a) O argumento central a favor da ideia de que exista uma diferença hierárquica (uma relação de superordenação e subordinação) entre lei complementar e lei ordinária consiste em apontar que a aprovação de um projeto de lei complementar envolve requisitos mais exigentes do que aqueles exigidos para a aprovação de um projeto de lei ordinária. As leis complementares, ao contrário das leis ordinárias, exigem um quorum qualificado, a maioria absoluta dos votos nas duas Casas do Congresso, e por este motivo, conforme certos autores, as leis complementares seriam hierarquicamente superiores às leis ordinárias.2 2 Outro argumento, significativamente menos convincente, com respeito à existência de uma diferença hierárquica entre lei complementar e lei ordinária é o denominado “argumento topográfico”. Conforme esse argumento, a forma como o art. 59 da Constituição Federal foi elaborado poderia ser vista como uma indicação de que leis complementares seriam hierarquicamente superiores às leis complementares, pois o inciso I refere a elaboração de emendas à Constituição, o inciso II refere a elaboração de leis complementares e o inciso III refere a elaboração de leis ordinárias. Uma vez que emendas à Constituição claramente são superiores às leis complementares e ordinárias, assim segue o raciocínio, deve-se concluir que a ordem de apresentação das espécies de normas que podem ser criadas refletiria uma relação hierárquica entre todas as espécies normativas. Cf. BORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 19. SCHMIDT, Felipe. Lei complementar e lei ordinária: os problemas da hierarquia e da revogação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, Franca, v. 13, n. 2, 2018, p. 103-105. É nesse sentido que argumenta, por exemplo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
É de se sustentar, portanto, que a lei complementar é um tertium genus interposto, na hierarquia dos atos normativos, entre a lei ordinária [...] e a Constituição (e suas emendas). [...] A lei complementar só pode ser aprovada por maioria qualificada, a maioria absoluta, para que não seja, nunca, o fruto da vontade de uma minoria ocasionalmente em condições de fazer prevalecer sua voz. Essa maioria é assim um sinal certo da maior ponderação que o constituinte quis ver associada ao seu estabelecimento. 3 3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270. No mesmo sentido, cf. MACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 154-155 e 237.
Refletindo a respeito desse argumento cumpre apontar que o maior grau de dificuldade para a aprovação de uma espécie normativa, em relação à outra espécie, pode (sob certas condições) ser empregado como critério para a afirmação de que existe uma diferença hierárquica entre as duas espécies de normas. O grau de dificuldade para a aprovação pode ser um critério hierarquizante, porém não precisa ser adotado como tal. Ele é um critério possível, porém não é um critério juridicamente estabelecido, visto que no ordenamento jurídico pátrio não existe qualquer norma que afirme que uma espécie normativa deve ser observada como hierarquicamente superior a outra, pois comparativamente a primeira espécie normativa envolve um grau maior de dificuldade para sua aprovação.
Se por um lado é verdade que o constituinte pretendia algo ao estabelecer um procedimento mais rigoroso para a aprovação de determinadas espécies de normas, isto por si só não justifica de forma necessária a afirmação de que tal espécie normativa é hierarquicamente superior a alguma outra espécie normativa. Essa afirmação de uma diferença hierárquica apenas é possível após a realização de uma petição de princípio, após ter-se (sem justificativa jurídica, sem base em norma jurídica) aceito que o grau de dificuldade quanto à aprovação das normas é um critério relevante para estabelecer a hierarquia entre tais normas. É possível referir esse raciocínio do grau de dificuldade ao argumentar em favor da ideia de uma hierarquia das normas jurídicas, porém tal raciocínio não torna obrigatória a conclusão de que se uma espécie normativa é mais difícil de ser aprovada do que a outra, esta primeira espécie normativa deve (juridicamente) necessariamente ser considerada hierarquicamente superior à outra.
Além disso, o critério do grau de dificuldade também gera problemas práticos, os quais podem ser ilustrados por meio de três questões. O número de votos exigidos para aprovar uma lei estadual é maior do que o número de votos exigidos para que uma medida provisória seja aprovada. Isso significa que leis estaduais são hierarquicamente superiores às medidas provisórias? Duas leis complementares foram aprovadas, sendo que uma foi aprovada pelo número mínimo de votos necessários, ao passo que a outra foi aprovada de forma unânime. Isso significa que uma dessas leis é hierarquicamente superior à outra? E se a lei aprovada de forma unânime era uma lei ordinária, ela será superior ou inferior à lei complementar que foi aprovada pelo número mínimo de votos exigido para sua aprovação?
Por fim cumpre referir dois outros argumentos em favor dessa hipótese, ambos defendidos por Hugo de Brito Machado.
O principal argumento de Machado em favor da diferença hierárquica entre lei complementar e ordinária envolve o enfrentamento da questão de ser possível disciplinar por meio de lei complementar uma matéria, a qual a Constituição não estabeleceu que deveria ser tratada por lei complementar. O elemento central do argumento de Machado em favor dessa possibilidade envolve a afirmação de que seria um “equívoco [...] considerar que (a) só é exigível lei complementar para o trato das matérias constitucionalmente a elas reservadas e (b) só é cabível lei complementar para o trato de matérias constitucionalmente a ela reservadas” seriam expressões sinônimas, pois segundo o referido autor “tais afirmações dizem coisas inteiramente diferentes”.4 4 MACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 139.
Machado afirma que o fato de a Constituição não referir a necessidade de lei complementar para disciplinar certas matérias não deve ser compreendido como uma vedação, mas sim como mera oferta de possibilidades ao legislador. Nos casos em que a Constituição não demanda lei complementar, mas apenas lei, argumenta o autor, ela pretende deixar ao legislador a escolha sobre qual espécie normativa será empregada. Machado rejeita uma crítica elaborada por parte da doutrina argumentando da seguinte maneira:
Os defensores da tese de que somente se qualifica como lei complementar aquela que trata das meterias [sic] constitucionalmente reservadas a essa espécie normativa argumentam, ainda, com a impossibilidade de ampliação da reserva constitucional. Dizem que a lei complementar não pode ampliar as matérias a ela reservadas. [...] Ocorre que a lei complementar, ao tratar de matérias não reservadas a essa espécie normativa, em nada altera a Constituição Federal. As matérias reservadas à lei complementar continuam sendo as mesmas, sem qualquer ampliação. Ocorre é que a Constituição não contém reserva de lei ordinária, que tem para seu trato um campo residual. Assim, nada impede que a lei complementar trate de matéria que não esteja a ela reservada, entrando, assim, no campo residual da lei ordinária. E, quando isto ocorre, a matéria que estava no campo residual e foi tratada por lei complementar ganha realmente a rigidez própria dessa espécie normativa não porque a Constituição tenha sido alterada, mas porque a lei complementar é uma espécie hierarquicamente superior à lei ordinária. 5 5 MACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 155-156.
O ponto central do argumento de Machado em favor da possibilidade de lei complementar tratar de matéria não reservada pela Constituição à lei complementar é a afirmação de que a inexistência, na Constituição, de uma vedação expressa de tal situação deve ser interpretada como uma autorização implícita. Nesse sentido ele também afirma que “se o constituinte tivesse pretendido que a lei complementar não tratasse de matérias outras, limitando-se àquelas reservadas a essa espécie normativa, deveria tê-lo dito, e não o fez”.6 6 MACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 108.
Machado pretende afirmar que a inexistência de uma vedação expressa corresponde à existência de uma autorização implícita, razão pela qual não se estaria ampliando a reserva constitucional de matérias que podem ser disciplinadas por lei complementar. Curiosamente, ele também admite que caso uma lei complementar trate de matéria que conforme a Constituição poderia ser tratada por meio de lei ordinária, então “a matéria que estava no campo residual e foi tratada por lei complementar ganha realmente a rigidez própria dessa espécie normativa”.7 7 MACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 156. Essa conclusão indica o grande problema com respeito à tese de que a inexistência de vedação expressa deveria ser compreendida como a presença de uma autorização implícita. Esse problema se torna visível quando se descreve uma situação hipotética: (1) A Constituição afirma que certa matéria M pode ser tratada por lei ordinária. (2) Conforme a Constituição, a matéria tratada por lei complementar não pode ser modificada por lei ordinária. (3) A matéria M foi tratada por lei complementar. (4) Logo, a matéria M não pode ser tratada por lei ordinária.
Em síntese, a hipótese defendida por Machado, a ideia de que não existiria na Constituição um rol exaustivo de matérias que podem ser tratadas por lei complementar, conduz à conclusão de que a Constituição contém prescrições contraditórias, visto que por um lado ela afirma que certa matéria pode ser tratada por lei ordinária (afirmação 1), mas por outro ela também afirma que esta mesma matéria não pode ser tratada por lei ordinária (afirmação 4). Por reductio ad absurdum percebe-se que não é possível tratar a ausência de uma estipulação expressa afirmando a existência de uma vedação como correspondendo à existência de uma autorização implícita. A leitura do texto constitucional que se compromete com a busca da identificação de um conjunto consistente de normas jurídicas, um conjunto de normas que não se contradizem direta ou indiretamente (tal como ocorre quando se admite a hipótese defendida por Machado), precisa admitir que existe a necessidade de interpretar o fato de a Constituição não referir a necessidade de lei complementar para disciplinar certas matérias como correspondendo a uma vedação. A fim de preservar o conjunto de sentido das normas constitucionais é preciso entender que a Constituição, de forma indireta, estabeleceu que apenas se pode tratar por meio de lei complementar daquelas matérias expressamente referidas pela Constituição.
O outro argumento do referido autor consiste em apontar que caso exista a possibilidade de uma lei complementar ser tratada como se fosse lei ordinária, por ter ela tratado de matéria não reservada a lei complementar, então existiria grande insegurança jurídica com respeito à natureza das normas contidas em leis complementares, pois poderia existir dúvida sobre se estas normas de fato estavam tratando de matéria reservada a lei complementar, de tal modo que elas deveriam ser tratadas como possuindo este status, ou se elas estariam tratando de matéria não reservada a lei complementar, e, portanto, teriam de ser tratadas como se fossem normas previstas em lei ordinária. Caso se considere lei complementar toda lei formalmente aprovada conforme o requisito de quorum estabelecido na Constituição, argumenta Machado, sempre haverá segurança com respeito ao status das normas de tais leis: “é inaceitável a tese segundo a qual a qualificação da lei complementar depende da matéria da qual se ocupe, porque a mesma instaura grave insegurança jurídica”.8 8 MACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 238. No mesmo sentido, cf. p. 120-121.
Contra esse último argumento pode-se apontar que se por um lado é verdade que a segurança jurídica é um valor afirmado pela Constituição, por outro tal valor não pode ser visto como o valor supremo do direito brasileiro. E se de fato é assim, então o fato de que pode existir dúvida com respeito ao status de uma norma, sobre se tal norma deve ser tratada como possuindo a natureza de lei complementar ou ordinária, não deve ser considerado razão suficiente para deixar de levar em conta o fato de que a lei complementar disciplinou matéria que não deveria ser disciplinada por lei complementar, mas sim por lei ordinária.
b) O argumento no sentido de que nunca existe hierarquia entre as duas espécies de norma se apoia, por um lado, na rejeição da teoria de que um processo de aprovação mais rigoroso justificaria a afirmação da superioridade hierárquica, e, por outro, na análise do fundamento da validade das leis ordinárias e das leis complementares.
Celso Ribeiro Bastos pode ser visto como um dos grandes defensores dessa posição. Quanto à rejeição da hipótese de que um processo legislativo mais rigoroso justificaria a diferenciação hierárquica ele afirma que não se deve confundir a exigência de maior ponderação estabelecida pelo constituinte ao serem elaboradas normas sobre determinados temas, com a afirmação (distinta desta exigência) de que existiria uma diferença hierárquica entre as duas espécies de normas.9 9 Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Lei Complementar. Teoria e Comentários. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 25.
Com relação a esse argumento, chega-se no final a um impasse: ou se adota o critério da positividade e se aceita o argumento que rejeita a possibilidade de hierarquizar as espécies normativas, pois o ordenamento não estabeleceu que o status hierárquico das diversas espécies de normas será determinado em virtude dos requisitos estabelecidos para a aprovação das mesmas, ou se interpreta a presença de diferentes requisitos para a aprovação das diferentes espécies de normas, o fato de que a aprovação de algumas normas é (ao menos formalmente) mais difícil do que de outras, como fundamento para afirmar certo télos subjacente a tais requisitos, a meta de estabelecer uma hierarquia entre as diferentes espécies normativas.
O outro argumento contra a existência de uma hierarquia entre lei ordinária e lei complementar opera por meio de uma reflexão sobre o fundamento de validade de cada uma das espécies normativas, assim como sobre o fundamento da afirmação de que existe ou não uma relação hierárquica de superordenação e subordinação entre duas espécies normativas. Precisamente nesse sentido escreve Michel Temer:
Hierarquia, para o Direito, é a circunstância de uma norma encontrar sua nascente, sua fonte geradora, seu ser, seu engate lógico, seu fundamento de validade, numa norma superior. A lei é hierarquicamente inferior à Constituição porque encontra nesta o seu fundamento de validade. Aliás, podemos falar nesse instrumento chamado lei, porque a Constituição o cria. [...] Pois bem, se hierarquia assim se conceitua, é preciso indagar: lei ordinária, por acaso, encontra seu fundamento de validade, seu engate lógico, sua razão de ser, sua fonte geradora, na lei complementar? Absolutamente, não! A leitura do art. 59, III, indica que as leis ordinárias encontram seu fundamento de validade, seu ser, no próprio Texto Constitucional, tal qual as leis complementares que encontram seu engate lógico na Constituição. Portanto, não há hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. 10 10 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 148-149. No mesmo sentido, cf MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 750. SILVA, Virgílio Afonso da. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021, p. 533. Os elementos centrais do raciocínio de Temer já haviam sido referidos por Borges, quem, porém, defende outra posição quanto à questão da hierarquia, tal como será apontado ao se tratar da terceira posição sobre o tema. Cf. BORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 56.
Em síntese, Temer afirma o seguinte: visto que tanto as leis complementares quanto as leis ordinárias são válidas em virtude de normas constitucionais, ou seja, são válidas, pois são o produto da aplicação de normas constitucionais que regulam como serão criadas leis ordinárias e leis complementares, não existe razão para afirmar que uma destas espécies de lei é hierarquicamente superior à outra.
Por ora cumpre apenas demarcar esse que é o argumento central daqueles que rejeitam a diferença hierárquica entre lei complementar e lei ordinária. Esse argumento será retomado na próxima seção, quando então será explicado sob qual perspectiva ele se mostra correto (a saber, à luz da denominada construção escalonada conforme as condições de validade), assim como por quais motivos ele não pode ser aceito de forma irrestrita.
c) A terceira posição sobre o tema afirma que existe uma distinção hierárquica entre as duas espécies de normas em certas circunstâncias, porém não em todas as circunstâncias. Dentro da literatura especializada é possível identificar dois argumentos distintos que apoiam essa posição.
c.1) Um argumento em favor da diferenciação hierárquica em certas circunstâncias envolve a afirmação de que uma lei ordinária seria hierarquicamente inferior a uma lei complementar, porém apenas naquelas situações em que a existência da lei ordinária em questão estivesse condicionada à prévia existência de uma lei complementar, a qual ofereceria o fundamento jurídico para a criação da lei ordinária. Assim, e seguindo um argumento estruturalmente semelhante àquele anteriormente referido e que foi defendido por Michel Temer, se uma lei ordinária foi criada por meio da aplicação de uma lei complementar e tal lei apenas poderia ser criada sob tais condições, então tal lei ordinária seria hierarquicamente inferior à lei complementar. Por outro lado, aquelas leis ordinárias que podem ser criadas sem a necessidade de se basear nos parâmetros e conteúdos estabelecidos em lei complementar prévia estariam no mesmo patamar hierárquico que as leis complementares.
Essa concepção é defendida por Borges quando ele afirma que existem “dois grupos básicos de leis complementares: 1º) leis complementares que fundamentam a validade de atos normativos (leis ordinárias, decretos legislativos e convênios); 2º) leis complementares que não fundamentam a validade de outros atos normativos”.11 11 BORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 83. Conforme Borges, um exemplo de lei complementar que não fundamenta a validade de outro ato normativo pode ser encontrado no texto do art. 79, parágrafo único, da Constituição Federal: “O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais”.12 12 Borges refere um dispositivo quase idêntico a esse, o qual estava presente no § 2º do art. 77 da Constituição de 1967, alterada pela Emenda Constitucional 1 de 1969. Cf. BORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 88-89. Em uma situação como essa, seguindo o raciocínio do referido autor, a lei complementar que vier a ser criada não será um meio para a criação de outras normas gerais, não será aplicada para que seja criada, por exemplo, uma lei ordinária. Ao contrário, tal lei cumprirá a função de indicar atribuições ao Vice-Presidente.
Ainda buscando ilustrar o argumento de Borges pode-se elaborar o seguinte exemplo de lei complementar que (conforme a posição deste autor) fundamenta e condiciona a validade, a criação válida de outra espécie normativa. O art. 146 da Constituição Federal afirma o seguinte: “Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies”. Esse dispositivo foi pertinente, por exemplo, para elaborar a Lei Complementar nº 70/1991, a qual institui uma espécie de tributo, a denominada contribuição social para financiamento da seguridade social (COFINS). Essa lei complementar, por sua vez, foi pertinente (e, conforme Borges, foi aplicada, serviu de base) para a elaboração da Lei Ordinária nº 9.718/1998.
Assim, conforme o argumento de Borges uma norma como a do art. 8º da referida lei ordinária, a qual estabelece que “[f]ica elevada para três por cento a alíquota da COFINS”, é uma norma válida, pois a lei ordinária que a estabelece foi criada graças à aplicação de uma lei complementar, a qual instituiu a COFINS e teria tornado possível, posteriormente, a regulação da alíquota em questão por meio de lei ordinária. Conforme Borges, tendo em vista o disposto no art. 146, III, a, da Constituição Federal, caso não existisse a lei complementar que instituiu a COFINS, então não seria possível regular aspectos desta contribuição por meio de lei ordinária, a qual (segundo o autor) apenas poderia tratar desta matéria quando lei complementar prévia houvesse instituído a contribuição em questão.
O problema com o argumento de Borges, o argumento sobre a relativa inferioridade hierárquica da lei ordinária em relação à lei complementar, consiste na suposição de que uma lei ordinária, a qual trata validamente de certos aspectos de uma matéria que precisa ter certos outros aspectos tratados por lei complementar - seguindo com o exemplo, a lei ordinária trata validamente de um aspecto da matéria tributação ao determinar qual será a alíquota de uma contribuição, ao passo que a lei complementar trata validamente de outro aspecto, ela institui uma espécie de contribuição -, possui sua existência condicionada à existência da lei complementar pertinente.
Esse problema do argumento de Borges pode ser notado quando se reflete a respeito da seguinte situação hipotética: imagine-se que a Lei Complementar nº 70/1991 nunca existiu e que a Lei Ordinária nº 9.718/1998 foi promulgada, afirmando seu art. 8º que a alíquota do COFINS será de três por cento. A lei ordinária em questão foi elaborada e aprovada com observância absoluta dos requisitos para a aprovação de leis ordinárias. Ela não é inconstitucional e ela não contraria qualquer norma infraconstitucional. Por qual motivo seria possível afirmar que tal lei não é válida? Ela é válida. Caso não exista uma lei complementar que institua a COFINS a lei ordinária em questão não é aplicável, ela não é eficaz.13 13 Em uma situação como essa se verifica um problema com respeito à eficácia técnica da lei em questão. Sobre essa espécie de eficácia das normas jurídicas Tercio Sampaio Ferraz Jr. comenta: “Uma norma também se diz eficaz quando estão presentes certos requisitos técnicos. A dogmática supõe, nesse caso, a necessidade de enlaces entre diversas normas, sem os quais a norma não pode produzir efeitos. Por exemplo, a norma prescreve que crimes hediondos serão inafiançáveis, mas transfere para outra norma a definição de hediondo. Enquanto esta não existir, a primeira não poderá produzir efeitos. Fala-se, então de eficácia ou ineficácia técnica. [...] A eficácia, no sentido técnico, tem a ver com a aplicabilidade das normas como uma aptidão mais ou menos extensa para produzir efeitos.” FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 2019, p. 161. Contudo, a ineficácia de uma lei não é sinônimo da sua invalidade, assim como a eficácia de uma lei não é requisito para que uma lei seja válida no ordenamento jurídico brasileiro. Logo, não é correto afirmar que uma lei ordinária apenas pode ser válida caso exista lei complementar que satisfaça as condições necessárias para a eficácia técnica desta lei, tal como seria o caso, por exemplo, seguindo o argumento de Borges, quanto à necessidade de uma lei complementar que institua a COFINS. Caso não se modifique completamente o critério para a afirmação de relações hierárquicas, caso não se passe a empregar a eficácia concreta das normas como critério hierárquico, não é possível afirmar que certas leis complementares são hierarquicamente superiores a certas leis ordinárias, tal como defendido por Borges.
c.2) O outro argumento em favor da diferenciação (e relativa superioridade hierárquica) das leis complementares em relação às leis ordinárias trata de um aspecto distinto desta espécie normativa. Nesse caso, leva-se em consideração se a lei complementar elaborada foi o produto da aplicação de uma norma constitucional que estabeleceu que determinada matéria deve ser disciplinada por meio de lei complementar, ou se tal lei complementar foi elaborada para tratar de uma matéria que poderia ter sido tratada através de lei ordinária. Conforme essa posição, a diferença hierárquica existiria apenas quando a lei complementar fosse elaborada para aplicar norma constitucional que havia estipulado a necessidade de regulação por meio de lei complementar.
No contexto dessa diferenciação aborda-se a questão de a lei complementar tratar de matéria reservada a lei complementar ou de matéria que pode ser tratada por meio de lei ordinária. Conforme sustentado tanto por parte da doutrina14 14 Cf. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Processo Legislativo. Niterói: Impetus, 2003, p. 199-200. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 189-190. , quanto pela jurisprudência do STF (tal como citado logo abaixo), apenas devem ser tratadas de fato como leis complementares aquelas leis que disciplinam matéria reservada a lei complementar. As principais considerações sobre essa corrente teórica podem ser encontradas no seguinte trecho de um voto do Ministro Moreira Alves:
[...] essa contribuição poderia ser instituída por Lei ordinária. A circunstância de ter sido instituída por lei formalmente complementar - a Lei Complementar n. 70/91 - não lhe dá, evidentemente, a natureza de contribuição social nova, a que se aplicaria o disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição, porquanto essa lei, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída - que são o objeto desta ação -, é materialmente ordinária, por não tratar, nesse particular, de matéria reservada, por texto expresso da Constituição, à Lei complementar. A jurisprudência desta Corte [...] se firmou no sentido de que só se exige lei complementar para as matérias para cuja disciplina a Constituição expressamente faz tal exigência, e, se porventura a matéria, disciplinada por lei cujo processo legislativo observado tenha sido o da lei complementar, não seja daquelas para que a Carta Magna exige essa modalidade legislativa, os dispositivos que tratam dela se têm como dispositivos de lei ordinária. 15 15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Constitucionalidade no 1. Voto do relator, Min. Moreira Alves. Ação julgada em 01/12/93, p. 123-124. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=881>. Acesso em: 12 abr. 2022.
Quanto a esse argumento a respeito da diferenciação hierárquica, por ora (o tema será retomado na terceira seção) cabe referir que caso se adote a premissa de que leis complementares são superiores às leis ordinárias naquelas situações em que as segundas têm sua validade condicionada pelas primeiras, então, na medida em que uma lei complementar não cumpre tal função, pois a mesma matéria poderia ser tratada por lei ordinária que independe de lei complementar para sua validade, deve-se reconhecer que de fato a lei complementar que trata de matéria que pode ser disciplinada por lei ordinária não é hierarquicamente superior às leis ordinárias.
Nesse contexto é pertinente referir a posição de Ataliba a respeito da situação inversa, da situação em que se pretende disciplinar por meio de lei ordinária uma matéria que a Constituição estabeleceu que deve ser tratada por meio de lei complementar:
Consiste a superioridade formal da lei complementar - como em geral das normas jurídicas eminentes, em relação às que lhe são inferiores - na impossibilidade jurídica de a lei ordinária alterá-la ou revogá-la. Nula é, pois, a parte desta que contravenha disposição daquela. Inversamente, a lei complementar revoga e altera a ordinária, impondo em outros casos absoluto afeiçoamento desta àquela, pelo menos quanto ao espírito. 16 16 ATALIBA, Geraldo. Lei Complementar na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969, p. 29. No mesmo sentido, cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 247. Essa posição da doutrina encontra-se confirmada pelo STF. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 556.664-1/RS. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12/06/2008, p. 1886. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561617>. Acesso em: 12 abr. 2022.
Considerando o que foi acima afirmado pode-se sintetizar a questão da possibilidade de uma lei ordinária revogar uma lei complementar, assim como a questão da alternativa inversa, por meio das seguintes observações: a) uma lei ordinária nunca possui capacidade jurídica para revogar uma lei complementar que foi criada dentro dos parâmetros (formais e materiais, respectivamente, os parâmetros do quorum e da matéria disciplinada) estabelecidos pela Constituição para a criação de lei complementar; b) uma lei complementar que invadir a esfera previamente disciplinada por lei ordinária possui a capacidade de revogar esta lei, porém apenas graças ao disposto no art. 2º, § 1º, da LINDB (lex posterior derogat legi priori), e não em virtude de ser uma lei complementar, visto que em tal circunstância a lei complementar deve ser tratada como se fosse lei ordinária; c) caso uma lei complementar trate em algumas de suas normas de matéria para a qual a Constituição demandou lei complementar, e trate em outras de suas normas de matéria que pode ser disciplinada por lei ordinária, este segundo conjunto de normas da lei complementar pode ser revogado através de lei ordinária, ele será tratado como se houvesse sido estabelecido por lei ordinária.
Em síntese, conforme essa corrente doutrinária em certas circunstâncias a lei complementar será hierarquicamente superior à lei ordinária, pois imporá limites às leis ordinárias que tratam de certas matérias.
3. A TEORIA DA CONSTRUÇÃO ESCALONADA DO DIREITO DE MERKL E O PROCESSO DE HIERARQUIZAÇÃO DAS NORMAS
Ao analisar a questão da hierarquia entre lei ordinária e lei complementar alguns autores costumam referir a teoria da construção escalonada do direito de Hans Kelsen.17 17 Exemplificativamente, cf. BORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 82. FERREIRA, Luiz Pinto. Lei Complementar - I. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 48. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 497. Cumpre também destacar que Luiz Pinto Ferreira refere o nome de Merkl, porém não faz qualquer menção à teoria de Merkl das várias construções escalonadas do direito ou à obra em que esta teoria é apresentada, os Prolegômenos para uma teoria da construção escalonada do direito. Cf. FERREIRA, Luiz Pinto. Ibid., loc. cit. Entretanto, conforme se pretende argumentar a seguir, o mais adequado para tratar do tema analisado neste artigo não é recorrer à versão dada por Kelsen à teoria da construção escalonada do direito18 18 Cf. KELSEN, Hans. Reine Rechtslehre. 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, p. 396. Kelsen comenta que “a teoria da construção escalonada de Merkl tornou-se uma parte essencial da teoria pura do direito que defendo [Kelsen], e por isso se deve ver Adolf Merkl como um de seus cofundadores”. KELSEN, Hans. Adolf Merkl zu seinem siebzigsten Geburtstag am 23. März 1960. Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Viena, Band X, 1960, p. 313. Esse e todos os textos em que não é indicado o tradutor constituem traduções originais. , mas sim à versão original desta teoria, de autoria de Adolf Julius Merkl.19 19 Sobre a teoria da construção escalonada do direito de Merkl podem ser referidas as seguintes obras: BEHREND, Jürgen. Untersuchungen zur Stufenbaulehre Adolf Merkls und Hans Kelsens. Berlin: Duncker & Humblot, 1977. BONGIOVANNI, Giorgio. Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello stato. H. Kelsen e la constituzione austríaca del 1920. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1998, p. 91-120. BOROWSKI, Martin. Die Lehre vom Stufenbau des Rechts nach Adolf Julius Merkl. In: PAULSON, Stanley L.; STOLLEIS, Michael (Hrsg.). Hans Kelsen. Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, p. 122-159. DIAS, Gabriel Nogueira. Positivismo jurídico e a teoria geral do direito: na obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 197-214. GRAGL, Paul. Legal Monism. Law, Philosophy, and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 78-99. JESTAEDT, Matthias. Grundrechtsentfaltung im Gesetz. Studien zur Interdependenz von Grundrechtsdogmatik und Rechtsgewinnungstheorie. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, p. 298-320. MAYER, Heinz. Die Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: WALTER, Robert (Hrsg.). Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre. Wien: Manz, 1992, pp. 37-46. ÖHLINGER, Theo. Der Stufenbau der Rechtsordnung. Rechtstheoretische und ideologische Aspekte. Wien: Manz, 1975. PAULSON, Stanley L. How Merkl’s Stufenbaulehre Informs Kelsen’s Concept of Law. Revus, [s.l.], n. 21, 2013, pp. 29-45; PAULSON, Stanley L. Zur Stufenbaulehre Merkls in ihrer Bedeutung fur die Allgemeine Rechtslehre. In: WALTER, Robert (Hrsg.) Adolf J. Merkl. Werk und Wirksamkeit. Wien: Manz, 1990, pp. 93-105. SCHILLING, Theodor. Rang und Geltung von Normen in gestuften Rechtsordnungen. Berlin: Berlin-Verlag Spitz, 1994, p. 401-422. SILVA, Matheus Pelegrino da. Kelsens Theorie der Rechtserkenntnis. Zugleich eine kritische Betrachtung der Positivität als Eigenschaft des Rechts. Berlin: Duncker & Humblot, 2019, p. 101-122. WALTER, Robert. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974. WIEDERIN, Ewald. Die Stufenbaulehre Adolf Julius Merkls. In: GRILLER, Stefan; RILL, Heinz-Peter (Hrsg.). Rechtstheorie: Rechtsbegriff-Dynamik-Auslegung. Wien: Springer, 2011, p. 81-134.
Com sua teoria da construção escalonada do direito Merkl busca apontar uma propriedade que costuma ser identificada quando se analisa os ordenamentos jurídicos, o fato de que em regra os ordenamentos se encontram configurados com o formato de uma construção escalonada, sendo que isto ocorre ainda que a “construção escalonada do direito” não seja “algo imanente ao direito, algo que o estabelecimento do direito sempre precise aceitar, mas sim [...] um produto arbitrário do ordenamento jurídico, [algo] capaz de modificação”.20 20 MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos para uma teoria da construção escalonada do direito. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018, p. 299. Para a versão em alemão desse texto: MERKL, Adolf Julius. Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993, p. 482. A partir de agora esses textos serão referidos, respectivamente, com os termos Prolegômenos e Prolegomena, seguidas das páginas correspondentes.
No pensamento de Merkl a teoria da construção escalonada do direito opera como a via para explicar de que forma ocorre o processo de criação e aplicação do direito. Esse processo, observa Merkl, indica que em regra as normas podem ser observadas como possuindo uma face dupla, eis que uma mesma norma pode ser vista tanto como o resultado da criação do direito, do direito que foi criado através de tal norma, quanto como o resultado da aplicação do direito, da aplicação daquelas normas jurídicas que regulam como outras normas serão criadas.21 21 Cf. MERKL, Adolf Julius. “O direito à luz de sua aplicação”. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018, p. 154. Para a versão em alemão desse texto: Id. “Das Recht im Lichte seiner Anwendung”. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993, p. 234. Quando esse processo de criação e aplicação do direito ocorre, quando essa “autocriação (escalonada) do direito”22 22 MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 293; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 475. tem lugar, também se observa que o processo opera a partir de certas áreas de criação possível do direito, as quais possuem extensões distintas. É precisamente isso o que justifica que se refira ao ordenamento jurídico por meio da figura de uma construção escalonada, uma construção com patamares de diferentes extensões, tal como uma “pirâmide”.23 23 MERKL, Adolf Julius. O direito à luz de sua aplicação. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018, p. 149. Para a versão em alemão desse texto: MERKL, Adolf Julius.Das Recht im Lichte seiner Anwendung. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993, p. 228.
Pode-se ilustrar essas ideias da construção escalonada e da face dupla das normas através do seguinte exemplo: o Código Penal é criado a partir de uma autorização prevista na Constituição para a criação do Código Penal. Quando certa norma sobre a punição de determinado delito é criada e incluída no Código Penal, o legislador aplica uma norma constitucional que permitia a ele estabelecer tipos penais e suas penas, ao mesmo tempo em que ele cria uma nova norma. Assim, a norma criada possui uma face dupla, pois ela pode ser observada como o produto da criação do direito, da criação do novo tipo penal, mas também como o produto da aplicação do direito, das normas constitucionais aplicadas quando se criou o tipo penal em questão. Antes da criação dessa nova norma existia hipoteticamente, em potência, uma pluralidade maior de penas possíveis para uma determinada conduta (uma área mais ampla à disposição do legislador infraconstitucional), agora existe de fato apenas uma pequena margem sobre o tema, aquela prevista no Código Penal, aquele intervalo de penas indicado, por exemplo, na previsão de uma pena de reclusão de um a três anos.
Dessa forma, uma sentença que condena um indivíduo pela prática dessa conduta tipificada não tem que levar em conta apenas a previsão genérica, contida na Constituição, de que o legislador pode criar tipos penais e estabelecer penas, mas também aqueles limites estabelecidos no tipo penal de fato criado. Essa última margem é significativamente menor do que aquela dada ao legislador para regular condutas por meio de normas penais, e é por este motivo que se fala em uma construção escalonada do direito, pois as normas de um patamar normativo (p. ex., as normas da Constituição Federal) oferecem um espaço de manobra que será maior do que o oferecido pelas normas do patamar normativo subsequente (p. ex., as normas do Código Penal). Com outras palavras, o espaço de manobra possível atribuído ao legislador é significativamente maior do que o espaço de manobra oferecido ao juiz. O legislador pode criar novos tipos penais e novos limites das suas penas, o juiz somente pode decidir sobre qual será a pena concreta dentro de limites previamente estabelecidos, a primeira autoridade está limitada pela Constituição, a outra está limitada tanto pela Constituição, quanto pela legislação.
Um desdobramento da ideia central de que as normas (em regra) possuem uma face dupla e que o direito se cria (“autocriação (escalonada) do direito”) consiste na afirmação da existência da dinâmica jurídica, na afirmação de que existe um processo de modificação do ordenamento jurídico, o qual ocorre por meio da criação (ou revogação) de normas jurídicas. A fim de explicar esse processo Merkl emprega a ideia de que para descrever o processo de autocriação do direito é preciso diferenciar as normas em espécies, visto que diferentes espécies de normas ocuparão (em certos casos) diferentes degraus na construção escalonada. Merkl indica essas diferentes espécies de normas jurídicas por meio da expressão “formas da proposição jurídica”24 24 Sobre o tema, cf. LIPPOLD, Rainer. Recht und Ordnung. Statik und Dynamik der Rechtsordnung. Wien: Manz, 2000, p. 386-400. , assim como afirma que as normas jurídicas “se manifestam em um processo jurídico, o qual conduz [...] de um ato para outro, por meio de formas distintas da proposição jurídica”.25 25 MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 293; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 446. Sobre o vínculo da categoria “formas da proposição jurídica” com a ideia de que o ordenamento jurídico possui uma estrutura escalonada também é afirmado o seguinte: “O ordenamento jurídico é uma soma das proposições jurídicas inter-relacionadas. Uma análise estrutural do ordenamento jurídico reconhece em suas proposições jurídicas não somente um número virtualmente inexaurível de conteúdos jurídicos, mas também um número, ainda que muito limitado, de formas jurídicas, ou, mais precisamente, de formas da proposição jurídica. Não somente cada proposição jurídica particular possui um conteúdo distinto daquele de todas as outras proposições jurídicas, mas também [ocorre que] um grupo de proposições jurídicas possui uma forma que difere de todas [as formas] dos outros grupos de proposições jurídicas; do ponto de vista formal, essa diferença de formas é precisamente a via de agrupamento.” MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 257; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 437.
Dessa maneira, quando se está diante de uma norma da espécie “emenda à Constituição”, “lei ordinária”, “medida provisória” etc., está-se diante de normas que exibem diferentes formas da proposição jurídica, pode-se verificar que as normas em questão não são diferentes umas das outras apenas em virtude do conteúdo, mas também em razão da espécie de norma que contém certo conteúdo normativo, de tal modo que se pode classificar uma norma como pertencendo a certa espécie normativa (como dotada de certa “forma da proposição jurídica”, empregando a terminologia de Merkl), pois se leva em conta os requisitos, as condições de validade estabelecidas pelo próprio ordenamento jurídico para a criação de uma norma desta espécie normativa.
Partindo da constatação de que o ordenamento jurídico possui uma pluralidade de formas da proposição jurídica (uma pluralidade de espécies de normas, as quais são classificadas tendo em conta requisitos estabelecidos pelo próprio direito), bem como da constatação de que o ordenamento possui uma estrutura escalonada, Merkl irá explicar de que forma as diferentes espécies de normas jurídicas se relacionam umas com as outras. Tal como indicado na passagem abaixo, a teoria de Merkl vincula os dois elementos acima indicados, a ideia de que o ordenamento jurídico possui diferenças hierárquicas, diferentes degraus, e a ideia de que a posição de uma determinada norma dentro da construção escalonada - o posicionamento desta norma em um ou outro degrau - será determinada tendo em vista que espécie de norma ela é, qual forma da proposição normativa ela possui:
Do ponto de vista conceitual, as normas jurídicas de degraus distintos são igualmente normas jurídicas, possuem o mesmo valor em termos de realização da ideia de direito. Porém, elas não se diferenciam meramente por meio da diferenciação gradual do conteúdo da norma, mas também por meio de suas diferentes condições de validade e de suas diferentes forças [em termos de] validade. Uma lei, por exemplo, deve sua validade meramente à constituição, e, novamente, uma sentença judicial ou um ato administrativo não [devem sua validade] meramente à constituição, mas também a atos do degrau da lei. [...] entre as normas dos diferentes degraus não existem apenas diferenças de forma e conteúdo, mas também diferenças de grau, as quais, na série das formas da proposição jurídica, mostram-se como estruturadas com a forma de degraus. No mundo jurídico não impera apenas uma igual ordenação entre os tipos de proposição jurídica individuais, mas também - entre outros tipos de proposição jurídica - [uma] super e subordenação. Para esse [mundo], a construção jurídica escalonada [se apresenta como] uma figura de linguagem. 26 26 MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 296-297; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 479-480.
Nessa passagem Merkl destaca que um critério decisivo (logo abaixo se tratará de outro critério) para determinar em qual degrau da construção escalonada uma norma se encontra, qual é sua posição na hierarquia normativa, é aquele das relações de condicionalidade. Uma das construções escalonadas do direito, uma das hierarquias normativas possíveis, tal como refere Merkl, é aquela que considera as “condições de validade” de uma norma, “suas diferentes forças [em termos de] validade”. Nesse caso, o elemento central para identificar um status hierárquico de uma norma consiste em buscar identificar o que condiciona a validade desta espécie de norma. Exemplificativamente, se uma lei ordinária pode ser criada desde que se apliquem as normas constitucionais e uma resolução da ANATEL27 27 Pode-se ilustrar essa situação referindo as primeiras linhas do texto da Resolução 426/2005 da ANATEL: “O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, [...] RESOLVE: Art. 1º Aprovar o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado. [...]”. depende tanto da aplicação das normas constitucionais, quanto da aplicação de uma lei, então se pode afirmar uma diferença hierárquica entre as duas espécies normativas. Assim, tendo em vista a construção escalonada conforme as “condições de validade”, o poder de criar direito válido, pode-se afirmar uma diferença hierárquica entre a lei ordinária e a resolução da ANATEL. Lei ordinária e resolução são “tipos de proposição jurídica” que se encontram em diferentes degraus da construção escalonada conforme as “condições de validade”, pois um destes tipos tem sua criação dependente de um certo número de condições, enquanto o outro tipo precisa preencher um número maior de condições a fim de vir a existir validamente.
Além dessa ideia de que as condições de validade são um critério para a descrição de uma construção escalonada Merkl introduz a ideia de que em certas circunstâncias concretas a representação mais adequada do ordenamento jurídico exige o emprego de mais de uma construção escalonada, pois se pode identificar “dentro de um e do mesmo ordenamento de direito do Estado várias sequências jurídicas de degraus com diferentes sequências de degraus jurídicos”.28 28 MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 297; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 480. No sentido dessa posição afirma Robert Walter “que Merkl tem em vista duas ordens escalonadas distintas: uma ordem escalonada conforme a força derrogatória e uma conforme a condicionalidade jurídica.” WALTER, Robert. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974, p. 54. Essa possibilidade de existirem “várias sequências jurídicas de degraus” distintas em um mesmo ordenamento jurídico corresponde à afirmação da possibilidade (e eventual necessidade, neste caso em virtude das características de um ordenamento jurídico específico) de descrever o ordenamento jurídico através de diferentes construções escalonadas.29 29 O fato de Merkl afirmar a possibilidade de existirem várias construções escalonadas consiste na principal diferença entre a sua teoria da construção escalonada e aquela defendida por Kelsen, na qual a pluralidade de construções escalonadas não é referida. Merkl afirma a existência dessa possibilidade, pois as relações hierárquicas entre as mesmas espécies normativas podem ser descritas de diferentes maneiras, tendo em vista diferentes parâmetros, “condições”, ou seja, não considerando apenas as “condições de validade”, as condições para que uma norma de certa espécie seja válida, mas também as condições para que uma norma de certa espécie derrogue outra norma:
A série das proposições jurídicas condicionantes e condicionadas se põe primeiramente como uma serie graduada - figurativamente falando, como hierarquia de atos superiores e inferiores. Diferenças graduais, as quais permitem uma qualificação dos atos como relativamente superiores e inferiores, não apenas se destacam sob o ponto de vista de um julgamento lógico de suas relações de dependência, mas também como um julgamento jurídico de sua capacidade de estabelecer o direito. Uma proposição jurídica que possui força derrogatória frente a outra proposição jurídica, ao passo que essa outra proposição jurídica não possui qualquer força derrogatória frente àquela, é por este motivo gradualmente [quanto à série hierarquizada] superior, e a proposição jurídica derrogável, em comparação com a proposição jurídica derrogante, é gradualmente [quanto à série hierarquizada] inferior. 30 30 MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 286-287; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 468-469.
Nessa passagem Merkl refere que as mesmas espécies de normas podem estar em diferentes relações hierárquicas em virtude de diferentes “condições” estabelecidas pelo ordenamento jurídico, tendo em vista as condições que o ordenamento jurídico estabelece para que uma norma com certa espécie normativa seja criada, ou as condições que o mesmo ordenamento estabelece para que uma norma com certa espécie normativa derrogue outra norma com outra espécie normativa. Merkl observa que normas de diferentes espécies podem possuir diferentes “força[s] derrogatória[s]”, ou seja, uma certa espécie de norma pode ser capaz de derrogar certa outra espécie de norma, ter “força” para derrogar certa outra espécie de norma, ao passo que a outra espécie de norma pode não dispor da mesma “força derrogatória”.31 31 Sobre o tema Walter comenta: “A explicação da relação entre ambos os ordenamentos exige que mais uma vez se indique a divergência possível: É possível - e isto se mostra repetidamente nos ordenamentos jurídicos [de direito] positivo - que uma parte do direito [que] está superordenada na construção escalonada conforme a condicionalidade jurídica encontre-se na mesma [posição dentro da ordenação] ou subordinada na construção escalonada conforme a força derrogatória. Isso se mostra da forma mais clara por meio da indicação de que conforme certos ordenamentos jurídicos [de direito] positivo uma regra de criação do direito pode ser derrogada por uma regra criada por ela. A regra de criação condicionante - e sob este ponto de vista mais elevada -, portanto, conforme a construção escalonada conforme a força derrogatória, não é superordenada. Que a prescrição a ser criada precise corresponder à regra de criação, isto de modo algum significa que ela não possa suspender esta [regra de criação].” WALTER, Robert. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974, p. 65-66.
Essa diferença em termos de força derrogatória, conforme argumenta Merkl, também pode ser um critério de hierarquização das normas. Precisamente esse é o fundamento para afirmar que uma mesma espécie normativa estar em diferentes relações hierárquicas em relação a outra espécie normativa. Isso é assim, pois a mesma espécie normativa pode estar, por exemplo, no mesmo patamar hierárquico que a outra espécie normativa, quando se considera as condições estabelecidas para a criação das duas espécies em questão, porém em um patamar hierárquico distinto, quando se considera as condições estabelecidas para que uma norma de certa espécie normativa derrogue normas de outra espécie, quando se considera as forças derrogatórias das duas espécies de normas.
É possível ilustrar essa situação por meio da análise das relações hierárquicas existentes no direito brasileiro entre as espécies normativas lei complementar e medida provisória. Conforme as condições estabelecidas para a criação das normas das duas espécies, pode-se afirmar que as duas espécies normativas estão no mesmo patamar hierárquico, pois ambas são criadas através da aplicação de normas constitucionais (ao contrário do que ocorre, conforme acima referido, com uma resolução da ANATEL, a qual é criada através da aplicação de normas constitucionais e normas legais).
Por outro lado, conforme as condições estabelecidas para a derrogação de normas jurídicas, tendo em vista suas forças derrogatórias, as leis complementares encontram-se em uma posição hierarquicamente superior em relação às medidas provisórias. Afirma-se isso, pois o § 1º do art. 62 da Constituição Federal declara: “É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: [...] III - reservada a lei complementar”. Dessa forma, uma vez que leis complementares possuem força derrogatória frente às medidas provisórias, podem derrogar uma norma estabelecida por meio de medida provisória, ao passo que o inverso não é verdadeiro, pode-se afirmar que estas duas espécies normativas se encontram em diferentes degraus da construção escalonada conforme a força derrogatória.32 32 Sobre esse modelo de argumento Walter refere que “em regra o direito positivo não contém qualquer regra expressa de derrogação, [de tal forma que] estas [regras] precisam muito mais ser deduzidas de outras prescrições”. WALTER, Robert. Der Stufenbau nach der derogatorischen Kraft im österreichischen Recht. Zum 75. Geburtstag von Adolf Julius Merkl. Österreichische Juristen-Zeitung, [s.l.], 20. Jg., n. 7, 1965, p. 169.
Outro exemplo pode ser referido para esclarecer a ideia de diferentes construções escalonadas. Tendo em vista a construção escalonada conforme as condições de validade das normas é adequado afirmar que as espécies normativas emenda à Constituição e lei complementar possuem o mesmo grau hierárquico, visto que as duas espécies de normas são criadas por meio da aplicação de normas constitucionais (notadamente a norma referida no art. 59 da Constituição Federal). Assim, as duas espécies de normas dependem, para serem válidas, do preenchimento de requisitos estabelecidos na Constituição, na mesma espécie normativa. Diferente é a situação quando se considera a hierarquia dessas duas espécies de normas à luz de sua força derrogatória. Uma emenda à Constituição possui (dentro dos limites constitucionais, notadamente aqueles previstos no § 4º do art. 60 da Constituição Federal) força derrogatória com respeito a certas normas constitucionais, ela pode derrogar algumas normas constitucionais. As leis complementares, por outro lado, não possuem tal força derrogatória. Por esse motivo é adequado afirmar que leis complementares e emendas à Constituição não se encontram no mesmo degrau hierárquico, quando se considera a construção escalonada conforme a força derrogatória das normas.
4. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CONSTRUÇÃO ESCALONADA DE MERKL AO PROBLEMA DA HIERARQUIA ENTRE LEI COMPLEMENTAR E LEI ORDINÁRIA
Conforme apontado acima, pode-se aplicar a teoria de Merkl à situação atual do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, pode-se levar em conta o que está estabelecido na Constituição Federal como condições para a criação ou derrogação das várias espécies de normas e, a partir de tais informações, identificar as diferentes espécies de relações hierárquicas previstas no texto constitucional. Desse modo, cumpre agora tratar da questão central do presente artigo, a questão sobre a hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.
Um primeiro passo para realizar essa tarefa consiste em destacar quais são os requisitos para que uma norma seja classificada como lei complementar ou lei ordinária. Nesse contexto é preciso observar que a Constituição estabelece critérios relativos ao número de votos necessários para a aprovação de um projeto de lei ordinária ou complementar (notadamente nos arts. 47 e 69 da Constituição Federal), os denominados critérios formais, assim como também aponta critérios materiais, isto é, indica que certas matérias apenas podem ser reguladas por meio de lei complementar (p. ex., art. 14, § 9, art. 18, § 4º e art. 45, § 1º, todos da Constituição Federal).
Tendo em conta que a Constituição refere em dezenas de dispositivos que a regulação de certas questões demanda lei complementar, ao passo que em outras situações ela apenas refere a necessidade de lei (expressões como “na forma da lei” e “nos termos da lei” podem ser encontradas em inúmeros dispositivos constitucionais, p. ex., nos incisos X, XII, XX, XXI, XXIII e XXVII do art. 7º da Constituição Federal), pode-se afirmar que uma norma apenas pode ser considerada lei complementar, caso ela não apenas cumpra o requisito relacionado ao número de votos exigido, mas também o requisito de tratar de uma das matérias que a Constituição reservou a lei complementar.33 33 Sobre o tema, veja a decisão do STF referida na nota de rodapé 15, assim como os argumentos alinhados contra a hipótese defendida por Machado, tratados no tópico “a” da primeira seção. Não faria sentido que o legislador constituinte empregasse a expressão “lei complementar”, caso ele entendesse que a matéria em questão também poderia ser regulada por lei ordinária, assim como não faria sentido o emprego da expressão “na forma da lei”, caso se pretendesse que a matéria fosse regulada por lei complementar.
Considerando esses elementos é preciso concluir que a identificação de uma norma como lei ordinária ou lei complementar não depende apenas da verificação do número de votos que foram exigidos nas votações do projeto de lei ordinária ou complementar, mas também a espécie de matéria tratada pelo projeto em questão. Ainda que uma norma tenha sido prevista em um projeto de lei complementar e este projeto tenha sido aprovado por uma maioria absoluta de votos, isto não basta para que tal norma seja classificada como possuindo o status de lei complementar, pois a Constituição não condiciona a existência de lei complementar apenas à aprovação por uma maioria absoluta de votos, mas também a um requisito material: apenas pode ser lei complementar aquela lei que trata de matéria reservada a lei complementar.
Feito esse esclarecimento sobre os critérios para identificar a espécie normativa de uma norma específica, pode-se tratar da questão central, aquela da hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Quando se analisa essa questão à luz dos dispositivos presentes na Constituição Federal são obtidos os seguintes resultados com respeito às relações hierárquicas entre as espécies normativas lei complementar e lei ordinária:
a) Tendo em conta a construção escalonada do direito brasileiro que regula a criação de normas, a construção escalonada conforme as condições de validade, deve-se afirmar que lei complementar e lei ordinária pertencem ao mesmo patamar hierárquico.
O fundamento dessa afirmativa é obtido por meio da seguinte observação: tanto as leis ordinárias quanto as leis complementares são criadas por meio da aplicação das mesmas espécies de normas, a saber, as normas constitucionais e as normas inseridas na Constituição através de emendas à Constituição. Não é o caso de leis ordinárias serem criadas através da aplicação de leis complementares, assim como não é o caso de leis complementares serem criadas por meio da aplicação de leis ordinárias. Tanto quando uma lei complementar é criada, quanto quando uma lei ordinária é criada, o ato de criação decorre de uma atribuição de poder conferida por uma norma constitucional. É por esse motivo que tanto leis ordinárias quanto leis complementares pertencem ao mesmo patamar hierárquico na construção escalonada conforme as condições de validade.
b) Tendo em conta a construção escalonada do direito brasileiro que regula a derrogação de normas pode-se afirmar, em certas situações, que lei complementar e lei ordinária não pertencem ao mesmo patamar hierárquico, assim como também é necessário, em outras situações, afirmar a igualdade hierárquica das duas espécies normativas, quando se considera suas forças derrogatórias.
A fim de tratar desse tema é preciso retornar à questão dos critérios para a identificação da espécie normativa. Conforme acima indicado, uma lei complementar apenas pode ser assim considerada caso ela seja aprovada por maioria absoluta (requisito formal) e trate de uma das matérias reservadas a lei complementar (requisito material). Ocorre que não apenas as leis complementares precisam preencher os dois requisitos, pois também as leis ordinárias estão sujeitas a um requisito formal, a maioria simples de votos, e a um requisito material, visto que nem toda matéria pode ser regulada por lei ordinária (p. ex., certas matérias apenas podem ser reguladas por emenda à Constituição).
Dessa maneira, tanto as leis complementares quanto as leis ordinárias estão sujeitas aos requisitos formal e material, com a consequência lógica de que uma norma apenas pode ser classificada como lei ordinária ou complementar, caso esta norma cumpra tanto o requisito formal quanto o requisito material para ser classificada desta forma. Isso significa que salvo (hipotético) equívoco contido na Constituição não existem matérias que possam ser tratadas tanto por lei complementar, quanto por lei ordinária, caso se elabore tais espécies de normas com a observância estrita do previsto na Constituição. Conforme referido pela própria Constituição no art. 24, pode ocorrer a situação em que uma lei federal e uma lei estadual tratam concorrentemente sobre uma mesma matéria, porém não está previsto na Constituição algo como uma área de competência concorrente para leis ordinárias e complementares.
Consequentemente, em um primeiro conjunto de situações, naquelas situações em que lei ordinária e lei complementar são elaboradas com estrita observância dos parâmetros constitucionais formais e materiais, o surgimento de uma antinomia é logicamente impossível, é impossível que exista um conflito entre normas dotadas das duas espécies normativas. Por esse motivo, em certo sentido não existe uma diferença hierárquica entre as duas espécies normativas com respeito à força derrogatória: lei complementar (elaborada em conformidade com os parâmetros constitucionais) não derroga lei ordinária, assim como lei ordinária (elaborada em conformidade com os parâmetros constitucionais) não derroga lei complementar.
Cumpre ainda considerar o outro conjunto de situações possíveis, aqueles cenários em que se faz presente uma lei ordinária que trata de matéria reservada a lei complementar (a lei ordinária “materialmente” complementar, ou seja, nominalmente ordinária, mas que trata de matéria reservada a lei complementar), assim como aquelas circunstâncias em que a lei complementar trata de matéria reservada a lei ordinária (a lei complementar “materialmente” ordinária).
Quando a lei ordinária trata de matéria que a Constituição reservou a lei complementar, ela trata de matéria que a Constituição declarou que apenas poderia ser tratada por lei complementar e, em certo sentido, se pode afirmar que tal lei ordinária existe “materialmente” como uma lei complementar, que ela é uma lei ordinária “materialmente” complementar. Nesse caso a Constituição não permitiu que a lei ordinária disciplinasse certa matéria, a qual deve ser regulada por meio de lei complementar, a qual deve ser aprovada pela maioria absoluta dos votos nas duas Casas do Congresso. Por esse motivo formal, relativo ao número de votos exigidos para a aprovação desta espécie de norma, cumpre afirmar que a lei ordinária “materialmente” complementar, nesse caso, não derroga (não recebe da Constituição poder para derrogar) a lei complementar que tratou do tema objeto da lei ordinária.
Por outro lado, quando a lei complementar trata de matéria que a Constituição reservou a lei ordinária, também ocorre uma invasão de competência, entretanto neste caso a lei complementar “materialmente” ordinária (a lei nominalmente complementar, que cumpriu apenas um dos dois requisitos exigidos para ser lei complementar, o requisito do número de votos exigidos para a aprovação) derrogará a lei ordinária. Em tal circunstância não se está diante de uma lei complementar em sentido próprio, pois a lei em questão, ainda que aprovada pela maioria absoluta dos votos nas duas Casas do Congresso, não observou o outro requisito exigido para a criação de uma lei complementar, o requisito material.
Portanto, ao contrário do que ocorre quando a lei ordinária “materialmente” complementar trata de matéria que a Constituição reservou a lei complementar, é possível “aproveitar” a lei complementar “materialmente” ordinária criada para tratar de matéria reservada a lei ordinária, pois se o critério formal da aprovação pela maioria absoluta dos votos foi observado, então o critério formal da aprovação das leis ordinárias (a maioria simples) também foi observado. Como consequência desse tratamento da lei complementar “materialmente” ordinária como lei ordinária é possível afirmar que lei complementar “materialmente” ordinária irá derrogar a lei ordinária que esteja com ela em conflito, por conta da aplicação da máxima lex posterior, a qual, como referido acima, está positivada no ordenamento jurídico brasileiro.
Logo, analisando a questão da hierarquia a partir da força derrogatória das normas é adequado concluir que segundo a construção escalonada conforme a força derrogatória uma lei complementar “materialmente” ordinária é hierarquicamente superior a uma lei ordinária “materialmente” complementar, pois a lei complementar “materialmente” ordinária pode derrogar uma lei ordinária propriamente dita (que foi criada com a observância dos parâmetros formais e materiais para a criação de leis ordinárias), ao passo que uma lei ordinária “materialmente” complementar não pode derrogar uma lei complementar propriamente dita.
Por fim, quando se compara a lei complementar “materialmente” ordinária com a lei ordinária propriamente dita cumpre reconhecer que elas terão a mesma força derrogatória, pertencerão ao mesmo degrau da construção escalonada conforme a força derrogatória. Essa conclusão é adequada, pois tanto a lei complementar “materialmente” ordinária pode derrogar a lei ordinária, quanto a lei ordinária pode derrogar a lei complementar “materialmente” ordinária, pois esta última espécie de lei, como visto, será tratada como se fosse uma lei ordinária.
5. CONCLUSÃO
A principal conclusão que se obtém após a análise acima desenvolvida é no sentido de que a pergunta sobre a hierarquização das espécies normativas lei complementar e lei ordinária não admite uma única resposta geral. Conforme apontado, a questão sobre a hierarquia das normas precisa ser reformulada, é preciso inicialmente dar-se conta de que no direito brasileiro não existe apenas uma espécie de hierarquia entre as normas, mas sim uma pluralidade de espécies de relações hierárquicas, tal como verificado, por exemplo, ao se considera as emendas à Constituição e as leis complementares à luz das duas hierarquias referidas. No ordenamento jurídico brasileiro tanto é possível observar as normas jurídicas à luz da construção escalonada, hierarquizada, tendo em vista as condições de validade das espécies normativas, quanto existe a possibilidade de analisar as mesmas normas a partir de outro parâmetro, aquele estabelecido pela construção escalonada conforme a força derrogatória.
Assim, tal como notou Merkl a questão sobre relação hierárquica entre duas espécies de normas demanda uma especificação preliminar, aquela sobre qual é o critério que está sendo empregado para analisar as espécies de normas. A ausência da percepção dessa peculiaridade do ordenamento jurídico brasileiro, o fato de ele incluir mais de uma ordem hierarquizada de normas, pode ser vista como o vício que acaba reduzindo o poder de explicação das três correntes presentes na doutrina brasileira a respeito da questão da hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.
Por fim, especificamente com respeito às espécies normativas lei complementar e lei ordinária foi apontado que em regra estas duas espécies de normas se encontram no mesmo patamar hierárquico. Excepcionalmente é possível falar em uma diferença hierárquica entre as duas espécies normativas, mas apenas quando se considera a hierarquia normativa conforme a força derrogatória e, além disso, está-se comparando uma lei complementar “materialmente” ordinária (que trata de matéria disciplinável por lei ordinária) com uma lei ordinária “materialmente” complementar, pois neste caso a primeira espécie normativa pode derrogar a outra, ao passo que o contrário não é possível.
6. REFERÊNCIAS
- ATALIBA, Geraldo. Lei Complementar na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969.
- ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- BASTOS, Celso Ribeiro. Lei Complementar. Teoria e Comentários. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999.
- BEHREND, Jürgen. Untersuchungen zur Stufenbaulehre Adolf Merkls und Hans Kelsens. Berlin: Duncker & Humblot, 1977.
- BONGIOVANNI, Giorgio. Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello stato. H. Kelsen e la constituzione austríaca del 1920. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1998.
- BORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975.
- BOROWSKI, Martin. Die Lehre vom Stufenbau des Rechts nach Adolf Julius Merkl. In: PAULSON, Stanley L.; STOLLEIS, Michael (Hrsg.). Hans Kelsen. Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, p. 122-159.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Constitucionalidade no 1. Voto do relator, Min. Moreira Alves. Ação julgada em 01/12/93, p. 123-124. Disponível em: <Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=881 >. Acesso em: 12 abr. 2022.
» https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=881 - BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 556.664-1/RS. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12/06/2008, p. 1886. Disponível em: <Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561617 >. Acesso em: 12 abr. 2022.
» https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561617 - CARVALHO, Rogério A. Fernandes de. A Consequência Jurídica do Conflito Normativo entre a Lei Ordinária e a Lei Complementar Tributária. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 4, n. 7, p. 437-469, 2005.
- DIAS, Gabriel Nogueira. Positivismo jurídico e a teoria geral do direito: na obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
- FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 2019.
- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- FERREIRA, Luiz Pinto. Lei Complementar - I. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 48. São Paulo: Saraiva, 1980.
- GRAGL, Paul. Legal Monism. Law, Philosophy, and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- JESTAEDT, Matthias. Grundrechtsentfaltung im Gesetz. Studien zur Interdependenz von Grundrechtsdogmatik und Rechtsgewinnungstheorie. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, p. 298-320.
- KELSEN, Hans. Adolf Merkl zu seinem siebzigsten Geburtstag am 23. März 1960. Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Viena, Band X, p. 313-315, 1960.
- KELSEN, Hans. Reine Rechtslehre. 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017.
- LIPPOLD, Rainer. Recht und Ordnung. Statik und Dynamik der Rechtsordnung. Wien: Manz, 2000.
- MACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010.
- MACHADO, Hugo de Brito. Segurança jurídica e lei complementar. Nomos: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, n. 1, p. 179-190, 2008.
- MAYER, Heinz. Die Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: WALTER, Robert (Hrsg.). Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre. Wien: Manz, 1992, pp. 37-46.
- MERKL, Adolf Julius. “O direito à luz de sua aplicação”. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018.
- MERKL, Adolf Julius. Das Recht im Lichte seiner Anwendung. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
- MERKL, Adolf Julius. Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1., 1993.
- MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos para uma teoria da construção escalonada do direito. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018.
- MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021.
- ÖHLINGER, Theo. Der Stufenbau der Rechtsordnung. Rechtstheoretische und ideologische Aspekte. Wien: Manz, 1975.
- PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Processo Legislativo. Niterói: Impetus, 2003.
- PAULSON, Stanley L. Zur Stufenbaulehre Merkls in ihrer Bedeutung fur die Allgemeine Rechtslehre. In: WALTER, Robert (Hrsg.) Adolf J. Merkl. Werk und Wirksamkeit. Wien: Manz, 1990, pp. 93-105.
- PAULSON, Stanley L. How Merkl’s Stufenbaulehre Informs Kelsen’s Concept of Law. Revus, [s.l.], n. 21, p. 29-45, 2013.
- SCHILLING, Theodor. Rang und Geltung von Normen in gestuften Rechtsordnungen. Berlin: Berlin-Verlag Spitz, 1994.
- SCHMIDT, Felipe. Lei complementar e lei ordinária: os problemas da hierarquia e da revogação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, Franca, v. 13, n. 2, p. 89-120, 2018.
- SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
- SILVA, Matheus Pelegrino da. Kelsens Theorie der Rechtserkenntnis. Zugleich eine kritische Betrachtung der Positivität als Eigenschaft des Rechts. Berlin: Duncker & Humblot, 2019.
- SILVA, Virgílio Afonso da. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021.
- TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
- WALTER, Robert. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974.
- WALTER, Robert. Der Stufenbau nach der derogatorischen Kraft im österreichischen Recht. Zum 75. Geburtstag von Adolf Julius Merkl. Österreichische Juristen-Zeitung, [s.l.], 20. Jg., n. 7, p. 169-174, 1965.
- WIEDERIN, Ewald. Die Stufenbaulehre Adolf Julius Merkls. In: GRILLER, Stefan; RILL, Heinz-Peter (Hrsg.). Rechtstheorie: Rechtsbegriff-Dynamik-Auslegung. Wien: Springer, 2011, p. 81-134.
-
34
Como citar esse artigo/How to cite this article: SILVA, Matheus Pelegrino da. Hierarquia entre lei complementar e lei ordinária: uma proposta de solução do problema a partir da teoria da construção escalonada do direito de Merkl. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 9, n. 3, p. 681-706, set./dez. 2022. DOI: 10.5380/rinc.v9i3.85615.
-
1
Cf. MACHADO, Hugo de BritoMACHADO, Hugo de Brito. Segurança jurídica e lei complementar. Nomos: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, n. 1, p. 179-190, 2008.. Segurança jurídica e lei complementar. Nomos: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, n. 1, 2008, p. 180. CARVALHO, Rogério A. Fernandes deCARVALHO, Rogério A. Fernandes de. A Consequência Jurídica do Conflito Normativo entre a Lei Ordinária e a Lei Complementar Tributária. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 4, n. 7, p. 437-469, 2005.. A Consequência Jurídica do Conflito Normativo entre a Lei Ordinária e a Lei Complementar Tributária. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 4, n. 7, 2005, p. 440.
-
2
Outro argumento, significativamente menos convincente, com respeito à existência de uma diferença hierárquica entre lei complementar e lei ordinária é o denominado “argumento topográfico”. Conforme esse argumento, a forma como o art. 59 da Constituição Federal foi elaborado poderia ser vista como uma indicação de que leis complementares seriam hierarquicamente superiores às leis complementares, pois o inciso I refere a elaboração de emendas à Constituição, o inciso II refere a elaboração de leis complementares e o inciso III refere a elaboração de leis ordinárias. Uma vez que emendas à Constituição claramente são superiores às leis complementares e ordinárias, assim segue o raciocínio, deve-se concluir que a ordem de apresentação das espécies de normas que podem ser criadas refletiria uma relação hierárquica entre todas as espécies normativas. Cf. BORGES, José Souto MaiorBORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975.. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 19. SCHMIDT, FelipeSCHMIDT, Felipe. Lei complementar e lei ordinária: os problemas da hierarquia e da revogação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, Franca, v. 13, n. 2, p. 89-120, 2018.. Lei complementar e lei ordinária: os problemas da hierarquia e da revogação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, Franca, v. 13, n. 2, 2018, p. 103-105.
-
3
FERREIRA FILHO, Manoel GonçalvesFERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.. Do processo legislativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270. No mesmo sentido, cf. MACHADO, Hugo de BritoMACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010.. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 154-155 e 237.
-
4
MACHADO, Hugo de BritoMACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010.. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 139.
-
5
MACHADO, Hugo de BritoMACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010.. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 155-156.
-
6
MACHADO, Hugo de BritoMACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010.. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 108.
-
7
MACHADO, Hugo de BritoMACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010.. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 156.
-
8
MACHADO, Hugo de BritoMACHADO, Hugo de Brito. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010.. Lei complementar tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 238. No mesmo sentido, cf. p. 120-121.
-
9
Cf. BASTOS, Celso RibeiroBASTOS, Celso Ribeiro. Lei Complementar. Teoria e Comentários. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999.. Lei Complementar. Teoria e Comentários. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 25.
-
10
TEMER, MichelTEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.. Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 148-149. No mesmo sentido, cf MORAES, Alexandre deMORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021.. Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 750. SILVA, Virgílio Afonso daSILVA, Virgílio Afonso da. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021.. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021, p. 533. Os elementos centrais do raciocínio de Temer já haviam sido referidos por Borges, quem, porém, defende outra posição quanto à questão da hierarquia, tal como será apontado ao se tratar da terceira posição sobre o tema. Cf. BORGES, José Souto MaiorBORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975.. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 56.
-
11
BORGES, José Souto MaiorBORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975.. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 83.
-
12
Borges refere um dispositivo quase idêntico a esse, o qual estava presente no § 2º do art. 77 da Constituição de 1967, alterada pela Emenda Constitucional 1 de 1969. Cf. BORGES, José Souto MaiorBORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975.. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 88-89.
-
13
Em uma situação como essa se verifica um problema com respeito à eficácia técnica da lei em questão. Sobre essa espécie de eficácia das normas jurídicas Tercio Sampaio Ferraz Jr. comenta: “Uma norma também se diz eficaz quando estão presentes certos requisitos técnicos. A dogmática supõe, nesse caso, a necessidade de enlaces entre diversas normas, sem os quais a norma não pode produzir efeitos. Por exemplo, a norma prescreve que crimes hediondos serão inafiançáveis, mas transfere para outra norma a definição de hediondo. Enquanto esta não existir, a primeira não poderá produzir efeitos. Fala-se, então de eficácia ou ineficácia técnica. [...] A eficácia, no sentido técnico, tem a ver com a aplicabilidade das normas como uma aptidão mais ou menos extensa para produzir efeitos.” FERRAZ JUNIOR, Tercio SampaioFERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 2019.. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 2019, p. 161.
-
14
Cf. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, MarceloPAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Processo Legislativo. Niterói: Impetus, 2003.. Processo Legislativo. Niterói: Impetus, 2003, p. 199-200. ÁVILA, HumbertoÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 189-190.
-
15
BRASIL. Supremo Tribunal FederalBRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Constitucionalidade no 1. Voto do relator, Min. Moreira Alves. Ação julgada em 01/12/93, p. 123-124. Disponível em: <Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=881 >. Acesso em: 12 abr. 2022.
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pa... . Ação Direta de Constitucionalidade no 1. Voto do relator, Min. Moreira Alves. Ação julgada em 01/12/93, p. 123-124. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=881>. Acesso em: 12 abr. 2022. -
16
ATALIBA, GeraldoATALIBA, Geraldo. Lei Complementar na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969.. Lei Complementar na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969, p. 29. No mesmo sentido, cf. SILVA, José Afonso daSILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 247. Essa posição da doutrina encontra-se confirmada pelo STF. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal FederalBRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 556.664-1/RS. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12/06/2008, p. 1886. Disponível em: <Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561617 >. Acesso em: 12 abr. 2022.
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pa... . Recurso Extraordinário no 556.664-1/RS. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 12/06/2008, p. 1886. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561617>. Acesso em: 12 abr. 2022. -
17
Exemplificativamente, cf. BORGES, José Souto MaiorBORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975.. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, EDUC, 1975, p. 82. FERREIRA, Luiz PintoFERREIRA, Luiz Pinto. Lei Complementar - I. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 48. São Paulo: Saraiva, 1980.. Lei Complementar - I. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 48. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 497. Cumpre também destacar que Luiz Pinto Ferreira refere o nome de Merkl, porém não faz qualquer menção à teoria de Merkl das várias construções escalonadas do direito ou à obra em que esta teoria é apresentada, os Prolegômenos para uma teoria da construção escalonada do direito. Cf. FERREIRA, Luiz Pinto. Ibid., loc. cit.
-
18
Cf. KELSEN, HansKELSEN, Hans. Reine Rechtslehre. 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017.. Reine Rechtslehre. 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, p. 396. Kelsen comenta que “a teoria da construção escalonada de Merkl tornou-se uma parte essencial da teoria pura do direito que defendo [Kelsen], e por isso se deve ver Adolf Merkl como um de seus cofundadores”. KELSEN, HansKELSEN, Hans. Adolf Merkl zu seinem siebzigsten Geburtstag am 23. März 1960. Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Viena, Band X, p. 313-315, 1960.. Adolf Merkl zu seinem siebzigsten Geburtstag am 23. März 1960. Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Viena, Band X, 1960, p. 313. Esse e todos os textos em que não é indicado o tradutor constituem traduções originais.
-
19
Sobre a teoria da construção escalonada do direito de Merkl podem ser referidas as seguintes obras: BEHREND, JürgenBEHREND, Jürgen. Untersuchungen zur Stufenbaulehre Adolf Merkls und Hans Kelsens. Berlin: Duncker & Humblot, 1977.. Untersuchungen zur Stufenbaulehre Adolf Merkls und Hans Kelsens. Berlin: Duncker & Humblot, 1977. BONGIOVANNI, GiorgioBONGIOVANNI, Giorgio. Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello stato. H. Kelsen e la constituzione austríaca del 1920. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1998.. Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello stato. H. Kelsen e la constituzione austríaca del 1920. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1998, p. 91-120. BOROWSKI, MartinBOROWSKI, Martin. Die Lehre vom Stufenbau des Rechts nach Adolf Julius Merkl. In: PAULSON, Stanley L.; STOLLEIS, Michael (Hrsg.). Hans Kelsen. Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, p. 122-159.. Die Lehre vom Stufenbau des Rechts nach Adolf Julius Merkl. In: PAULSON, Stanley L.; STOLLEIS, Michael (Hrsg.). Hans Kelsen. Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, p. 122-159. DIAS, Gabriel NogueiraDIAS, Gabriel Nogueira. Positivismo jurídico e a teoria geral do direito: na obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.. Positivismo jurídico e a teoria geral do direito: na obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 197-214. GRAGL, PaulGRAGL, Paul. Legal Monism. Law, Philosophy, and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2018.. Legal Monism. Law, Philosophy, and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 78-99. JESTAEDT, MatthiasJESTAEDT, Matthias. Grundrechtsentfaltung im Gesetz. Studien zur Interdependenz von Grundrechtsdogmatik und Rechtsgewinnungstheorie. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, p. 298-320.. Grundrechtsentfaltung im Gesetz. Studien zur Interdependenz von Grundrechtsdogmatik und Rechtsgewinnungstheorie. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, p. 298-320. MAYER, HeinzMAYER, Heinz. Die Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: WALTER, Robert (Hrsg.). Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre. Wien: Manz, 1992, pp. 37-46.. Die Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: WALTER, Robert (Hrsg.). Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre. Wien: Manz, 1992, pp. 37-46. ÖHLINGER, TheoÖHLINGER, Theo. Der Stufenbau der Rechtsordnung. Rechtstheoretische und ideologische Aspekte. Wien: Manz, 1975.. Der Stufenbau der Rechtsordnung. Rechtstheoretische und ideologische Aspekte. Wien: Manz, 1975. PAULSON, Stanley LPAULSON, Stanley L. How Merkl’s Stufenbaulehre Informs Kelsen’s Concept of Law. Revus, [s.l.], n. 21, p. 29-45, 2013.. How Merkl’s Stufenbaulehre Informs Kelsen’s Concept of Law. Revus, [s.l.], n. 21, 2013, pp. 29-45; PAULSON, Stanley LPAULSON, Stanley L. Zur Stufenbaulehre Merkls in ihrer Bedeutung fur die Allgemeine Rechtslehre. In: WALTER, Robert (Hrsg.) Adolf J. Merkl. Werk und Wirksamkeit. Wien: Manz, 1990, pp. 93-105.. Zur Stufenbaulehre Merkls in ihrer Bedeutung fur die Allgemeine Rechtslehre. In: WALTER, Robert (Hrsg.) Adolf J. Merkl. Werk und Wirksamkeit. Wien: Manz, 1990, pp. 93-105. SCHILLING, TheodorSCHILLING, Theodor. Rang und Geltung von Normen in gestuften Rechtsordnungen. Berlin: Berlin-Verlag Spitz, 1994.. Rang und Geltung von Normen in gestuften Rechtsordnungen. Berlin: Berlin-Verlag Spitz, 1994, p. 401-422. SILVA, Matheus Pelegrino daSILVA, Matheus Pelegrino da. Kelsens Theorie der Rechtserkenntnis. Zugleich eine kritische Betrachtung der Positivität als Eigenschaft des Rechts. Berlin: Duncker & Humblot, 2019.. Kelsens Theorie der Rechtserkenntnis. Zugleich eine kritische Betrachtung der Positivität als Eigenschaft des Rechts. Berlin: Duncker & Humblot, 2019, p. 101-122. WALTER, RobertWALTER, Robert. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974.. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974. WIEDERIN, EwaldWIEDERIN, Ewald. Die Stufenbaulehre Adolf Julius Merkls. In: GRILLER, Stefan; RILL, Heinz-Peter (Hrsg.). Rechtstheorie: Rechtsbegriff-Dynamik-Auslegung. Wien: Springer, 2011, p. 81-134.. Die Stufenbaulehre Adolf Julius Merkls. In: GRILLER, Stefan; RILL, Heinz-Peter (Hrsg.). Rechtstheorie: Rechtsbegriff-Dynamik-Auslegung. Wien: Springer, 2011, p. 81-134.
-
20
MERKL, Adolf JuliusMERKL, Adolf Julius. Prolegômenos para uma teoria da construção escalonada do direito. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018.. Prolegômenos para uma teoria da construção escalonada do direito. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018, p. 299. Para a versão em alemão desse texto: MERKL, Adolf JuliusMERKL, Adolf Julius. Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1., 1993.. Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993, p. 482. A partir de agora esses textos serão referidos, respectivamente, com os termos Prolegômenos e Prolegomena, seguidas das páginas correspondentes.
-
21
Cf. MERKL, Adolf JuliusMERKL, Adolf Julius. “O direito à luz de sua aplicação”. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018.. “O direito à luz de sua aplicação”. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018, p. 154. Para a versão em alemão desse texto: Id. “Das Recht im Lichte seiner Anwendung”. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993, p. 234.
-
22
MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 293; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 475.
-
23
MERKL, Adolf JuliusMERKL, Adolf Julius. “O direito à luz de sua aplicação”. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018.. O direito à luz de sua aplicação. In: SILVA, Matheus Pelegrino da (Org. e trad.). Adolf Julius Merkl. Escritos de teoria do direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2018, p. 149. Para a versão em alemão desse texto: MERKL, Adolf JuliusMERKL, Adolf Julius. Das Recht im Lichte seiner Anwendung. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993..Das Recht im Lichte seiner Anwendung. In: MAYER-MALY, Dorothea; SCHAMBECK, Herbert; GRUSSMANN, Wolf-Dietrich (Hrsg.). Adolf Julius Merkl. Gesammelte Schriften. 1. Band, 1. Teilband. Berlin: Duncker & Humblot, 1993, p. 228.
-
24
Sobre o tema, cf. LIPPOLD, RainerLIPPOLD, Rainer. Recht und Ordnung. Statik und Dynamik der Rechtsordnung. Wien: Manz, 2000.. Recht und Ordnung. Statik und Dynamik der Rechtsordnung. Wien: Manz, 2000, p. 386-400.
-
25
MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 293; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 446. Sobre o vínculo da categoria “formas da proposição jurídica” com a ideia de que o ordenamento jurídico possui uma estrutura escalonada também é afirmado o seguinte: “O ordenamento jurídico é uma soma das proposições jurídicas inter-relacionadas. Uma análise estrutural do ordenamento jurídico reconhece em suas proposições jurídicas não somente um número virtualmente inexaurível de conteúdos jurídicos, mas também um número, ainda que muito limitado, de formas jurídicas, ou, mais precisamente, de formas da proposição jurídica. Não somente cada proposição jurídica particular possui um conteúdo distinto daquele de todas as outras proposições jurídicas, mas também [ocorre que] um grupo de proposições jurídicas possui uma forma que difere de todas [as formas] dos outros grupos de proposições jurídicas; do ponto de vista formal, essa diferença de formas é precisamente a via de agrupamento.” MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 257; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 437.
-
26
MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 296-297; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 479-480.
-
27
Pode-se ilustrar essa situação referindo as primeiras linhas do texto da Resolução 426/2005 da ANATEL: “O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, [...] RESOLVE: Art. 1º Aprovar o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado. [...]”.
-
28
MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 297; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 480. No sentido dessa posição afirma Robert Walter “que Merkl tem em vista duas ordens escalonadas distintas: uma ordem escalonada conforme a força derrogatória e uma conforme a condicionalidade jurídica.” WALTER, RobertWALTER, Robert. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974.. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974, p. 54.
-
29
O fato de Merkl afirmar a possibilidade de existirem várias construções escalonadas consiste na principal diferença entre a sua teoria da construção escalonada e aquela defendida por Kelsen, na qual a pluralidade de construções escalonadas não é referida.
-
30
MERKL, Adolf Julius. Prolegômenos... op. cit, p. 286-287; MERKL, Adolf Julius. Prolegomena... op. cit, p. 468-469.
-
31
Sobre o tema Walter comenta: “A explicação da relação entre ambos os ordenamentos exige que mais uma vez se indique a divergência possível: É possível - e isto se mostra repetidamente nos ordenamentos jurídicos [de direito] positivo - que uma parte do direito [que] está superordenada na construção escalonada conforme a condicionalidade jurídica encontre-se na mesma [posição dentro da ordenação] ou subordinada na construção escalonada conforme a força derrogatória. Isso se mostra da forma mais clara por meio da indicação de que conforme certos ordenamentos jurídicos [de direito] positivo uma regra de criação do direito pode ser derrogada por uma regra criada por ela. A regra de criação condicionante - e sob este ponto de vista mais elevada -, portanto, conforme a construção escalonada conforme a força derrogatória, não é superordenada. Que a prescrição a ser criada precise corresponder à regra de criação, isto de modo algum significa que ela não possa suspender esta [regra de criação].” WALTER, RobertWALTER, Robert. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974.. Der Aufbau der Rechtsordnung. 2. unveränderte Auflage. Wien: Manz, 1974, p. 65-66.
-
32
Sobre esse modelo de argumento Walter refere que “em regra o direito positivo não contém qualquer regra expressa de derrogação, [de tal forma que] estas [regras] precisam muito mais ser deduzidas de outras prescrições”. WALTER, RobertWALTER, Robert. Der Stufenbau nach der derogatorischen Kraft im österreichischen Recht. Zum 75. Geburtstag von Adolf Julius Merkl. Österreichische Juristen-Zeitung, [s.l.], 20. Jg., n. 7, p. 169-174, 1965.. Der Stufenbau nach der derogatorischen Kraft im österreichischen Recht. Zum 75. Geburtstag von Adolf Julius Merkl. Österreichische Juristen-Zeitung, [s.l.], 20. Jg., n. 7, 1965, p. 169.
-
33
Sobre o tema, veja a decisão do STF referida na nota de rodapé 15, assim como os argumentos alinhados contra a hipótese defendida por Machado, tratados no tópico “a” da primeira seção.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
19 Dez 2022 -
Data do Fascículo
Sep-Dec 2022
Histórico
-
Recebido
12 Abr 2022 -
Aceito
28 Out 2022