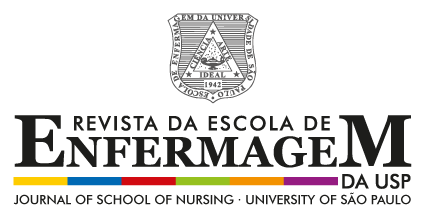Resumos
OBJETIVO
Investigar a concepção de profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) em relação ao conhecimento, à educação e aos sujeitos que participam de ações pedagógicas.
MÉTODO
Estudo qualitativo realizado com profissionais da ESF, de nível superior, integrantes da equipe de assistência e que realizaram ações educativas grupais de saúde em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belo Horizonte. Utilizou-se a triangulação das técnicas: observação participante, fotografia e diário de campo; entrevista com os profissionais; e análise documental.
RESULTADOS
Identificaram-se três padrões de interação, diferentes entre si. No primeiro, o profissional questiona, ouve e fornece informações aos usuários, acreditando na transmissão de conhecimentos; no segundo, questiona e ouve, confiando que os usuários aprendem uns com os outros; no terceiro, questiona, ouve, problematiza e produz conhecimentos com os usuários, ambos ensinando e aprendendo.
CONCLUSÃO
Há práticas educativas que incluem métodos singulares capazes de se transformar em espaço de militância em favor da cidadania.
Educação em Saúde; Atenção Primária à Saúde; Conhecimento; Pessoal de Saúde
OBJECTIVE
To investigate the concept understood by Family Healthcare Strategy (ESF) professionals of knowledge, education and subjects participating in learning activities.
METHOD
Qualitative study carried out with the ESF professionals with university degree, members of the healthcare staff who undertook educational health group activities at Basic Healthcare Units (UBS) in Belo Horizonte. The following triangulation techniques were used: participant observation, photos and field notes; interviews with professionals; and document analysis.
RESULTS
We identified three interaction patterns that are different from each other. Firstly, the professional questions, listens and provides information to users, trusting in the transmission of knowledge; secondly, the professional questions and listens, trusting that users can learn from each other; thirdly, the professional questions, listens, discusses and produces knowledge with users, both teaching and learning from each other.
CONCLUSION
There are educational practices that include unique methods capable of creating a militant space for citizenship engagement.
Health Education; Primary Health Care; Knowledge; Health Personnel
OBJETIVO
Investigar la concepción de los profesionales acerca de la Estrategia Salud de la Família (ESF) con respecto al conocimiento, la educación y los sujetos que participan de acciones pedagógicas.
MÉTODO
Estudio cualitativo realizado con profesionales de la ESF, de nivel superior, integrantes del equipo de asistencia y quienes llevaron a cabo acciones educativas grupales de salud en Unidades Básicas de Salud (UBS) de Belo Horizonte. Se utilizó la triangulación de las técnicas; observación participante, fotografía y diario de campo; entrevista con los profesionales y análisis documental.
RESULTADOS
Se identificaron tres estándares de interacción, diferentes entre sí. En el primero, el profesional cuestiona, oye y facilita informaciones a los usuarios, creyendo en la transmisión de conocimientos; en el segundo, cuestiona y oye, fiándose de que los usuarios aprenden los unos con los otros; en el tercero, cuestiona, oye, problematiza y produce conocimientos con los usuarios, ambos enseñando y aprendiendo.
CONCLUSIÓN
Existen prácticas educativas que incluyen métodos singulares capaces de convertirse en espacio de militancia a favor de la ciudadanía.
Educación en Salud; Atención Primaria de Salud; Conocimiento; Personal de Salud
Introdução
No Brasil, as políticas públicas de saúde são fundamentadas em ações intersetoriais
voltadas para a promoção da saúde, para o fortalecimento da gestão local e para o
controle social. Apoiam-se, ainda, na necessidade de desenvolvimento de ações
educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população e ampliar o
controle social na defesa da qualidade de vida(11 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de
2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) [Internet].
Brasília; 2011. [citado 2014 mar. 14]. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
).
Coerentemente, no discurso institucional do Ministério da Saúde, a educação em saúde
é explicitada como um processo de construção e de reconstrução do conhecimento, com o
enfoque em ações que auxiliem na cidadania, na autonomia do cuidado de pessoas,
grupos e comunidades, bem como no exercício do controle social(11 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de
2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) [Internet].
Brasília; 2011. [citado 2014 mar. 14]. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
). Para isto, as práticas educativas em
saúde são preconizadas numa vertente dialógica, emancipadora, participativa, criativa
e ancorada na subjetividade inerente aos seres humanos(11 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de
2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) [Internet].
Brasília; 2011. [citado 2014 mar. 14]. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
), aproximando-se do pensamento educacional
freiriano.
Este projeto funda-se no pressuposto de que a consciência crítica é desenvolvida por meio do diálogo entre educando e educador. O diálogo é para ele um processo dialético-problematizador que implica o comprometimento de quem o faz no processo que instaura. Entende-se que o impulso que leva o ser humano ao diálogo é ontológico - decorre de sua própria natureza. "É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente"(22 Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39ª ed. São Paulo: Paz e Terra; 1996.).
A educação em saúde é um forte componente das atribuições das Equipes de Saúde da
Família (ESF), tendo como uma de suas principais características o desenvolvimento de
ações educativas grupais, comumente denominadas grupos operativos, que possam
interferir no processo de saúde-doença da população(3) a partir dos
seguintes pressupostos: o desenvolvimento da consciência crítica dos indivíduos a
respeito do seu meio social e de suas condições de vida e saúde, o compartilhamento
de conhecimentos que derivem das experiências, além da potencialização de processos
coletivos para organizar e concretizar ações de mudança. Pressupõe ainda o ir além de
uma perspectiva preventiva e de uma abordagem diretiva, ampliando-se na direção de
uma práxis construtiva, pautada no desenvolvimento do diálogo(44 Machado MFAS, Monteiro EMLM, Queiroz DT, Vieira NFC, Barroso MGT.
Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS: uma
revisão conceitual. Ciênc Saúde Coletiva. 2007;12(2):335-42.
5 Sousa LB, Torres CA, Pinheiro PNC, Pinheiro AKB. Práticas de educação em
saúde no Brasil: a atuação da enfermagem. Rev Enferm UERJ [Internet]. 2010 [citado
2014 mar. 14];18(1):55-60. Disponível em:
http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10...
-66 Leonello VM, Oliveira MAC. Competencies for educational activities in
nursing. Rev Latino Am Enfermagem. 2008;16(2):177-83.).
O que se observa, entretanto, é que, muitas vezes, as ações realizadas por estas
equipes não caminham nesta direção, por estarem centradas na transmissão de
informações, dentro de um modelo tradicional, pouco direcionado para o
desenvolvimento da autonomia dos sujeitos(77 Alves GG, Aerts D. As práticas educativas em saúde e a Estratégia de
Saúde da Família.. Ciênc Saúde Coletiva 2011;16(1):319-25.), ainda que se reconheçam iniciativas, tanto nacionais quanto
internacionais, que sinalizam com tentativas de ruptura de um modelo educacional
tradicional na atenção primária(88 Carneiro ACLL, Souza V, Godinho LK, Faria ICM, Silva KL, Gazzinelli MF.
Educação para a promoção da saúde no contexto da atenção primária. Rev Panam Salud
Publica. 2012;31(2):115-20.
9 Silva P, Dias MSA, Rodrigues AB. Práxis educativa em saúde dos
enfermeiros da Estratégia Saúde da Família.. Ciênc Saúde Coletiva
2009;14(1):1453-62.
10 Trapé CA, Soares CB. Educative practice of community health agents
analyzed through the category of praxis.. Rev Latino Am Enfermagem
2007;15(1):142-9.-1111 Cano Fuentes G, Dastis Bendala C, Morales Barroso I, Manzanares Torné
ML, Fernández Gregorio A, Martín Romana L. A rondomised clinical trial to evaluate
the effectiveness of an educational intervention developed for adult asthmatics in a
primary care centre. Aten Primaria. 2014;46(3):117-39.).
Sabe-se que a escolha metodológica para a realização de uma prática educativa é pautada nas concepções de conhecimento, educação e dos sujeitos que integram a relação na ação educativa. Tais concepções revelam o modo como se entende a educação, ainda que de forma inconsciente, e definem o processo de acordo com o qual se organizam e se desenvolvem as situações educativas. Admite-se, ainda, que as práticas educativas podem se constituir em espaços de encontros com o outro, sendo este portador de diferentes culturas, saberes e conhecimentos. São também espaços de vivências, de produção de significados que vão sendo construídos em um determinado tempo e espaço histórico.
Para explicar por que o profissional de saúde desenvolve a prática educativa adotando
ou não uma postura dialógica, é preciso conhecer qual a sua concepção de
conhecimento, de educação e dos sujeitos que integram a relação na ação pedagógica. O
que se observa, na literatura, é que tais elementos se mantêm obscuros no campo da
educação em saúde, cuja ênfase, via de regra, recai sobre as estratégias de
ensino(99 Silva P, Dias MSA, Rodrigues AB. Práxis educativa em saúde dos
enfermeiros da Estratégia Saúde da Família.. Ciênc Saúde Coletiva
2009;14(1):1453-62.-1010 Trapé CA, Soares CB. Educative practice of community health agents
analyzed through the category of praxis.. Rev Latino Am Enfermagem
2007;15(1):142-9.,1212 Salci MA, Maceno P, Rozza SG, Silva DMGV, Boehs AE, Heidemann ITSB.
Educação em saúde e suas perspectivas teóricas: algumas reflexões. Texto Contexto
Enferm. 2013;22(1):224-30.). Estudos
que se destinam a práticas educativas na atenção primária são frequentemente
direcionados para os efeitos das estratégias sobre um determinado evento ou doença,
bem como seus respectivos transtornos, como dor lombar, dor de cabeça, depressão,
tabagismo e parasitoses. Ao privilegiar esses aspectos, tais estudos acabam deixando
uma lacuna na compreensão das concepções de educação, de conhecimento e de sujeito
que informam as práticas educativas desenvolvidas(1313 Díaz-Cerrillo JL, Rondón-Ramos A. Design of an educational tool for
Primary Care patients with chronic non-specific low back pain.. Aten Primaria
2014;47(2):117-23.
14 Braschinsky M, Haldre S, Kals M, Lofik A, Kivisild A, Korjas J, et al.
EHMTI-o259. Demonstrational project: to develop, implement and test an educational
model for better headache-related primary health care. J Headache Pain. 2014;15 Suppl
1:D3.
15 Garcia-Ortega I, Rodriguez J, Escobar-Martinez A, Kutcher S.
Implementing an educational program to enhance identification, diagnosis and
treatment of adolescent depression into Primary Care in Guatemala. Fam Med Medical
Sci Res. 2013;2(1):1000104.
16 Chamberlain C, O'Mara-Eves A, Oliver S, Caird J, Perlen S, Eades S et
al. Psychosocial interventions for supporting women to stop smoking in pregnancy.
Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD001055.-1717 Vasconcelos EM. Popular education as a tool for redirecting strategies
to deal with infectious and parasitic disease. Cad Saúde Pública.
1998;14(2):39-57.).
Partindo deste pressuposto, pretende-se investigar neste estudo a concepção de profissionais das ESF de Unidades Básicas de Saúde (UBS), em relação ao conhecimento, à educação e aos sujeitos que participam das ações pedagógicas por eles desenvolvidas. Para isto, serão analisadas as ações educativas grupais realizadas em unidades básicas de saúde, considerando-se especificamente o ponto de vista do encontro entre o usuário, o profissional de saúde e o conhecimento. Para esta análise, serão adotados como aliados alguns teóricos e suas propostas.
O estudo é relevante e justifica-se na medida em que oferece, a partir do diálogo entre a teoria e a prática, balizas que possam auxiliar o profissional de saúde no desenvolvimento de práticas educativas realizadas na atenção básica, a partir de uma concepção previamente estabelecida de conhecimento, de educação e dos sujeitos que integram esta ação, de forma integrada ao objetivo da ação pedagógica.
Método
Estudo de abordagem qualitativa, realizado com profissionais das ESF, de nível superior, integrantes da equipe de assistência e que realizaram ações educativas grupais de saúde em UBS de Belo Horizonte, em 2011. Os participantes das ações grupais situavam-se na faixa etária de 25 a 60 anos, sendo predominantemente mulheres e moradores de comunidades de baixa renda.
O processo investigativo decorreu de uma pesquisa anterior, de caráter quantitativo, em que um dos objetivos era investigar, nas práticas educativas realizadas nas UBS de Belo Horizonte, se era contemplado o princípio da dialogicidade. Sua amostragem foi de 20 UBS, sorteadas de forma randomizada e proporcional, do total das 144 UBS de Belo Horizonte(88 Carneiro ACLL, Souza V, Godinho LK, Faria ICM, Silva KL, Gazzinelli MF. Educação para a promoção da saúde no contexto da atenção primária. Rev Panam Salud Publica. 2012;31(2):115-20.).
Os resultados desta primeira investigação evidenciaram que 32% das práticas realizadas eram dialógicas e 66% não dialógicas, levando à indagação desta segunda pesquisa, em que se buscou investigar a concepção de conhecimento, educação e sujeito entre profissionais da ESF que realizavam tanto as ações dialógicas quanto as não dialógicas, no primeiro estudo. Os dados foram coletados, pela mesma pesquisadora, por meio de várias fontes de evidências, triangulando técnicas de observação participante com registro fotográfico e diário de campo; de entrevista com as profissionais; e de análise documental, de modo a aprofundar a análise das práticas quanto à interação estabelecida.
Foram entrevistadas duas enfermeiras, duas assistentes sociais, duas nutricionistas, uma fisioterapeuta, uma educadora física e uma psicóloga, com idade entre 25 e 53 anos, responsáveis pela realização das nove ações educativas nas UBS.
A análise documental foi realizada por meio do registro das práticas educativas desenvolvidas pelas profissionais, priorizando-se informações sobre o planejamento e o processo avaliativo. O fato de os registros se restringirem às datas de realização das práticas, ao número de participantes e ao público-alvo não favoreceu a utilização destas informações no processo de análise.
O processo de análise foi desenvolvido pela Análise de Conteúdo(1818 Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2004.) e discutido à luz de autores do campo da saúde e da educação.
A pesquisa foi realizada de acordo com as exigências da Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, revogada pela Resolução nº 466/12, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da ETIC nº 0067.0.410.410-10. Para diferenciar as falas dos sujeitos da pesquisa e preservar o anonimato, os profissionais de saúde foram identificados pela letra "P" seguida de um numeral ordinário. Os participantes das ações educativas grupais foram identificados por ordem numérica e diferentes letras do alfabeto, excetuando-se a letra "P".
Resultados
A partir das práticas educativas analisadas, foram identificados três padrões de
interação profissional-usuário-conhecimento. Para designar e caracterizar estes
padrões de relação, foram utilizadas categorias tomadas de empréstimo de
pesquisadores do campo da educação que assim nominam as interações no contexto
educacional(1919 Mortimer EF, Scott P. Atividade discursiva nas salas de aula de
ciências: uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. Invest
Ensino Ciênc [Internet]. 2002 [citado 2014 mar. 14];7(3):283-306. Disponível em:
http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID94/v7_n3_a2002
http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Art...
). Os padrões
encontrados foram: 1º) padrão de interação representado pela tríade Q-O-I (Questiona
os usuários, Ouve os usuários, Informa os usuários); 2º) padrão de interação Q-O
(Questiona os usuários, Ouve os usuários); e 3º) padrão de interação Q-O-P-P
(Questiona os usuários, Ouve os usuários, Problematiza com os usuários, Produz
conhecimento com os usuários).
No primeiro padrão, a crença que orienta a ação é a de que o educador ensina e o educando aprende. No segundo, é a de que o educando aprende de forma livre e espontânea, e, no terceiro, a de que educador e educando ensinam e aprendem juntos(2020 Not L. As pedagogias do conhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand; 1991.).
No padrão de interação Q-O-I, são situações exemplares as práticas educativas: Roda de Conversa sobre Diabetes, Oficina Direitos dos Idosos e Grupo Operativo para Gestantes.
Entre estas ações, a Roda de Conversa sobre Diabetes é apresentada detalhadamente. Participaram desse grupo dois homens e cinco mulheres, com idade entre 30 e 50 anos. A atividade é iniciada com a explicação, pela profissional de saúde aos participantes, sobre o objetivo do encontro, segundo ela, um bate-papo sobre Diabetes (P1). A profissional destaca ser um momento importante, já que pretende ensinar algumas coisas sobre Diabetes. Em seguida, pede aos usuários que falem um pouco sobre o que entendem por Diabetes. Eles respondem: Diabetes é uma doença que impede de comer as coisas (M1); É a mesma coisa de não ter nada (C1); Para mim é uma doença ruim que impede as pessoas de comerem as coisas e que pode até matar (F1); É uma peste porque a gente não pode comer nada (J1).
Durante a fala dos usuários, a profissional mantém-se em silêncio. Posteriormente, solicita que eles posicionem suas cadeiras em frente ao quadro negro, onde está afixado um cartaz que contém os tópicos O que é o Diabetes? Metabolismo da Glicose, e Equilíbrio de Glicose. Ela realiza a leitura na íntegra destes tópicos e passa a explicá-los, utilizando termos científicos como grupo de disfunções crônicas, receptor de insulina, molécula produzida no pâncreas (P1), sem esclarecer o significado destes termos. Não se reporta às noções prévias dos usuários reveladas anteriormente sobre Diabetes e, ao passar de um conceito ao outro, emprega frases do tipo: Agora que vocês já entenderam o que é o Diabetes, vamos aprender como é o metabolismo da glicose (P1). Daí em diante, repete os mesmos procedimentos, até o final da sessão.
Durante a entrevista, em resposta à questão sobre como procedeu a ação educativa, a profissional a descreve como uma roda de conversa. Eles têm que se expressar e, a partir da demanda deles, a gente vai corrigindo, ensinando o que é importante em cima daquilo. A intenção é que eles tenham um momento de informações, que eles coloquem os pontos deles e a gente pontue, colocando a informação correta (P1).
No padrão de interação Q-O, são situações exemplares: os Grupos de Convivência e Vivendo com Qualidade. O exemplo a ser detalhado refere-se ao Grupo Qualidade de Vida, integrado por 18 mulheres e dois homens, entre 30 e 50 anos. A profissional inicialmente solicita aos participantes que formem duplas, informando que o objetivo da atividade é que se conheçam melhor e discutam sobre qualidade de vida (P2). Explica que é uma oportunidade para eles se expressarem e interagirem, considerando que cada um tem muito a contribuir atuando com o outro para a melhora da qualidade de vida (P2).
Enquanto os usuários dialogam livremente, ela conversa com alguns funcionários da Unidade de Saúde, em frente ao salão onde se realiza a atividade. Minutos depois, ela retorna e pede que eles se apresentem para o grupo e, em seguida, exponham os resultados das discussões. Eles relatam: qualidade de vida é viver bem (G2); é ser feliz (N2); é ter uma alimentação saudável (F2); é praticar exercícios, ter alimentação balanceada e não beber (M2); ter qualidade de vida é não fumar, não usar drogas, não comer gorduras e ser magro (A2); não ter doenças (J2); é sair, dançar, conversar com os amigos (L2); ter saúde e fazer caminhada (A2).
A profissional escuta as falas e questiona o que seria necessário para concretizá-las. Os participantes respondem ao mesmo tempo até que uma toma a palavra e enfatiza: a maior dificuldade que eu sinto para colocar o que eu quero em prática está ligada aos meus problemas emocionais e à depressão. Quando não me sinto bem, como mal, durmo mal, sinto dores e tristeza profunda (N2). Neste momento, a profissional se dirige ao grupo e fala que é isso mesmo (P2). Em seguida, pede que conversem mais entre si. Depois de um tempo, finaliza a atividade, solicitando que continuem a refletir em casa (P2), e encerra com a música "O que É, O Que É?"(2121 Gonzaguinha. O Que É, O Que É? [CD]. Rio de Janeiro: Som Livre; 2004.).
Sobre a condução da ação educativa, durante a entrevista, comenta: Percebo o tempo todo o quanto o grupo é uma estratégia valiosa. Você vai conseguir que essas pessoas se socializem para que elas realmente possam se cuidar e se ajudar. Eu acho muito bom, porque eu acho que as pessoas nem param para pensar. Elas querem tudo pronto (...) As pessoas se esquecem do potencial dela (P2).
No Padrão de interação Q-O-P-P, são situações exemplares: os Grupos de Discussão Lian Gong e o de Educação Alimentar. No Grupo Lian Gong, o exemplo a ser detalhado teve como participantes 18 mulheres, de 25 a 60 anos. A profissional primeiramente informa às participantes que o objetivo da ação é que elas conversem e discutam sobre posturas e movimentos corporais, a partir dos [seus próprios] conhecimentos e do modo como o grupo realiza as atividades físicas diárias em casa e no trabalho (P3). Em seguida, coloca uma música e conduz o grupo para a realização de movimentos corporais variados. Depois, pede às participantes que se sentem em círculo, para a Hora de Dialogar (P3). Informa que irão refletir sobre hábitos de vida e os define como algo que se faz rotineiramente sem se perceber a forma como se faz. Aquilo que a gente aprende e repete diariamente, sem refletir sobre como estamos executando (P3).
No momento seguinte, a profissional questiona as participantes sobre como têm realizado as atividades do dia a dia e sobre como veem a relação entre elas e o próprio corpo. As participantes discorrem sobre suas atividades profissionais e as tarefas de casa, como lavar roupa e varrer: eu gosto de arrumar a casa, mas detesto lavar roupas, pois sempre que acabo o serviço sinto dores no corpo (N3); eu trabalho fazendo costuras para fora. Adoro meu trabalho, mas fico várias horas sentada na mesma posição, de modo desconfortável. Chega no fim do dia, tô com o corpo cansado e acabo ficando estressada com os filhos (T3); Meu trabalho é no salão, os meus braços sempre ficam doloridos no final do dia (M3).
Na sequência, a profissional pergunta sobre a postura corporal adotada durante estas atividades, a frequência com que são executadas e a altura ideal para o posicionamento dos objetos dispensados às tarefas, em relação ao corpo. Elas respondem: eu tenho um banquinho em casa para quando sento no sofá colocar os pés, para não ficarem soltos no ar. Isso ajuda a evitar dores nas pernas e facilita a circulação do sangue (S3); eu me lembrei de uma receita de escalda-pés para alívio da dor e cansaço, com água morna, um pouco de sal e umas gotas de óleo ou essência de menta. Os pés ficam na água uns vinte minutos. Essa receita era usada pelos meus avós, que passaram para minha mãe (T3); sabe que é bom também? Colocar folhas de arruda ou de hortelã na água (...) (A3).
As sugestões apresentadas pelas participantes são reforçadas pela profissional, com a explicação científica sobre o uso da menta, da hortelã e da ação da água morna para alívio da tensão muscular. Uma das usuárias toma a palavra e diz que, para facilitar a lavagem das louças e evitar dores e desgastes da coluna, ela utiliza pedaços de madeira para deixar os braços proporcionais à altura da pia. Em seguida, outra participante demonstra os exercícios que realiza todas as manhãs para fortalecer a musculatura.
A profissional ressalta a importância de se ficar atento às medidas de segurança para evitar acidentes. Reforça a necessidade de os braços ficarem em uma altura ideal para a realização das atividades. Exemplifica o quão simples mudanças na postura, como no caso de abaixar para pegar um objeto, fazem diferença para o bem-estar do corpo. Explica o posicionamento anatômico e o movimento da coluna vertebral, mostrando estes movimentos ao grupo, com a colaboração de uma das participantes para essa demonstração. Ao final, a profissional esclarece sobre a postura do corpo, as principais causas associadas ao desvio de coluna e aos possíveis transtornos daí decorrentes.
Durante a entrevista, ao falar sobre o tipo de abordagem utilizada na prática educativa, ela relata: Eu fui aproveitando do que elas tinham dúvida, tem que aproveitar, fazer um gancho com o saber delas. A Hora de Dialogar é para que elas conversem, troquem informações e eu aproveito para ver as questões, fazer as colocações necessárias. Vamos achando soluções juntas, porque não adianta eu chegar e falar o que é certo ou errado, tem que conversar e juntas encontrarmos soluções, partindo do que elas fazem (P3).
Discussão
Na primeira situação concernente ao padrão de interação Q-O-I (profissional questiona os usuários, ouve e informa), o conhecimento dos usuários é considerado apenas para favorecer o educador com a introdução das informações científicas. Nas ações assim categorizadas, os profissionais optam por direcionar a ação educativa de forma desvinculada das informações fornecidas pelos participantes do grupo. O intuito é assegurar a assimilação de informações consideradas pelo profissional como necessárias. Escamoteiam-se os conflitos entre os conhecimentos, assumindo-se somente a realidade dada pelo grupo dominante(2222 Santos BS. Para uma pedagogia do conflito. In: Freitas ALS, Moraes SC, organizadores. Contra o desperdício da experiência: a pedagogia do conflito revisitada. Porto Alegre: Redes Ed.; 2009. p. 15-40.). A crença subjacente é a de que o saber é organizado de fora para dentro e que a educação consiste em uma espécie de enxerto, no outro, de produções externas destinadas a formá-lo(2020 Not L. As pedagogias do conhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand; 1991.).
O método, nesse caso, tende a se organizar em um sistema de relações entre o saber e
as pessoas num sentido único da transmissão de conteúdos culturais, por referência a
valores e normas consideradas ideais. Os saberes do senso comum são recusados ou
funcionalizados(2323 Santos BS. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da
experiência: para um novo senso comum. 4ª ed. São Paulo: Cortez;
2002.). O
procedimento de ouvir os usuários não se configura como um recurso capaz de
interferir no desenvolvimento da ação pedagógica. Ouvir é uma dinâmica com o outro,
tanto na sua dimensão cognitiva quanto na afetiva(22 Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 39ª ed. São Paulo: Paz e Terra; 1996.) - processo ausente nessa situação. Estudos confirmam que,
muitas vezes, o movimento do profissional de saúde educador centra-se na mudança de
comportamento e, para tal, utiliza técnicas de convencimento e de transmissão de
informações(44 Machado MFAS, Monteiro EMLM, Queiroz DT, Vieira NFC, Barroso MGT.
Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS: uma
revisão conceitual. Ciênc Saúde Coletiva. 2007;12(2):335-42.
5 Sousa LB, Torres CA, Pinheiro PNC, Pinheiro AKB. Práticas de educação em
saúde no Brasil: a atuação da enfermagem. Rev Enferm UERJ [Internet]. 2010 [citado
2014 mar. 14];18(1):55-60. Disponível em:
http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10...
-66 Leonello VM, Oliveira MAC. Competencies for educational activities in
nursing. Rev Latino Am Enfermagem. 2008;16(2):177-83.,88 Carneiro ACLL, Souza V, Godinho LK, Faria ICM, Silva KL, Gazzinelli MF.
Educação para a promoção da saúde no contexto da atenção primária. Rev Panam Salud
Publica. 2012;31(2):115-20.
9 Silva P, Dias MSA, Rodrigues AB. Práxis educativa em saúde dos
enfermeiros da Estratégia Saúde da Família.. Ciênc Saúde Coletiva
2009;14(1):1453-62.-710 Trapé CA, Soares CB. Educative practice of community health agents
analyzed through the category of praxis.. Rev Latino Am Enfermagem
2007;15(1):142-9.). A percepção subjacente, neste caso, é a de que a
educação em saúde é uma estratégia capaz de transmitir conteúdos, orientar e ensinar,
principalmente, a prevenir doenças(44 Machado MFAS, Monteiro EMLM, Queiroz DT, Vieira NFC, Barroso MGT.
Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS: uma
revisão conceitual. Ciênc Saúde Coletiva. 2007;12(2):335-42.,55 Sousa LB, Torres CA, Pinheiro PNC, Pinheiro AKB. Práticas de educação em
saúde no Brasil: a atuação da enfermagem. Rev Enferm UERJ [Internet]. 2010 [citado
2014 mar. 14];18(1):55-60. Disponível em:
http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10...
).
Na segunda situação, referente ao padrão de interação Q-O (profissional questiona e ouve o usuário), o participante é considerado o elemento central da ação educativa, cuja direção ele próprio assume. Neste caso, a ação educativa é marcada pelo silêncio do profissional ao ficar livre em relação aos usuários, na tentativa de forçá-los a assumir a autogestão na situação de aprendizagem(2020 Not L. As pedagogias do conhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand; 1991.). A ideia subjacente é a de que a experiência comum ou rotineira dos usuários propicia um mergulho na dimensão subjetiva, traduzindo-se em uma experiência capaz de favorecer o processo de significação. O usuário é visto como alguém que possui esquemas conceituais inatos, prontos. Resta ao profissional a tarefa de deixá-los emergir e revelar sua potência.
No momento em que as pessoas falam umas com as outras sobre o que pensam em relação à qualidade de vida, há, sem dúvida, um confronto entre diferentes tipos de conhecimento do senso comum que leva à construção de novos conhecimentos(2323 Santos BS. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência: para um novo senso comum. 4ª ed. São Paulo: Cortez; 2002.). Esses conhecimentos, denominados como saber de experiências feitas(22 Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39ª ed. São Paulo: Paz e Terra; 1996.), ao se interpenetrarem, tornam-se responsáveis pela ativação de processos recíprocos de crítica(2424 Santos BS. Um discurso sobre as ciências. 2ª ed. São Paulo: Cortez; 2004.), mas que ainda necessitam de um dispensar de argumentação entre o profissional e os participantes. Na situação exemplificada, a profissional procede de modo a dispensar a argumentação e a problematização e, ao agir assim, corre o risco de renunciar àquilo que constitui a característica fundamental da ação pedagógica de gestar processo de ensino. O ocorrido pode ser nominado desperdício da experiência comum(2222 Santos BS. Para uma pedagogia do conflito. In: Freitas ALS, Moraes SC, organizadores. Contra o desperdício da experiência: a pedagogia do conflito revisitada. Porto Alegre: Redes Ed.; 2009. p. 15-40.), processo no qual se impede o conflito entre os conhecimentos, impossibilita-se a distribuição mais equitativa das competências argumentativas dos diferentes tipos de conhecimentos, a sua interpenetração e a consequente superação dos seus limites, com o fortalecimento das suas potencialidades.
Em relação à terceira situação exemplificada, identificada pelo padrão Q-O-P-P
(profissional questiona, ouve, problematiza e produz conhecimento novo com o grupo),
observa-se uma ação direcionada ao conhecimento dos participantes do grupo, ao mesmo
tempo que o profissional traz informações e responde às dúvidas, valorizando as
experiências compartilhadas. Na fala da profissional responsável pela Hora de
Dialogar, denota-se a crença subjacente de que o educando só será capaz
de construir um novo conhecimento se ele agir e problematizar a sua ação(2020 Not L. As pedagogias do conhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand;
1991.,2525 Becker F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed;
2001. Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos; p. 15-32.). Relato de experiência exitosa em que se promovem ações
educativas por meio da metodologia de problematização demonstra que nela os sujeitos
não são considerados meros receptores, pois agem num trabalho colaborativo com o
profissional na busca de soluções para as questões cotidianas(2626 Pedrosa KKA, Castro LO, Pereira W. Enfermagem e educação em saúde na
Atenção Básica: uma experiência no Bairro de Mãe Luíza, Natal, RN. R Pesq Cuid
Fundam. [Internet]. 2012 [citado 2014 mar. 16];4(4):2806-15. Disponível em:
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1603/pdf
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuid...
). Notadamente, pode-se verificar que
nesta ação educativa é quebrada a hierarquia entre um que sabe e outro que não sabe,
e há o reconhecimento dos diferentes saberes de ambos. Observa-se uma relação de
reciprocidade, menos assimétrica, em que ambos assumem compromissos e
responsabilidades, sem subordinação nem justaposição, numa relação
constitutiva(2020 Not L. As pedagogias do conhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand;
1991.).
O que caracteriza esta ação é que o profissional não impõe seu saber e conversa sobre a razão de ser da sua visão e a do usuário. Isso acontece porque ele possui a disponibilidade interna para que este diálogo ocorra e, sobretudo, confiança no seu potencial emancipador. O conflito epistemológico que se instaura a partir desta ação abre possibilidades para os usuários incrementarem, refazerem ou ressignificarem suas descobertas. Ambos, educadores e educandos, se tornam sujeitos no processo vivido, afetados uns pelos outros. Pode-se dizer que ocorre um processo de redução das áreas de não saber, de desconhecimento, de ambas as partes - que faz com que o espaço educativo se configure como um ambiente de coprodução(2424 Santos BS. Um discurso sobre as ciências. 2ª ed. São Paulo: Cortez; 2004.).
Com a finalidade de ampliar a análise dos três padrões de interação, vale referir as
possibilidades de compreensão do processo educativo à luz da filosofia da
diferença(2626 Pedrosa KKA, Castro LO, Pereira W. Enfermagem e educação em saúde na
Atenção Básica: uma experiência no Bairro de Mãe Luíza, Natal, RN. R Pesq Cuid
Fundam. [Internet]. 2012 [citado 2014 mar. 16];4(4):2806-15. Disponível em:
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1603/pdf
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuid...
). Nessa
concepção, o encontro entre profissional, usuário e conhecimento pode ser considerado
um acontecimento. Isto significa dizer que no fragmento extraído do cotidiano de uma
unidade de saúde pode irromper o acontecimento - algo novo, singular, de curso
indeterminado, que não é o que acontece, mas no que acontece. O acontecimento não se
refere às coisas, aos objetos e aos corpos. Não é a materialidade presente, nem o que
é visível na situação de ensino. Não se refere aos sujeitos que a integram - o
profissional e o usuário - tampouco às coisas e aos objetos que a compõem. O
acontecimento é um incorpóreo - não se limita às coisas nem ao estado de coisas, à
qualidade, nem às propriedades físicas - não se pode dizer que exista, mas, antes,
que subsiste ou insiste nos corpos(2727 Deleuze G. Lógica do sentido. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva;
1988.).
Por subsistir entre as pessoas, objetos, seres, coisas, etc, o acontecimento será de natureza imprevisível(2727 Deleuze G. Lógica do sentido. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva; 1988.). A profissional do terceiro padrão de interação - planeje a ação, escolha o tema e defina a provocação que irá originar a discussão - não conseguirá prever a direção que esta ação pode tomar, já que a ordem do acontecimento é o devir. O esforço da profissional em planejar a ação é insuficiente para exaurir a realidade, o que está por vir. Ela deixa fluir o inesperado na ação educativa. Esta postura caracteriza-se como um modo de atenção aberto à invenção. Deixar vir o que acontece na ação entre profissional, usuário e conhecimento foge ao esperado e quebra qualquer tipo de expectativa. Isso permite ao acontecimento efetuar-se.
Na primeira e na segunda situações apresentadas, não há espaço para o incidente, o imprevisto. As profissionais sabem de antemão o curso da ação educativa, já que não se abre para o novo, o inesperado - que advém do cruzamento dos diferentes tipos de conhecimento insurgentes. Perde-se com isto a condição do acontecimento na situação educativa, aquilo que interrompe o fluxo naturalizado da ação educativa para a criação de outros sentidos e problemáticas a serem enfrentadas.
Na terceira situação, tudo acontece quando a profissional pergunta às usuárias o que fazem e como fazem no dia a dia. Escuta suas dores, queixas e as maneiras inventivas de solucioná-las. Neste movimento, agencia os discursos, fazendo sobressair e encher de significados o que já tem sentido em si, considerando que o sentido é o próprio acontecimento expresso. Quando as usuárias trazem à memória as experiências vividas corporalmente e falam do que usam para aliviar as dores, enunciam-se naquele coletivo novos conhecimentos, devires, novos modos de cuidado em saúde.
No contexto, as participantes não são consideradas apenas uma interioridade ou tabula rasa, o conhecimento não é assimilado a partir daquele que sabe, como observado na primeira situação, não é visto somente como o que existe no seu interior, conforme identificado na segunda situação. Ele é produzido, insurgente das conexões que se dão no entre, assumindo o caráter de invenção, de criação, de acontecimento. Quando o acontecimento irrompe, cria-se um campo de imanência para o exercício do pensamento e da alteridade. Surge um novo espaço-tempo para o pensamento e o exercício de subjetivação(2727 Deleuze G. Lógica do sentido. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva; 1988.).
Dialogar configura-se como o maior exercício de alteridade. A alteridade é mais do
que reconhecer o direito à diferença do outro, é "desejar encontros com o outro que
nos arranquem da condição de permanecermos os mesmos, provocando-nos para diferentes
formas de ser-estar no mundo"(2828 Dinis NF. Educação, cinema e alteridade. Educar (Curitiba) [Internet].
2005 [citado 2014 mar. 16];26(1):67-79. [citado 2014 mar. 16]. Disponível em:
http://educa.fcc.org.br/pdf/er/n26/n26a06.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/er/n26/n26a0...
).
Na primeira e na segunda situações, seja pela ênfase dada ao conhecimento elaborado,
seja pelo primado do conhecimento comum, o processo de desacomodação do sujeito
parece não ocorrer. Sem a desacomodação não há o diálogo como constituinte de novas
formas de subjetivação.
O processo de subjetivação circula nos conjuntos sociais e é assumido e vivido pelos seres, por meio de uma produção ativa, que ocorre na multiplicidade de componentes que se conectam, desconectam e reconectam(2727 Deleuze G. Lógica do sentido. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva; 1988.). Diferentemente dos padrões de interação, exemplificados na primeira e na segunda situações, em que não há o acaso do encontro, os acontecimentos da terceira situação propiciam pequenas transformações, que fazem funcionar outros registros de saber e ser no mundo que escapam ao nexo identitário, às conceituações analógicas e causativas. "O ato singular se coletiviza e todo ato coletivo se singulariza (...) não há sujeitos, objetos ou ações centradas em um ou outro; há projetos, acontecimentos, individuações sem sujeito. Todo projeto é coletivo. Todo valor é coletivo. Todo fracasso também"(2929 Gallo S. Deleuze e a educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica; 2008.).
Nos processos educativos similares ao descrito no tipo de interação Q-O-P-P, exemplificados na terceira situação, a transformação da realidade parte dos encontros entre as afetações e afecções emergentes do coletivo, na potência de uma micropolítica revolucionária. É revolucionária na medida em que, no coletivo, localiza-se a ação de um educador militante(2929 Gallo S. Deleuze e a educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica; 2008.), que busca a superação de uma educação tradicional, de legitimidade apenas ao conhecimento hegemônico-científico. O acontecimento age no presente, produzindo possibilidades de se inventar um aprendizado fugitivo, que escapa e resiste ao controle. Educador e educando tornam-se parte de um coro - uma polifonia de saberes, posturas e histórias - que compõe a multiplicidade de um novo território de práxis e sentidos, onde o conhecimento é inacabado.
Assim, a captação de momentos de interação profissional, participante, conhecimento efetuado neste estudo, permite a observação de que, nos dois primeiros tipos de interação Q-O-I e Q-O, não há um rompimento com os modos usuais de conceituação da realidade, e sim uma continuidade.
No modelo de interação Q-O-I, o que se vê é a utilização do conhecimento dos participantes com o intuito, prévio, de corrigir e repassar as informações consideradas corretas. Na Roda de Conversa sobre Diabetes, quando a profissional questiona sobre o conhecimento e em seguida transmite o conhecimento científico sobre o tema, registra-se apenas o fluxo cognitivo habitual dos participantes. Eles ouvem uma explicação sobre um objeto do qual já dispõem de algum conhecimento. Nesta circunstância, o conhecimento é recolocado, ou seja, repetidamente posto em foco, podendo ser entendido como um processo de recognição.
No modelo de interação Q-O, não há experiências de ruptura, e sim de continuidade de um conhecimento, que já se tinha previamente. Na prática Vivendo com Qualidade, em que os usuários conversam livremente sobre o que pensam acerca de qualidade de vida, identifica-se que os participantes permanecem encerrados em seus universos conceituais. Esta condição se caracteriza, portanto, por não conduzir ao diálogo ou à construção de conhecimento.
Já o modelo de interação Q-O-P-P caracteriza-se como uma experiência que, ao promover o diálogo, rompe com os usuais modos de conhecer, engendrando novas formas de pensar e agir(33 Mascarenhas NB, Melo CMM, Fagundes NC. Produção do conhecimento sobre promoção da saúde e prática da enfermeira na atenção Primária. Rev Bras Enferm. 2012;65(6):991-9.). Na Hora de dialogar, a profissional, ao fazer-acontecer em uma Unidade de Saúde, inscreve-se juntamente com os participantes em um movimento de luta social e política. Esta ação educativa, embora aconteça na micropolítica, tem potencial de reverberação na educação maior - das políticas públicas.
Assim, o simples ato cognoscente pode tornar-se um ato de resistência. O reconhecimento por parte do outro de que ele é um sujeito cognoscente, capaz de autopercepção da sua condição no mundo, capaz de exercer a sua vocação humana de ser mais(22 Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39ª ed. São Paulo: Paz e Terra; 1996.), pode, no pequeno e corriqueiro mundo da Unidade, se insurgir como uma resistência contra os fluxos instituídos e a forma hegemônica de fazer a educação em saúde.
Mas, para que a educação em saúde venha a contribuir para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado, para o exercício da cidadania e do controle social, conforme preconizado pelas politicas públicas, é necessário que seja acrescentado à terceira situação o exercício de pensar as dores produzidas no corpo, para além da sua dimensão física e corporal, bem como de inventar para essas dores estratégias de enfrentamento que ultrapassem as fronteiras da técnica. Neste sentido, para não ficar aquém do propósito do desenvolvimento da autonomia, a prática educativa não poderia prescindir da discussão sobre os modos de vida e as práticas sociais dos sujeitos. Há uma valorização deste tipo de prática educativa que se caracteriza por uma proposta de emancipação marcada pela indissociabilidade entre a dimensão epistemológica e a dimensão política(2424 Santos BS. Um discurso sobre as ciências. 2ª ed. São Paulo: Cortez; 2004.).
Nesta perspectiva, a educação se converteria em um modo de conduzir os sujeitos por uma trajetória de um determinado ponto, nomeado ignorância, a outro, nomeado saber. Ou seja, do percurso da ignorância, entendida como a incompreensão sobre a sua condição, que é um tipo de colonialismo, a outro que pressupõe a consciência solidária dos múltiplos aspectos que determinam os seus modos de viver, bem como as atividades que se realizam no cotidiano.
A consciência solidária e o senso comum emancipatório são alcançados quando os sensos comuns vão entrando em confronto para construírem novos conhecimentos, mais críticos, mais poderosos, e quando significações são partilhadas e estendidas a partir dos contextos locais imediatos(2323 Santos BS. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência: para um novo senso comum. 4ª ed. São Paulo: Cortez; 2002.). Neste caso, as práticas educativas poderiam efetivamente contribuir para o desenvolvimento de novas relações profissional-usuário, dessa vez, congruentes com as diretrizes políticas da educação em saúde.
Conclusão
Nesta investigação, o intuito foi lançar luz aos métodos de ensino empregados na atenção básica, permitindo-se o acesso aos modos de condução das situações educativas. Os métodos trazem em si, de modo subjacente, concepções de conhecimento e do sujeito. Identificar as estratégias de ensino muitas vezes torna-se insuficiente para a compreensão do fenômeno educativo, considerando-se que são apenas componentes operacionais dos métodos que estão vinculados a um ideário pedagógico que funciona apenas como meio para o alcance dos fins. Espera-se que este estudo possa contribuir para discussões sobre a educação em saúde, tendo por princípio os propósitos do Ministério da Saúde e das políticas públicas para a Educação em Saúde.
Ademais, cabe reconhecer a importância deste conhecimento para a ressignificação da prática de enfermagem, considerando-se a relevância da educação na assistência prestada ao individuo e à coletividade, na manutenção e na promoção da saúde. A educação em saúde, quando se desenvolve por meio da escuta, da problematização e da produção conjunta do conhecimento, concretiza-se como um exercício de autonomia, favorece o processo de construção da cidadania, potencializando a expressão do cidadão nas diferentes dimensões do cuidado e do autocuidado.
-
1Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) [Internet]. Brasília; 2011. [citado 2014 mar. 14]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html -
2Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39ª ed. São Paulo: Paz e Terra; 1996.
-
3Mascarenhas NB, Melo CMM, Fagundes NC. Produção do conhecimento sobre promoção da saúde e prática da enfermeira na atenção Primária. Rev Bras Enferm. 2012;65(6):991-9.
-
4Machado MFAS, Monteiro EMLM, Queiroz DT, Vieira NFC, Barroso MGT. Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. Ciênc Saúde Coletiva. 2007;12(2):335-42.
-
5Sousa LB, Torres CA, Pinheiro PNC, Pinheiro AKB. Práticas de educação em saúde no Brasil: a atuação da enfermagem. Rev Enferm UERJ [Internet]. 2010 [citado 2014 mar. 14];18(1):55-60. Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10.pdf
» http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10.pdf -
6Leonello VM, Oliveira MAC. Competencies for educational activities in nursing. Rev Latino Am Enfermagem. 2008;16(2):177-83.
-
7Alves GG, Aerts D. As práticas educativas em saúde e a Estratégia de Saúde da Família.. Ciênc Saúde Coletiva 2011;16(1):319-25.
-
8Carneiro ACLL, Souza V, Godinho LK, Faria ICM, Silva KL, Gazzinelli MF. Educação para a promoção da saúde no contexto da atenção primária. Rev Panam Salud Publica. 2012;31(2):115-20.
-
9Silva P, Dias MSA, Rodrigues AB. Práxis educativa em saúde dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família.. Ciênc Saúde Coletiva 2009;14(1):1453-62.
-
10Trapé CA, Soares CB. Educative practice of community health agents analyzed through the category of praxis.. Rev Latino Am Enfermagem 2007;15(1):142-9.
-
11Cano Fuentes G, Dastis Bendala C, Morales Barroso I, Manzanares Torné ML, Fernández Gregorio A, Martín Romana L. A rondomised clinical trial to evaluate the effectiveness of an educational intervention developed for adult asthmatics in a primary care centre. Aten Primaria. 2014;46(3):117-39.
-
12Salci MA, Maceno P, Rozza SG, Silva DMGV, Boehs AE, Heidemann ITSB. Educação em saúde e suas perspectivas teóricas: algumas reflexões. Texto Contexto Enferm. 2013;22(1):224-30.
-
13Díaz-Cerrillo JL, Rondón-Ramos A. Design of an educational tool for Primary Care patients with chronic non-specific low back pain.. Aten Primaria 2014;47(2):117-23.
-
14Braschinsky M, Haldre S, Kals M, Lofik A, Kivisild A, Korjas J, et al. EHMTI-o259. Demonstrational project: to develop, implement and test an educational model for better headache-related primary health care. J Headache Pain. 2014;15 Suppl 1:D3.
-
15Garcia-Ortega I, Rodriguez J, Escobar-Martinez A, Kutcher S. Implementing an educational program to enhance identification, diagnosis and treatment of adolescent depression into Primary Care in Guatemala. Fam Med Medical Sci Res. 2013;2(1):1000104.
-
16Chamberlain C, O'Mara-Eves A, Oliver S, Caird J, Perlen S, Eades S et al. Psychosocial interventions for supporting women to stop smoking in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD001055.
-
17Vasconcelos EM. Popular education as a tool for redirecting strategies to deal with infectious and parasitic disease. Cad Saúde Pública. 1998;14(2):39-57.
-
18Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2004.
-
19Mortimer EF, Scott P. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. Invest Ensino Ciênc [Internet]. 2002 [citado 2014 mar. 14];7(3):283-306. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID94/v7_n3_a2002
» http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID94/v7_n3_a2002 -
20Not L. As pedagogias do conhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand; 1991.
-
21Gonzaguinha. O Que É, O Que É? [CD]. Rio de Janeiro: Som Livre; 2004.
-
22Santos BS. Para uma pedagogia do conflito. In: Freitas ALS, Moraes SC, organizadores. Contra o desperdício da experiência: a pedagogia do conflito revisitada. Porto Alegre: Redes Ed.; 2009. p. 15-40.
-
23Santos BS. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência: para um novo senso comum. 4ª ed. São Paulo: Cortez; 2002.
-
24Santos BS. Um discurso sobre as ciências. 2ª ed. São Paulo: Cortez; 2004.
-
25Becker F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed; 2001. Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos; p. 15-32.
-
26Pedrosa KKA, Castro LO, Pereira W. Enfermagem e educação em saúde na Atenção Básica: uma experiência no Bairro de Mãe Luíza, Natal, RN. R Pesq Cuid Fundam. [Internet]. 2012 [citado 2014 mar. 16];4(4):2806-15. Disponível em: http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1603/pdf
» http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/1603/pdf -
27Deleuze G. Lógica do sentido. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva; 1988.
-
28Dinis NF. Educação, cinema e alteridade. Educar (Curitiba) [Internet]. 2005 [citado 2014 mar. 16];26(1):67-79. [citado 2014 mar. 16]. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/pdf/er/n26/n26a06.pdf
» http://educa.fcc.org.br/pdf/er/n26/n26a06.pdf -
29Gallo S. Deleuze e a educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica; 2008.
-
*
Extraído das dissertações "Práticas educativas nas Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte e sua relação com a promoção da saúde" e "Práticas Educativas na Atenção Básica: um estudo de caso sobre métodos de ensino", Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, 2010/2011
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Mar-Apr 2015
Histórico
-
Recebido
01 Jul 2014 -
Aceito
28 Jan 2015