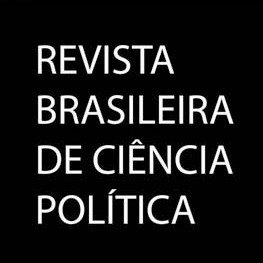Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin, Michel Foucault, Gilles Deleuze e Giorgio Agamben estão entre os autores citados por Byung-Chul Han na obra Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. O filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha e especialista em Hegel, apresenta aos seus leitores um texto com um eixo de análise bastante perturbador: a liberdade como um elemento coercitivo. O autor mostra como o neoliberalismo estruturou suas formas de poder explorando tudo aquilo que está na dimensão da liberdade: a emoção, o jogo e a comunicação. O sujeito neoliberal, empreendedor de si mesmo, e a própria base da internet favoreceram a cristalização dessa percepção de mundo na contemporaneidade.
Para fazer a análise presente nessa obra, o autor volta em inúmeros momentos ao longo do texto às análises clássicas sobre a modernidade e a estruturação da sociedade capitalista industrial. Assim, em um primeiro momento, Marx aparece para falar das contradições entre forças produtivas e relações de produção para mostrar as transformações do capital, no qual recursos como: matérias primas, maquinaria, ferramentas etc. trouxeram ao palco da história um cenário sem precedentes nas formas pelas quais as sociedades exerciam suas inúmeras maneiras de trabalhar. Diante disso, relações de trabalho longevas enraizadas nas mais variadas partes do mundo foram profundamente alteradas pelo avanço do capital. Han segue essa linha de raciocínio ao apresentar as peculiaridades das relações econômicas na era neoliberal, em que surge a ideia do trabalhador que se converte em um empreendedor de si mesmo, que mudam, consequentemente, as interpretações consagradas das relações entre proletariado e burguesia. Pode-se afirmar que os elementos desencadeadores dessa nova fase foram as mudanças tecnológicas inéditas trazidas pela ascensão da economia informacional (CASTELLS, 1999CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. A sociedade em rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 1999. [v. 1].). Nessa nova fase, houve uma reorganização da divisão internacional do trabalho e redefinições fundamentais na política e na cultura. O empreendedor de si mesmo, personagem típico dos nossos dias, abraça a concepção ilusória de sua liberdade enquanto gestor de seu tempo e de sua produção. Como resultado, os discursos e as práticas em torno desse processo acabam ocultando a ampliação sem precedentes da gigantesca dominação do capital que marca a era do neoliberalismo (momento histórico no qual a ditadura do proletariado aparece sepultada no horizonte histórico). Ou seja, o capital adentrou de maneira absoluta em todas as esferas das vidas das pessoas.
Ao longo de todo livro, Byung-Chul Han exibe um conjunto de transformações profundas no capitalismo. Economia, cultura, política e sociedade interagem nesse processo. O leitor é conduzido, em um primeiro momento, ao conceito de ditadura da transparência, que pode ser definido como a maneira pela qual a liberdade foi apropriada pelo neoliberalismo e se espraiou através dos meios digitais. Nesse contexto, diferente do panóptico de Jeremy Bentham, as novas formas de domínio colocadas em vigor estimulam o contato e um tipo específico de comunicação. O Grande Irmão orwelliano fragmenta-se. A exigência de transparência em todos os âmbitos das sociedades que se querem democráticas atinge amplos espaços. Contudo, tal ação não exige engajamento político, mas gera uma espécie de passividade em que os mecanismos de exposição transformam as pessoas em espectadores e consumidores, não em cidadãos.
Han articula a ideia central da obra aos big data e sua capacidade de concentrar um vasto conjunto de informações sobre as pessoas na atualidade. Segundo ele:
Hoje, caminhamos para a era da psicopolítica digital, que avança da vigilância passiva ao controle ativo, empurrando-nos, assim, para uma nova crise da liberdade: até a vontade própria é atingida. Os big data são um instrumento psicopolítico muito eficiente, que permite alcançar um conhecimento abrangente sobre as dinâmicas da comunicação social. Trata-se de um conhecimento de dominação que permite intervir na psique e que pode influenciá-la em um nível pré-reflexivo (HAN, 2018HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte; Veneza: Editora Âyiné, 2018., p. 23, itálicos do autor).
As formas de conhecimento e dominação citadas pelo autor são difusas e têm raízes nas etapas anteriores do capitalismo. Nelas sua ação se expressava por meio da violência e da repressão. A disciplina foi um de seus componentes. Han chama os dispositivos vigentes de subjugação estabelecidos pelo neoliberalismo de poder inteligente. Destarte, um dos desdobramentos observados foi o surgimento daquilo que ele define como: “capitalismo de curtir”.
Foucault aparece como uma referência fundamental para se analisar as formas de poder estabelecidas desde o final do século XVIII. Byung-Chul Han utiliza a obra Vigiar e punir: história da violência nas prisões para fundamentar sua discussão. O poder disciplinar substituiu o poder de morte vindo das mãos do soberano. O corpo, a partir de então, foi alvo de uma série de tecnologias de poder e saber. Sua função dentro de um regime que visava a produção capitalista no sentido industrial era a reprodução, a taxa de natalidade, as políticas sanitárias e as preocupações demográficas. No conjunto de sua produção intelectual, o filósofo francês denomina esses fatores de biopolítica. Logo, o mundo industrial que se consolidou a partir da segunda metade do século XVIII teve nesse fator um elemento central: a disciplina sobre o corpo e toda uma gama de saberes em torno do homem cujo eixo norteador era o trabalho em série nas fábricas.
No entanto, o próprio Michel Foucault percebeu que sua análise dizia respeito a uma etapa histórica ultrapassada. Em meados da década de setenta (Vigiar e punir teve sua primeira edição em 1975), o capitalismo tomava outra configuração. O paradigma neoliberal não terá a ênfase no biológico, no somático, no corpóreo, ele “descobre a psique como força produtiva” (HAN, 2018HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte; Veneza: Editora Âyiné, 2018., p. 40, itálico do autor). Desse modo, todo o universo foucaultiano desmorona. O corpo deixa de ser uma engrenagem central na produção, mas continua sendo apropriado pelo capital, entre outras coisas, como um fator de otimização estética (sexy, fitness, intervenções cirúrgicas etc.). Mesmo no que diz respeito à tecnologia do eu, Foucault não concebeu a possibilidade do regime neoliberal de apropriar-se delas. Tem-se, portanto, a configuração do cenário histórico que gerou o empreendedor de si mesmo, que redimensionou os conceitos de liberdade e exploração dentro do capitalismo.
As novas técnicas de poder neoliberais esquadrinham a dimensão da psique com estratégias, como workshops de gestão pessoal, aumento da eficiência, inteligência emocional e todo um conjunto de medidas buscando a otimização do trabalho. É o capital perscrutando a dimensão sensível de existência humana tentando manipular seus aspectos mais complexos, como a eliminação da negatividade e o aumento da positividade emocional e social. Em um cenário como esse, a literatura da autoajuda prolifera ao mesmo tempo em que doenças como depressão e síndrome de burnout tornam-se cada vez mais comuns.
Sutileza. Esta palavra define de maneira precisa as novas formas de dominação dentro do neoliberalismo. O livro faz críticas às teses que insistem em afirmar o caráter espesso que elas possuiriam e a ênfase em observar suas práticas truculentas no contexto em questão. Han questiona as ideias de Naomi Klein na obra A doutrina do choque na qual a autora centra suas opiniões nos aspectos mais explícitos do regime neoliberal, em particular as consequências socioeconômicas e os conflitos militares. Para o pensador sul-coreano, os segredos do cenário por ele analisado estão nos fatores menos perceptíveis ao primeiro olhar.
Outra crítica, no mesmo sentido, ocorre em relação à obra 1984 de George Orwell. Todo o aparato de dominação surgido no cenário distópico daquelas páginas vão em direção contrária à sutileza e à aceitação que Han vê no mundo neoliberal gerando uma “sensação de liberdade” (HAN, 2018HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte; Veneza: Editora Âyiné, 2018., p. 57, itálicos do autor). A mescla do Grande Irmão e do panóptico de Jeremy Bentham sintetizam muito bem as formas disciplinares do mundo industrial e, ao mesmo tempo, destoam do “pan-óptico digital” (HAN, 2018HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte; Veneza: Editora Âyiné, 2018., p. 57) da contemporaneidade. Aqui, pode-se pensar que a visão de Aldous Huxley, em Admirável mundo novoHUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. Tradução de Lino Vallandro e Vidal Serrano. São Paulo: Globo, 2003., adequar-se-ia melhor às reflexões do autor.
Nos capítulos finais, os conceitos que estruturam o universo filosófico de Byung-Chul Han ganham uma expressiva concretude. O capitalismo da emoção sintetiza a noção da psicopolítica como uma nova forma de sujeição que atinge várias esferas da vida em sociedade. O autor faz uma diferenciação entre os significados das palavras sentimento e emoção. A primeira representando uma forma de narrativa densa e a segunda elementos mais fugazes. Como ele bem explica:
As emoções são essencialmente mais fugazes e mais curtas do que os sentimentos. O afeto é muitas vezes limitado a um instante. Ao contrário do sentimento, a emoção não representa um estado. A emoção não dura. Não pode haver uma emoção de tranquilidade, mas é, sem dúvida, pensável como sentimento de tranquilidade. A expressão estado emocional soa assim paradoxal. A emoção é dinâmica, situacional e performativa. O capitalismo da emoção explora exatamente essas características. O sentimento, por outro lado, é difícil de ser explorado devido à sua falta de performatividade. Já o afeto é eruptivo. Falta-lhe orientação performática (HAN, 2018HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte; Veneza: Editora Âyiné, 2018., p. 61, itálicos do autor).
A emoção destoaria dos elementos racionais que caracterizariam as práticas capitalistas? Han critica as ideias de Eva Illouz na obra Intimidades congeladas: as emoções no capitalismo por não fazer uma distinção entre a etapa atual das formas econômicas vigentes e as experiências anteriores, vendo os fatores emocionais da era industrial e da era neoliberal com o mesmo teor. Ela se refere a Émile Durkheim e Max Weber para entender as permanências de tais fatores dentro das práticas capitalistas. Illouz faz uso de um conjunto de conceitos psicológicos para se referir às relações estabelecidas pelo capital no desenvolvimento econômico nos séculos XIX e XX. Para o filósofo sul-coreano, a autora desconhece a importância dos elementos emocionais dentro da conjuntura do capitalismo corrente, sendo uma força motriz de estruturação dessa realidade. Particularmente, no que se refere ao consumo e as formas de interação com as redes sociais, o capitalismo aparece, mais do que nunca, envolto em um elo no qual a emoção é o fator central:
Illouz claramente ignora que a conjuntura atual da emoção se deve, em última instância, ao neoliberalismo. O regime neoliberal emprega as emoções como recursos para alcançar mais produtividade e desempenho. A partir de certo nível de produção, a racionalidade, que representa o médium da sociedade disciplinar, atinge seus limites. Ela é percebida como uma restrição, uma inibição. De repente, a racionalidade atua de forma rígida e inflexível. Em seu lugar, entra em cena a emocionalidade, que está associada ao sentimento de liberdade que acompanha o livre desdobramento individual. Ser livre significa deixar as emoções correrem livres. O capitalismo da emoção faz uso da liberdade. A emoção é celebrada como expressão da subjetividade livre. A técnica neoliberal de poder explora essa subjetividade livre (HAN, 2018HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte; Veneza: Editora Âyiné, 2018., p. 64-65, itálicos do autor).
Dentro disso, dois elementos de grande relevância na construção conceitual da obra são apresentados aos leitores, sendo eles: gamificação e big data (este último rapidamente referenciado em um dos parágrafos anteriores).
O primeiro representa a apropriação do jogo por parte do capital. Em diferentes sociedades humanas, essa prática representou o elemento lúdico. Mesmo na fase de desenvolvimento industrial, tanto as horas livres quanto o ócio representavam uma possibilidade de fugir da subjugação do trabalho e das amarras do capital. Dentro da lógica do período histórico examinado por Han, tal atividade perde as características citadas e é absorvida pelo capital, seja em formato de games eletrônicos (atendendo às demandas de grandes empresas do ramo), seja na utilização de suas técnicas na otimização do trabalho. Com isso, volta-se a um aspecto já citado em outra passagem do presente texto, que é a ideia do capitalismo emocional defendida pelo autor.
Já os big data são agrupamentos de dados em grandes proporções sendo analisados por sistemas avançados de computadores para revelar os comportamentos humanos na interação com o mundo digital (redes sociais, sistema financeiro, compras, buscas na internet etc.). Han apresenta esse aspecto como um registro total da vida em que cada movimento dos usuários é registrado.
O autor apresenta aos seus leitores, como fechamento do texto, os problemas em torno do conceito de sujeito, no contexto do neoliberalismo, e o idiotismo.
A noção do homem racional, livre e adequado ao progresso que nasce com o iluminismo, passou por inúmeras transformações entre o século XVIII e o século XXI. O mundo estruturado pelo neoliberalismo, com seus mecanismos de liberdade coercitiva, colaborou de maneira significativa para o definhamento da noção de sujeito pensada pelos filósofos das Luzes e, assim, pavimentou o caminho para uma época de fragmentação e desmoronamento de conceitos.
O idiotismo aparece como uma ousada saída diante do domínio das formas de poder que estimulam o contato e um tipo específico de comunicação constantes na atualidade. Entre os gregos, idiotes era o homem privado, aquele que estava absorvido pelos próprios afazeres, afastado da gestão da coisa pública. Ao contrário do koinón que se referia ao bem comum, à política e às questões cívicas. Dentro desse raciocínio, o mundo que nos cerca está permeado pelo “espaço público” das redes sociais, fóruns, lives, discussões virtuais imediatistas. É perceptível, na visão de Han, a necessidade de um oásis de introspecção em meio ao som ensurdecedor das redes. Uma retirada sutil desse espaço. Essa ação poderia ser um fator de busca de pensamentos e ações mais densos dentro do atual contexto.
As ideias do filósofo, sem dúvida, têm referências em discussões que vêm sendo encaminhadas desde meados dos anos setenta, momento no qual o capitalismo disciplinar de tipo industrial era substituído pelo capitalismo de controle próprio do ambiente neoliberal. William S. Burroughs, em 1975BURROUGHS, William S. The adding machine: selected essays. New York: Arcade, 1985., proferiu uma conferência intitulada The limits of control, que trouxe uma ampla gama de reflexões sobre o novo cenário histórico vivido a partir de então. Naquela ocasião, os experimentos neoliberais davam seus primeiros e contundentes passos na brutal ditadura chilena liderada por Augusto Pinochet. Em seguida, adquiriram o formato que o consagraria diante dos olhos do mundo quando Margaret Thatcher e Ronald Reagan iniciaram duas administrações marcantes dentro do eixo anglo-americano. Por fim, os seus tentáculos se espalharam pelo restante do globo. Deleuze, em 1990DELEUZE, Gilles. Conversações. Tradução de Peter Pal Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2006., com o post-scriptum da obra Conversações, intitulado Sobre as sociedades de controle, desenha o panorama de mudanças entre o quadro econômico do mundo industrial que definhava e a consolidação de um novo modelo de sociedade. Autores como Pierre Dardot e Christian Laval, em A nova razão do mundoDARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016., mostram que o neoliberalismo não ficou restrito à economia, mas se consolidou como uma nova forma de pensamento que adentrou em distintas áreas. Assim, por que não falar dos impactos no campo cultural, onde tais percepções vêm sendo observadas em muitas expressões artísticas. Os personagens de Quentin Tarantino em filmes como, Cães de aluguel, Pulp fiction, Jackie Brown, entre outros, são profundamente marcados pelos traços de uma sociedade que já não é mais industrializada; são empreendedores de si mesmos; seres típicos do mundo pós-disciplinar. Pode-se ainda pensar na impactante série sul-coreana Round 6 onde a ligação entre um jogo de aspectos mortais e a sobrevivência dentro da sociedade capitalista são colocados de maneira explicita.
O pensamento de Han, em consonância e contraposição a outros autores que discutem o mesmo tema, nos faz refletir, à luz das críticas atuais às estratégias econômicas do neoliberalismo que, mesmo com um possível colapso de tal modelo, suas poderosas técnicas de poder teriam chances de sobreviver. Em um cenário onde se dá a predominância do capital financeiro, da automação e da robotização no setor de serviços e na produção e com o impacto da biotecnologia no campo social, além do avanço da inteligência artificial em inúmeros ramos, textos de pontos de vista muito distintos, como os de Francis Fukuyama (2003)FUKUYAMA, Francis. Nosso futuro pós-humano: consequências da revolução da biotecnologia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Rocco, 2003., Paul Gilroy (2007)GILROY, Paul. Entre campos: nações, culturas e o fascínio da raça. Tradução de Celia Maria Marinho de Azevedo. São Paulo: Annablume, 2007. e Antonio Negri (2015)NEGRI, Antonio. Biocapitalismo. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: Iluminuras, 2015. dão um quadro denso da paisagem do mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, um instigante conjunto de pistas de um possível pós-neoliberalismo. Porém, sem apresentarem as formas tão sofisticadas de coerção discutidas por Byung-Chul Han.
É por isso que Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, somado às outras produções do autor, apresenta um conjunto de reflexões desconcertantes. O capital, em um momento de profunda transformação, traz aspectos fronteiriços ao seu pensamento. Ele mergulha em tensões fundamentais da presente sociedade, há um elemento vivo e móvel em seu texto. Por fim, resta perguntar: há uma proposta política na obra aqui resenhada? Pode-se dizer que Han faz críticas radicais e inovadoras às ideias neoliberais, mas não há uma proposta clara de caminhos a serem trilhados.2 2 Em uma entrevista concedida ao jornal El País, Byung-Chul Han afirma: “O capitalismo corresponde realmente às estruturas instintivas do homem. Mas o homem não é só um ser instintivo. Temos que domar, civilizar e humanizar o capitalismo. Isso também é possível. A economia social de mercado é uma demonstração. Mas nossa economia está entrando em uma nova época, a época da sustentabilidade” (HAN, 2021a). O trecho deixa claro como o próprio autor nota que os possíveis caminhos de transformação ainda estão sendo desenhados. No entanto, o seu leitor tem a possibilidade de ver um amplo diagnóstico por ele apresentado, o que desperta a perspectiva de caminhos múltiplos de ações políticas. O autor quer, desse modo, provocar os seus leitores. Suas observações sobre as redes, por exemplo, não possuem uma indicação para que seus usuários meramente a abandonem. Mas aponta os seus problemas e estimula reflexões profundas sobre a sociedade capitalista dos nossos dias como, a perda das tradições (HAN, 2021bHAN, Byung-Chul. O desaparecimento dos rituais: uma topologia do presente. Tradução de Gabriel Salvi Philipson. Petrópolis: Editora Vozes, 2021b.), da vivência cotidiana, das noções comunitárias. Para ele, fatores como esses são fundamentais na contraposição às dominações políticas e econômicas vigentes e na possibilidade de se pensar na construção de projetos democráticos.
Referências:
- BURROUGHS, William S. The adding machine: selected essays. New York: Arcade, 1985.
- CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. A sociedade em rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 1999. [v. 1].
- DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.
- DELEUZE, Gilles. Conversações. Tradução de Peter Pal Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2006.
- FUKUYAMA, Francis. Nosso futuro pós-humano: consequências da revolução da biotecnologia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
- GILROY, Paul. Entre campos: nações, culturas e o fascínio da raça. Tradução de Celia Maria Marinho de Azevedo. São Paulo: Annablume, 2007.
- HAN, Byung-Chul. O celular é um instrumento de dominação. Age como um rosário. [Entrevista concedida a] Sergio C. Fanjul. El País. 09 out. 2021a. [on-line]. Disponível em: Disponível em: https://brasil.elpais.com/cultura/2021-10-09/byung-chul-han-o-celular-e-um-instrumento-de-dominacao-age-como-um-rosario.html Acesso em: 17 fev. 2023.
» https://brasil.elpais.com/cultura/2021-10-09/byung-chul-han-o-celular-e-um-instrumento-de-dominacao-age-como-um-rosario.html - HAN, Byung-Chul. O desaparecimento dos rituais: uma topologia do presente. Tradução de Gabriel Salvi Philipson. Petrópolis: Editora Vozes, 2021b.
- HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte; Veneza: Editora Âyiné, 2018.
- HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. Tradução de Lino Vallandro e Vidal Serrano. São Paulo: Globo, 2003.
- NEGRI, Antonio. Biocapitalismo. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: Iluminuras, 2015.
-
2
Em uma entrevista concedida ao jornal El País, Byung-Chul Han afirma: “O capitalismo corresponde realmente às estruturas instintivas do homem. Mas o homem não é só um ser instintivo. Temos que domar, civilizar e humanizar o capitalismo. Isso também é possível. A economia social de mercado é uma demonstração. Mas nossa economia está entrando em uma nova época, a época da sustentabilidade” (HAN, 2021aHAN, Byung-Chul. O celular é um instrumento de dominação. Age como um rosário. [Entrevista concedida a] Sergio C. Fanjul. El País. 09 out. 2021a. [on-line]. Disponível em: Disponível em: https://brasil.elpais.com/cultura/2021-10-09/byung-chul-han-o-celular-e-um-instrumento-de-dominacao-age-como-um-rosario.html Acesso em: 17 fev. 2023.
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-1... ). O trecho deixa claro como o próprio autor nota que os possíveis caminhos de transformação ainda estão sendo desenhados.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Jul 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
26 Jan 2022 -
Aceito
13 Fev 2023