RESUMO
Objetivo:
Tecnologias Web 2.0 potencializaram a dinâmica relacional em comunidades de fãs. Fãs de música indie se demonstram altamente identificados com o gênero e participativos nessas comunidades, em um cenário de reinvenção da indústria fonográfica. De um ponto de vista foucaultiano, ao circularem saberes sobre produtos de mídia, os fãs manifestam verdades constitutivas de subjetividades, sendo a parresia uma forma de diferentes verdades serem mutuamente afetadas. Com isso, o presente estudo analisa como a parresia é operada em interações de fãs de música indie.
Originalidade/valor:
Ao adotar o ciclo teórico ulterior de Michel Foucault, que trata da constituição de subjetividades, a pesquisa expande uma importante trilha investigativa teórica para o campo da consumer culture theory (CCT).
Design/metodologia/abordagem:
Foi realizada uma netnografia das interações de fãs de música indie em um dos maiores fóruns de discussão on-line sobre o tema.
Resultados:
Discussões que se tornam exaltadas na comunidade observada criam uma cisão que revela uma disputa para se estabelecer o que seja a fanidade em relação à música indie. Por meio de uma parresia de ruptura ancorada em fundamentos morais relacionados à erudição e ao coletivismo contra o hedonismo e a individualidade, os fãs que se declaram verdadeiros e os que buscam diversão estabelecem as alter-subjetividades de hipsters e posers.
PALAVRAS-CHAVE:
Fãs; Música indie; Subjetividade; Parresia; Netnografia
ABSTRACT
Purpose:
Web 2.0 technologies have enhanced relational dynamics in fan communities. Indie music fans significantly identify themselves with the genre and participate in these communities within a music industry reinvention scenario. Based on the Foucauldian perspective, by sharing knowledge about media products, fans manifest truths capable of expressing subjectivities - parrhesia, a way of mutually affecting different truths. Thus, the aim of the present study is to analyze how parrhesia is operated in interactions among indie music fans.
Originality/value:
The present research expands an important theoretical-investigative path in the consumer culture theory (CCT) field by adopting Michel Foucault’s later theoretical cycle, which addresses the construction of subjectivities.
Design/methodology/approach:
Netnography of interactions among indie music fans was carried out in one of the largest online discussion forums on the topic.
Findings:
Heated discussions observed in the investigated community often create a split that shows a dispute focused on defining what being an indie music fan means. Based on disruptive parrhesia anchored in moral backgrounds associated with erudition and collectivism versus hedonism and individuality, self-declared true fans and those who seek fun establish alter-subjectivities as hipsters and posers.
KEYWORDS:
Fans; Indie Music; Subjectivity; Parrhesia; Netnography
1. INTRODUÇÃO
O indie surgiu nos anos 1980, buscando estabelecer uma forma mais criativa e autêntica de comercialização das produções musicais com uma produção de baixo orçamento (Dale, 2008Dale, P. (2008). It was easy, it was cheap, so what? Reconsidering the DIY principle of punk and indie music. Popular Music History, 3(2), 171-193.) e, desde então, vem alcançado um espaço cada vez mais relevante no cenário musical (Cummings, 2008Cummings, J. (2008). Trade mark registered: Sponsorship within the Australian Indie music festival scene. Continuum, 22(5), 675-685.). A partir da década seguinte, passou a incorporar outros gêneros e, assim, dar início a vários subgêneros que também não se encaixavam na premissa mercadológica da indústria musical da época (Scaruffi, 2003Scaruffi, P. (2003). A history of rock music: 1951-2000. Bloomington: iUniverse.). Esse crescimento levou alguns de seus subgêneros a ganhar popularidade e alcançar um desempenho mercadológico surpreendente (McDonald, 2000McDonald, C. (2000). Exploring modal subversions in alternative music. Popular Music, 19(3), 355-363.; Meier & Hesmondhalgh, 2014Meier, L., & Hesmondhalgh, D. (2014). Popular music, independence and the concept of the alternative in contemporary capitalism. In J. Bennet & N. Strange (Eds), Media independence (pp. 108-130). New York: Routledge .). Com a chegada do século XXI, artistas indie continua ram ganhando relevância mundial, consolidando o crescimento do gênero no mercado da música e criando um paradoxo quanto à origem do movimento, que rejeitava o mainstream da música (Skancke, 2007Skancke, J. (2007). The history of indie rock. Farmington Hills, MI: Lucent Books.; Mead, 2009Mead, W. (2009). The alternative rock scene: The stars, the fans, the music. Berkeley Heights, NJ: Enslow.).
A consolidação definitiva do indie ocorreu justamente em um momento de crise da indústria fonográfica, em virtude da facilidade de trocas de arquivos digitais, e hoje o indie participa de um cenário de reconfiguração dessa indústria, com rentabilidade primordialmente oriunda de plataformas digitais de streaming e downloads e de shows (International Federation of the Phonographic Industry, 2017). Está inserido no crescimento da indústria do entretenimento, que tem faturamento global da ordem de quase dois trilhões de dólares, dos quais 8% se referem ao consumo de música (International Trade Administration, 2017).
A trajetória do indie foi construída com grande participação de seus fãs, que, fortemente identificados com a estética e a ideologia do movimento, passaram a se relacionar de forma mais visceral com os artistas do gênero (Bromwich, 2014Bromwich, J. E. (2014). Independent music labels and young artists offer streaming, on their terms. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2014/07/07/technology/independent-music-labels-and-young-artists-embrace-streaming-on-their-own-terms.html
https://www.nytimes.com/2014/07/07/techn...
; Coscarelli, 2017Coscarelli, J. (2017). How Mac DeMarco became the lovable laid-back prince of indie rock. The New York Times . Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/04/27/arts/music/mac-demarco-this-old-dog-interview.html
https://www.nytimes.com/2017/04/27/arts/...
), o que já era tratado em estudos culturais do começo da década de 1990 (Grossberg, 1992Grossberg, L. (1992). Is there a fan in the house? The affective sensibility of fandom. In L. Lewis (Ed.), The adoring audience (pp. 50-65). New York: Routledge .; Fiske, 1992Fiske, J. (1992). The cultural economy of fandom. In A. Lewis (Ed.), The adoring audience: Fan culture and popular media (pp. 30-49). New York: Routledge.; Jenkins, 1992Jenkins, H. (1992). Textual poachers: Television fans and participatory culture. New York: Routledge .). Jenkins (1992) aponta que os fãs costumam apresentar uma produtividade textual que trata de práticas discursivas partilhadas ou produzidas de forma coletiva, capazes de indicar seus valores, seu comportamento comunal e suas visões de mundo.
No campo da consumer culture theory (CCT), os fãs são entendidos como consumidores especializados, participantes de uma subcultura de consumo que se atrela a produtos midiáticos (Souza-Leão & Costa, 2018Souza-Leão, A. L. M. de, & Moura, B. M. (2018). Temos que pegar todos! Discursos identitários sobre o consumo de Pokemon GO no Brasil. Brazilian Journal of Marketing, 17(6), 895-913.; Kozinets, 2001Kozinets, R. V. (2001). Utopian enterprise: Articulating the meanings of Star Trek’s culture of consumption. Journal of Consumer Research, 28(1), 67-88.). Essa caraterística de produtividade indica que eles sejam entendi- dos como prossumidores (Chen, 2018Chen, Z. T. (2018). Poetic prosumption of animation, comic, game and novel in a post-socialist China: A case of a popular video-sharing social media Bilibili as heterotopia. Journal of Consumer Culture. doi:10.1177/1469540 518787574
https://doi.org/10.1177/1469540 51878757...
; Souza-Leão & Costa, 2018). O fenômeno da prossumerização considera que produção e consumo funcionam de forma simbiótica. Os consumidores assumem tarefas que, no tradicional modelo dual de produção-consumo, cabem ao produtor. Tal concepção se tornou amplamente discutida na CCT a partir dos trabalhos de Ritzer (2005Ritzer, G. (2005). Enchanting a disenchanted world: Revolutionizing the means of consumption. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press., 2008), ganhando ainda maior repercussão quando foi pensada no contexto da Web 2.0 (Ritzer & Jurgenson, 2010).
As tecnologias que surgiram no contexto da Web 2.0 propiciaram aos usuários interagir de forma fluida e constante, bem como produzir e divulgar conteúdos (por exemplo, comentários, fotos, vídeos) sobre seus inte resses (Cova & Dalli, 2009Cova, B., & Dalli, D. (2009). Working consumers: The next step in marketing theory? Marketing Theory, 9(3), 315-339.). Tal produção está inserida na noção de cultura participativa, que aponta como, de forma colaborativa e midiaticamente convergente, as pessoas realizam produções a partir do uso das tecnologias (Guschwan, 2012Guschwan, M. (2012) Fandom, brandom and the limits of participatory culture. Journal of Consumer Culture, 12(1), 19-40.; Booth, 2013Booth, P. (2013) Augmenting fan/academic dialogue: New directions in fan research. The Journal of Fandom Studies, 1(2), 119-137.).
As tecnologias fundamentadas na disseminação da internet mudaram de forma contundente a indústria da música, primeiramente permitindo aos usuários trocar e compartilhar conteúdos musicais (isto é, peer-to-peer) e, posteriormente, fazendo dos serviços de streaming o modelo para consumir músicas que se tornou dominante na década de 2010 (Sinclair & Green, 2016Sinclair, G., & Green, T. (2016). Download or stream? Steal or buy? Developing a typology of today’s music consumer. Journal of Consumer Behaviour, 15(1), 3-14.). A facilidade para interagir com outros consumidores, acessar produções e conteúdos musicais e até produzir novos conteúdos tem potencializado a produtividade de fãs do segmento (Sinclair & Tinson, 2017).
Quando interagem, os fãs costumam circular significados e construir saberes sobre a relação que mantêm com os produtos que consomem, bem como sobre os próprios espaços sociais em que se reúnem (Fiske, 1992Fiske, J. (1992). The cultural economy of fandom. In A. Lewis (Ed.), The adoring audience: Fan culture and popular media (pp. 30-49). New York: Routledge.). Tal construção social de saberes é uma das condições basilares para se manifestarem verdades que, por sua vez, permitem a constituição de subjetividades, segundo a teorização ulterior de Michel Foucault. Esse processo permeia a operação de verdades que leva um sujeito a se relacionar com outras verdades que o cercam (Foucault, 2011).
Foucault (2017Foucault, M. (2017). Subjectivity and truth: Lectures at the Collège de France 1980-1981. London: Macmillan.) argumenta que a operação de verdades seja um processo ético necessário à constituição da subjetividade. Entre as operações de verdade, a parresia é apresentada como uma manifestação em que se expressa um conhecimento sobre um tema, afeta as percepções de verdade de si e dos outros, ao mesmo tempo que diferentes verdades são mutuamente afetadas. Assim, a parresia leva a rupturas de verdades estabelecidas socialmente e que vão ser (re)construídas a partir da negociação das verdades pelos sujeitos (Foucault, 2006).
O compartilhamento de opiniões sobre a música indie pelos seus fãs posiciona percepções pessoais e coletivas, uma vez que as interações de fãs se caracterizam como umas das principais formas de conhecer, ter contato e consumir o gênero (Hesmondhalgh, 1999Hesmondhalgh, D. (1999). Indie: The institutional politics and aesthetics of a popular music genre. Cultural Studies, 13(1), 34-61.; Skancke, 2007Skancke, J. (2007). The history of indie rock. Farmington Hills, MI: Lucent Books.). Como as pessoas costumam preferir manifestar suas percepções a seguir certos consensos de consumo (West & Broniarczyk, 1998West, P. M., & Broniarczyk, S. M. (1998). Integrating multiple opinions: The role of aspiration level on consumer response to critic consensus. Journal of Consumer Research, 25(1), 38-51.; Lee & Cranage, 2012Lee, C. H., & Cranage, D. A. (2012). Toward understanding consumer processing of negative online word-of-mouth communication. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(3), 330-360.), é esperado que consumidores argumentem com outros sobre seus pontos de vista. Portanto, as visões de mundo de um consumidor costumam afetar e ser afetadas pelas percepções de outros consumidores (Firat & Venkatesh, 1995Firat, A., & Venkatesh, A. (1995). Liberatory postmodernism and the reenchantment of consumption. Journal of Consumer Research, 22(3), 239-267.; Cova & Dalli, 2009Cova, B., & Dalli, D. (2009). Working consumers: The next step in marketing theory? Marketing Theory, 9(3), 315-339.). Assim, a partir de uma leitura foucaultiana, consideramos que as interações de fãs sustentam posicionamentos que permitem manifestações de parresia. Com isso, o presente estudo é desenvolvido a partir da seguinte pergunta de pesquisa:
Como a parresia é operada em interações de fãs de música indie em uma comunidade virtual?
Mesmo consolidada, a indústria da música é um dos segmentos de entretenimento que mais têm passado por mudanças e reinvenções, graças aos adventos tecnológicos e à democratização de seu consumo. A fragmentação do mercado tem se tornado mais visível, o que abre espaço para uma diversa gama de gêneros musicais distintos, como o indie (Magaudda, 2011Magaudda, P. (2011). When materiality “bites back”: Digital music consumption practices in the age of dematerialization. Journal of Consumer Culture, 11(1), 15-36.; Leguina, Arancibia-Carvajal, & Widdop, 2015Leguina, A., Arancibia-Carvajal, S., & Widdop, P. (2015). Musical preferences and technologies: Contemporary material and symbolic distinctions criticized. Journal of Consumer Culture, 17(2), 242-264.). Contudo, existe uma inci piência de estudos que tratam de práticas de consumo de fãs de música inseridos em comunidades virtuais. A pesquisa, portanto, se insere numa agenda de relevância da CCT ao adotar o ciclo teórico ulterior de Michel Foucault, que trata da constituição de subjetividades, expandindo uma importante trilha investigativa teórica para o campo que, ao abordar tal filósofo, comumente foca sua teoria de poder (ver Kedzior & Allen, 2016Kedzior, R., & Allen, D. E. (2016). From liberation to control: Understanding the selfie experience. European Journal of Marketing, 50(9-10), 1893-1902.; Denegri-Knott & Tadajewski, 2017Denegri-Knott, J., & Tadajewski, M. (2017). Sanctioning value: The legal system, hyper-power and the legitimation of MP3. Marketing Theory, 17(2), 219-240.).
2. INDIE: GÊNERO E FANIDADE
O indie surgiu quando artistas passaram a se “libertar” da relação com grandes gravadoras e conglomerados da indústria da música. Não à toa, o termo está intimamente associado à noção de independência e alternativa ao mainstream (Meier & Hesmondhalgh, 2014Meier, L., & Hesmondhalgh, D. (2014). Popular music, independence and the concept of the alternative in contemporary capitalism. In J. Bennet & N. Strange (Eds), Media independence (pp. 108-130). New York: Routledge .). Alinhado a um discurso de experimentação, o gênero se legitimou por meio de uma despreocupação com a ressonância em grandes audiências e por um rechaço à busca de lucratividade (Skancke, 2007Skancke, J. (2007). The history of indie rock. Farmington Hills, MI: Lucent Books.).
Como movimento, sua relevância se tornou mais nítida em meados da década de 1980, quando, nos Estados Unidos e na Inglaterra, artistas passaram a lançar suas produções sob a ordem do do it yourself (DIY), caracterizadas pelo baixo custo de produção e grande nível criativo (Dale, 2008Dale, P. (2008). It was easy, it was cheap, so what? Reconsidering the DIY principle of punk and indie music. Popular Music History, 3(2), 171-193.). No início, o gênero foi marcado por suas grandes vertentes: experimentação de melodias agressivas (Fairchild, 1995Fairchild, C. (1995). “Alternative”; music and the politics of cultural autonomy: The case of Fugazi and the D. C. Scene. Popular Music & Society, 19(1), 17-35.) e sonoridades melódicas (Hesmondhalgh, 1999Hesmondhalgh, D. (1999). Indie: The institutional politics and aesthetics of a popular music genre. Cultural Studies, 13(1), 34-61.).
A globalização difundida na década de 1990 impactou diretamente o gênero musical, levando o indie a se desdobrar em vários subgêneros (por exemplo, lo-fi, dream pop, noise pop, post-rock). Esse desdobramento impulsionou não só a proliferação de novas bandas e artistas que se alinhavam às novas possibilidades do guarda-chuva indie, como também da popularização de seu consumo. Consequentemente, alguns artistas atrelados ao gênero musical indie alcançaram uma ressonância mercadológica notável. Esse espaço nas mídias e a alta lucratividade levaram a questionamentos sobre os limites do que pode ser considerado indie e do sucesso e espaço dos artistas na grande mídia (Scaruffi, 2003Scaruffi, P. (2003). A history of rock music: 1951-2000. Bloomington: iUniverse.).
A partir da virada do século, o aprimoramento de tecnologias de produção, informação e comunicação propiciou novas possibilidades de desenvolvimento e divulgação que influenciaram uma nova geração de artistas indie (Mead, 2009Mead, W. (2009). The alternative rock scene: The stars, the fans, the music. Berkeley Heights, NJ: Enslow.). A relação tênue entre o gênero e a indústria que ele incialmente rejeitava se tornou cada vez mais nítida com a crescente popularidade dos artistas e a popularização de seus festivais musicais (Cummings, 2008Cummings, J. (2008). Trade mark registered: Sponsorship within the Australian Indie music festival scene. Continuum, 22(5), 675-685.; Waits, 2008Waits, J. C. (2008). Does indie mean independence? Freedom and restraint in a late 1990s US college radio community. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 5(2), 83-96.). Como resposta, novos subgêneros (por exemplo, garage rock, post-punk revival) surgiram para tentar retomar as origens do movimento (Mead, 2009). O indie passou, então, a ter relevância tanto para a grande indústria musical quanto para pequenas cenas locais (Skancke, 2007Skancke, J. (2007). The history of indie rock. Farmington Hills, MI: Lucent Books.; Drew, 2011Drew, R. (2011). Going home for all tomorrow’s parties. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 11(5), 446-452.).
A consolidação do indie está intimamente relacionada à atuação de seus fãs. Isso ocorre porque seus principais consumidores se distinguem de outros fãs musicais, tanto pelo nível de envolvimento com o gênero quanto pela adoção de sua concepção como ideologia (Bromwich, 2014Bromwich, J. E. (2014). Independent music labels and young artists offer streaming, on their terms. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2014/07/07/technology/independent-music-labels-and-young-artists-embrace-streaming-on-their-own-terms.html
https://www.nytimes.com/2014/07/07/techn...
; Coscarelli, 2017Coscarelli, J. (2017). How Mac DeMarco became the lovable laid-back prince of indie rock. The New York Times . Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/04/27/arts/music/mac-demarco-this-old-dog-interview.html
https://www.nytimes.com/2017/04/27/arts/...
). Isso leva os fãs a assumir posições de crítica voraz a artistas que não priorizam qualidade e originalidade em detrimento de sucesso (Cummings, 2008Cummings, J. (2008). Trade mark registered: Sponsorship within the Australian Indie music festival scene. Continuum, 22(5), 675-685.), bem como a antagonizar aqueles que, ainda segundo os fãs, não estão alinhados à produção musical independente (Sanneh, 2005Sanneh, K. (2005). Nothing is certain but death and taxis. Recuperado de: https://www.nytimes.com/2005/08/28/arts/music/nothing-is-certain-but-death-and-taxis.html?mtrref=www.google.com&gwh=92CED716C527BC71DAE3EE0C8A70464D&gwt=pay.
https://www.nytimes.com/2005/08/28/arts/...
). É natural, então, que as práticas culturais dos fãs do indie rompam com significados de consumo previamente estabelecidos (Drew, 2011Drew, R. (2011). Going home for all tomorrow’s parties. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 11(5), 446-452.).
3. PRODUTIVIDADE DE FÃS
Conhecidos pela intensa relação que nutrem por aquilo que consomem, os fãs têm sido investigados desde a década de 1990 (Grossberg, 1992Grossberg, L. (1992). Is there a fan in the house? The affective sensibility of fandom. In L. Lewis (Ed.), The adoring audience (pp. 50-65). New York: Routledge .; Fiske, 1992Fiske, J. (1992). The cultural economy of fandom. In A. Lewis (Ed.), The adoring audience: Fan culture and popular media (pp. 30-49). New York: Routledge.). Uma característica marcante desse consumidor é sua proatividade (Ortiz, Reynolds, & Franke, 2013Ortiz, M. H., Reynolds, K. E., & Franke, G. R. (2013). Measuring consumer devotion: Antecedents and consequences of passionate consumer behavior. Journal of Marketing Theory and Practice, 21(1), 7-30.; Syrjälä, 2016Syrjälä, H. (2016). Turning point of transformation: Consumer commu nities, identity projects and becoming a serious dog hobbyist. Journal of Business Research, 69(1), 177-190.) fortemente atrelada ao desejo de descoberta de novidades (Jenkins, 1992Jenkins, H. (1992). Textual poachers: Television fans and participatory culture. New York: Routledge .). São consumidores que voluntariamente se engajam no consumo de produtos de mídia e entretenimento, principalmente a partir da interação com outros fãs (Hills, 2012Hills, M. (2012). “Twilight” fans represented in commercial paratexts and inter-fandoms: Resisting and repurposing negative fan stereotypes. In Genre, reception, and adaptation in the Twilight series (pp. 113-131). Farnham: Ashgate.; Duffett, 2013Duffett, M. (2013). Understanding fandom: An introduction to the study of media fan culture. London: Bloomsbury.).
Sobre o tema, Jenkins (2006Jenkins, H. (2006). Fans, bloggers, and gamers: Exploring participatory culture. New York: NYU Press .) considera que os fãs são os membros emblemáticos da cultura participativa, fenômeno que deriva da apropriação tecnológica e da convergência cultural e midiática. As culturas participativas permitem que diferentes indivíduos integrem comunidades em que estabelecem conexões sociais a partir de troca de mensagens, identificação de semelhanças de escolhas e engajamentos cívicos (Jenkins, 2006; Langlois, 2013Langlois, G. (2013). Participatory culture and the new governance of communication: The paradox of participatory media. Television & New Media, 14(2), 91-105.). O funcionamento das culturas participativas se fundamenta no compartilhamento de informações que fomentam uma inteligência coletiva acerca do que une os membros das comunidades que consomem e produzem. Essa inteligência não pertence a ninguém, mas é formulada por todos que partilham do interesse sobre a produção cultural e fazem parte da comunidade (Jenkins, 2006; Delwiche & Henderson, 2012Delwiche, A., & Henderson, J. (2012). The participatory cultures handbook. New York: Routledge.; Guschwan, 2012Guschwan, M. (2012) Fandom, brandom and the limits of participatory culture. Journal of Consumer Culture, 12(1), 19-40.).
As comunidades dos fãs são conhecidas como fandoms: espaços sociais em que interagem e constroem relações a partir de interesses de consumo comuns (Booth, 2013Booth, P. (2013) Augmenting fan/academic dialogue: New directions in fan research. The Journal of Fandom Studies, 1(2), 119-137.; Fuschillo, 2018Fuschillo, G. (2018). Fans, fandoms, or fanaticism? Journal of Consumer Culture, 20(3), 347-365.). Na atualidade, tais espaços sociais têm sido formulados principalmente com as mídias sociais e os fóruns on-line, em que os fãs se conectam, produzem e disseminam informações e opiniões (Delwiche & Henderson, 2012Delwiche, A., & Henderson, J. (2012). The participatory cultures handbook. New York: Routledge.; Fuschillo, 2018). Todavia, essas comuni dades costumam ser heterogêneas e apresentam diferentes tipos de membros que contribuem de formas distintas para a coletividade (Duffett, 2013Duffett, M. (2013). Understanding fandom: An introduction to the study of media fan culture. London: Bloomsbury.). Kozinets (1999Kozinets, R. V. (1999). E-tribalized marketing? The strategic implications of virtual communities of consumption. European Management Journal, 17(3), 252-264.) os diferencia em quatro tipos distintos: os turistas não têm fortes laços sociais com o grupo e mantêm apenas um interesse superficial ou passageiro com a atividade de consumo; os minglers até têm um forte laço social com a comunidade, mas pouco se interessam pelo objeto de consumo que os une; os devotos, ao contrário, têm uma forte ligação com o objeto de consumo, mas podem chegar a demonstrar descaso com a comunidade; por fim, os insiders têm uma relação intensa tanto com a comunidade quanto com o objeto consumido. Também existem os antifãs, que deixaram de idea lizar o produto com que tinham uma ligação positiva e passaram a atacar a forma como o produto foi produzido (Gray, 2003Gray, J. (2003). New audiences, new textualities. International Journal of Cultural Studies, 6(1), 64-81.; Hills, 2019Hills, M. (2019). Anti-fandom meets ante-fandom: Doctor Who dans’ textual dislike and “Idiorrythmic” fan experiences. In M. Click (Ed.) Anti-fandom: Dislike and hate in the digital age. New York: NYU Press .). Suas críticas podem ser direcionadas tanto ao produto midiático quanto ao comportamento superficial (Sheffield & Merlo, 2010Sheffield, J., & Merlo, E. (2010). Biting back: twilight anti-fandom and the rhetoric of superiority. In M. A. Click, J. S. Aubrey, & E. Behm- Morawitz (Eds.), Bitten by twilight: youth culture, media, and the vampire franchise (pp. 207-222). New York: New York University Press .; Souza-Leão & Costa, 2018Souza-Leão, A. L. M. de, & Moura, B. M. (2018). Temos que pegar todos! Discursos identitários sobre o consumo de Pokemon GO no Brasil. Brazilian Journal of Marketing, 17(6), 895-913.) ou sem utilidade (Booth, 2013; Souza-Leão & Moura, 2018) de outros fãs.
Esses comportamentos revelam diferentes formas e níveis de como os fãs executam atividades prossumeristas (Chen, 2018Chen, Z. T. (2018). Poetic prosumption of animation, comic, game and novel in a post-socialist China: A case of a popular video-sharing social media Bilibili as heterotopia. Journal of Consumer Culture. doi:10.1177/1469540 518787574
https://doi.org/10.1177/1469540 51878757...
; Souza-Leão & Costa, 2018Souza-Leão, A. L. M. de, & Moura, B. M. (2018). Temos que pegar todos! Discursos identitários sobre o consumo de Pokemon GO no Brasil. Brazilian Journal of Marketing, 17(6), 895-913.). O prossumo se refere à simbiose entre produção e consumo, podendo caracterizar consumo compulsório ou voluntário (Ritzer, 2005Ritzer, G. (2005). Enchanting a disenchanted world: Revolutionizing the means of consumption. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press., 2008, 2014). No contexto da Web 2.0, a prática costuma ser espontânea e cada vez mais difícil de ser controlada pelos produtores, em virtude da sofisticação da habilidade de usuários que produzem e compartilham conteúdos colaborativamente (Ritzer & Jurgenson, 2010). Assim, uma nova lógica de marketing tem se estabelecido: a partir da colaboração e interatividade dos consumidores, em que o valor do consumo é um resultado de trocas coletivas (Cova & Cova, 2012Cova, B., & Cova, V. (2012). On the road to prosumption: Marketing discourse and the development of consumer competencies. Consumption Markets & Culture, 15(2), 149-168.; Gamble & Gilmore, 2013Gamble, J., & Gilmore, A. (2013). A new era of consumer marketing? An application of co-creational marketing in the music industry. European Journal of Marketing, 47(11-12), 1859-1888.).
4. DIÁLOGO FÂNICO COMO PARRESIA
Apesar de notadamente conhecidos pela colaboração mútua que estabelecem nos fandoms, os fãs também podem apresentar discordâncias entre si, embasadas na relação íntima que têm com os produtos de mídia (Hills, 2013Hills, M. (2013). Twilight fans represented in commercial paratexts and inter-fandoms: Resisting and repurposing negative fan stereotypes. In A. Morey (Ed.), Genre, reception, and adaptation in the “Twilight” series (pp. 113-129). Aldershot, UK: Ashgate.). Não à toa, os consumidores costumam expressar suas opiniões em vez de apenas seguirem sensos comuns ou posições consensuais, o que propicia que significados de consumo sejam negociados (West & Broniarczyk, 1998West, P. M., & Broniarczyk, S. M. (1998). Integrating multiple opinions: The role of aspiration level on consumer response to critic consensus. Journal of Consumer Research, 25(1), 38-51.; Lee & Cranage, 2012Lee, C. H., & Cranage, D. A. (2012). Toward understanding consumer processing of negative online word-of-mouth communication. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(3), 330-360.).
Estudos da CCT consideram que significados compartilhados no mercado criam condições para determinados modos de vida (Mikkonen, Moisander, & Firat, 2011Mikkonen, I., Moisander, J., & Firat, A. (2011). Cynical identity projects as consumer resistance: The Scrooge as a social critic? Consumption, Markets and Culture, 14(1), 99-116.; Minowa, 2012Minowa, Y. (2012). Practicing Qi and consuming Ki: Folk epistemology and consumption rituals in Japan. Marketing Theory, 12(1), 27-44.; Duffy, 2014Duffy, D. (2014). Situating men within local terrain: A sociological perspective on consumption practices. In J. W. Schouten, D. M. Martin, & R. Belk (Eds.), Consumer Culture Theory (pp. 81-97). Bingley, UK: Emerald.). Os conhecimentos dos consumidores sobre o que é o mundo que os rodeia e que os orienta em seus atos de consumo têm papel legitimador de práticas mercadológicas. As visões de mundo dos consumidores mutuamente afetam os saberes mercadológicos que influenciam a forma como se posicionam e são afetadas por eles (Firat & Venkatesh, 1995; Cova & Dalli, 2009Cova, B., & Dalli, D. (2009). Working consumers: The next step in marketing theory? Marketing Theory, 9(3), 315-339.). Assim, visões de mundo baseadas no mercado produzem conhecimentos que podem influenciar o comportamento dos consumidores (Mikkonen & Bajde, 2012; Denegri-Knott & Tadajewski, 2017Denegri-Knott, J., & Tadajewski, M. (2017). Sanctioning value: The legal system, hyper-power and the legitimation of MP3. Marketing Theory, 17(2), 219-240.).
Em termos foucaultianos, essas “visões de mundo” dizem respeito a verdades. Foucault (2017Foucault, M. (2017). Subjectivity and truth: Lectures at the Collège de France 1980-1981. London: Macmillan.) entende verdade como aquilo pelo qual conhecemos o mundo e a nós mesmos, o que desempenha um papel crítico na subjetivação. Práticas de subjetivação permitem a constituição de uma ética que se ancora num complexo sistema de heteronomia e autonomia (Foucault, 2013). Ante esse sistema, é necessária uma ontologia crítica: não apenas se interrogar sobre as estruturas que afetam a definição do sujeito, como também analisar as práticas e os modos de racionalidade expressados em condutas sociais (Foucault, 2010b). Essa ontologia crítica, por sua vez, se funda numa histórica: de nós mesmos em relação à verdade. De acordo com a ontologia histórica, a forma como nos formulamos como sujeitos de saber é intrínseca ao posicionamento que exercemos em relações de poder. Essas são estruturas e sistemas críticos que governam as sujeições. Por consequência, a ontologia crítica é uma ferramenta que constitui sujeitos; é a forma por meio da qual nos concebemos como sujeitos de ação sobre nós mesmos e os outros. Assim, a ontologia histórica, que passa a ser crítica, se torna uma ontologia ética, por meio da qual nos construímos como agentes morais (Foucault, 2010b).
Assim, apesar de ser notoriamente conhecido pelo seu trabalho (isto é, ciclo teórico) sobre poder e governo, Foucault (2010Foucault, M. (2010a). O sujeito e o poder. In H. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault: Uma trajetória filosófica (2a ed., pp. 273-295). Rio de Janeiro: Forense Universitária .b, 2012a) indica que sempre esteve trilhando uma só trajetória filosófica: a elaboração de um sujeito ético. Os saberes históricos (isto é, formações discursivas) explorados em seu primeiro ciclo, o arqueológico, permitem a identificação de estruturas críticas (isto é, dispositivos) de poder. Essas são o ponto de partida para entender como se conduzem formas de governo e códigos morais que influenciam os sujeitos a dizer a verdade. Verdades que são, em última instância, um saber a ser validado.
A verdade é um elemento que direciona as subjetividades não como ordens formais emitidas por uma pessoa ou instituição, mas como uma operação das práticas de nós mesmos; posicionamentos que assumimos e que incidem sobre nós e sobre os outros (Foucault, 2012aFoucault, M. (2012a). The history of sexuality (Vol. 2). New York: Vintage.). Assim, a verdade não se mostra como um conhecimento fixo e universal que está para ser descoberto por alguém capacitado ou iluminado; ela é móvel, associada a algum contexto social e construída por meio de uma massa de micro-operações em que é negociada, disputada e, de maneira interativa, consolidada (Foucault, 2010a).
Surgem então os jogos de verdade, em que verdades são afetadas por e combinadas com outras, numa série de processos de construções sociais dessas verdades. Essa construção passa por uma operação denominada veridição, que atesta que um saber pode ser considerado verdadeiro. Assim, os jogos de verdade dizem respeito às práticas de tomar para si, ou defender para o outro, certas construções verdadeiras (Foucault, 2012bFoucault, M. (2012b). The history of sexuality (Vol. 3). New York: Vintage .). Os saberes com os quais nos deparamos formulam e influenciam a forma como construí mos verdades para nós mesmos e para os outros (Foucault, 2012a). Para Foucault (2012b), não há um indivíduo que decide racionalmente sobre si, mas um sujeito que flutua de acordo com fluxos de saberes sócio-históricos. A verdade, portanto, não é uma construção linear ou universal.
A produção de verdades está associada à constituição de subjetividades na medida em que um sujeito precisa aceitar certos discursos como verdadeiros. Um discurso é tido como verdadeiro quando orienta a conduta dos sujeitos. Nesse sentido, certos discursos são tidos como verdadeiros por certas subjetividades, podendo ter amplo alcance em determinados contextos sociais (Foucault, 2017Foucault, M. (2017). Subjectivity and truth: Lectures at the Collège de France 1980-1981. London: Macmillan.).
Entre as operações da verdade, Foucault (2006Foucault, M. (2006). The history of sexuality (Vol. 1). London: Penguin.) destaca o uso da par resia como uma forma de lançá-la aos outros. É uma prática impulsionadora que se caracteriza pelo ato de dizer a verdade transmitindo um certo modo de vida. Por meio da parresia, tornamo-nos agentes catalisadores do processo de subjetivação porque fazemos com que verdades sejam ditas, discutidas, negociadas. Ela é caracterizada como procedimento técnico ou atitude moral necessários para que a verdade seja dita e para fins de constituição de nós mesmos. A parresia é um dizer-tudo com franqueza, liberdade e abertura para que se diga o que se tem que dizer, quando se tem vontade de dizer e da maneira como se acha adequado dizer. Tudo isso faz da parresia um processo ambíguo, dadas suas múltiplas possibilidades na dinâmica de operações da verdade (Foucault, 2010a).
Ao elaborarmos a verdade por meio da parresia, influenciamos ativamente os outros à nossa volta, ao mesmo tempo que nos associamos a certas verdades e, assim, também nos afirmamos (Foucault, 2011Foucault, M. (2011). The courage of truth. New York: Springer.). A prática parresiana possibilita que formações discursivas entrem em contato e apontem para direções provenientes do resultado de interações. Desse modo, é pos sível constatar nessa prática o conflito entre instituições, grupos sociais, diferentes arranjos históricos e morais, e uma vasta gama de diálogos entre diferentes formações sociais (Foucault, 2010a).
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Epistemologicamente, é possível situar a obra de Michel Foucault em duas instâncias: os ciclos teóricos e os movimentos metodológicos (Dreyfus & Rabinow, 2010Dreyfus, H., & Rabinow, P. (2010). Michel Foucault: Uma trajetória filosófica (2a ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária.). Apesar de existir uma correlação entre ambas, tais instâncias são autônomas entre si, visto que os movimentos arqueológicos e genealógicos são apresentados como escolhas consideradas adequadas a uma releitura de fenômenos (por exemplo, loucura, sexualidade) capazes de representar a constituição de subjetividades na história ocidental (Deleuze, 2005Deleuze, G. (2005). Foucault. São Paulo: Brasiliense.). Por consequência, Foucault (2010a) considera que suas contribuições são uma teoria de práticas (isto é, discursivas, não discursivas). Assim, parece fazer sentido analisar dados em situações de prática, como é o caso de dados obtidos por uma abordagem naturalista (por exemplo, métodos etnográficos), quando é necessária a sensibilidade dos pesquisadores para captar as interações entre as partes investigadas (Bispo & Godoy, 2012Bispo, M. S., & Godoy, A. S. (2012). A etnometodologia enquanto caminho teórico-metodológico para investigação da aprendizagem nas organizações. Revista de Administração Contemporânea, 16(5), 684-704.).
Os métodos etnográficos têm por característica a descrição e interpretação do comportamento cultural de comunidades (DaMatta, 1978DaMatta, R. (1978). O ofício do etnólogo. In E. Nunes (Org.), A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar.; Wolcott, 1999Wolcott, H. (1999). Ethnography: A way of seeing. Oxford: Rowman Altamira.). Desenvolvida por Kozinets (2010Kozinets, R. V. (2010). Netnography. London: Sage ., 2015) para observar relações de consumo em ambientes virtuais, a netnografia é uma adaptação da etnografia tradicional aplicada a comunidades on-line. Assim, para investigar as interações dos fãs do gênero musical indie no contexto da Web 2.0, optamos pela netnografia. Tal escolha também está alinhada à perspectiva pós-estruturalista - sobre a qual a teoria foucaultiana foi desenvolvida -, pois ambas as abordagens compartilham a percepção de que a realidade é fundamen tada na linguagem, sendo composta por um sistema de símbolos culturais (Kozinets, 1998, 2015).
Ao permitir aos pesquisadores uma imersão na comunidade cultural virtual por meio da observação de como ela funciona, a netnografia for nece meios para arquivar comportamentos textualmente acessíveis (isto é, fóruns, redes sociais, comentários), que, por sua vez, levam à compreensão de signos, símbolos, práticas e discursos presentes na comunidade virtual investigada (Kozinets, 1998Kozinets, R. V. (1998). On netnography: Initial reflections on consumer research investigations of cyberculture. In J. Alba & W. Hutchinson. ACR North American Advances Provo: Associationg For Consumer Research, (pp. 366-371). Provo: Association for Consumer Research., 2010). Para execução de uma pesquisa netnográfica, Kozinets (2010, 2015) indica algumas etapas a serem realizadas, as quais passamos a apresentar por meio de suas definições e de como foram operacionalizadas em nossa pesquisa.
Etapa que antecede a execução da netnografia, a escolha da comunidade a ser observada deve considerar sua relevância ao fenômeno, atividades e interações frequentes, bem como substancialidade, heterogeneidade e riqueza no conteúdo das postagens. Após compararmos diversas opções de comunidades virtuais que tratam da música indie, definimos o fórum Music Banter. Esse domínio virtual é frequentemente acessado por usuários ativos de todo o mundo, que interagem frequentemente em trocas de mensagens substanciais e ricas sobre o gênero.
Escolhida a comunidade a ser investigada, realiza-se o entreé cultural, que propicia a naturalização dos pesquisadores, com vistas a uma sensibilização ao contexto cultural, possibilitando a compreensão do comportamento dos membros da comunidade sem perder detalhes que só eles costumam entender. Utilizando um perfil anônimo permitido pelo fórum, observamos interações que permitiram o compreendimento de como funciona a comunidade. O uso do perfil anônimo nos permitiu compreender que essa é uma prática comum aos membros do fandom, tal qual o uso de perfis impessoais que fazem alusão a bandas/artistas do segmento, o que não dá indícios de suas identidades não virtuais. É válido esclarecer que os pesquisadores são ouvintes do gênero, de modo que são capazes de captar significados e mudanças no fluxo de mensagens postadas na comunidade.
Depois desse processo preparatório, a coleta de dados é feita pelo arquivamento das mensagens concernentes às interações dos membros da comunidade investigada. É preciso ter como foco os conteúdos descritivos que tratam do problema da pesquisa. Os dados considerados para a pesquisa se referiram a comentários postados por usuários de várias partes do mundo, em língua inglesa, entre janeiro de 2004 e dezembro de 2017. As mensagens coletadas tratam de uma grande variedade de temas (por exemplo, subgêneros do indie, artistas emblemáticos do segmento, evolução do movimento, comportamento dos fãs) sobre o gênero. Dentre as mais de 500 mil mensagens enviadas por cerca de 28 mil usuários ativos no Music Banter, debruçamo-nos sobre os 13 principais tópicos da plataforma (isto é, threads). Esses tópicos foram explorados em sua totalidade, compreendendo cerca de 300 mil palavras em mensagens dos mais variados estilos: respostas curtas, comentários transversais e explicações longas. O período de recorte dos dados coletados equivale ao momento em que o consumo do gênero musical indie apresentou seu maior crescimento, bem como quando se incorporaram mudanças no acesso ao consumo musical em si: prioritariamente via acesso digital (isto é, arquivos, streaming).
A análise e interpretação dos dados é dividida em movimentos analíticos de leitura, codificação, refinamento, categorização, identificação de relacionamento entre categorias e interpretação teórica. A leitura das mensagens nos permitiu um aprofundamento da compreensão dos significados construídos nas interações fânicas. Esses significados foram, então, codificados com base nas práticas discursivas evidenciadas. Depois os códigos foram organizados por semelhança, para que fossem tematicamente refinados e agrupados, base para a categorização de temas alinhados ao problema de pesquisa. Processo operacional semelhante possibilitou estabelecer as relações entre as categorias, em um processo que exigiu o retorno às mensagens de forma confirmatória. Por fim, foi possível interpretar os resultados a partir das contribuições teóricas que fundamentaram o estudo.
Tais procedimentos devem ser realizados por meio de uma acurada representação da pesquisa (critérios destacados), que diz respeito a critérios de qualidade para a execução da netnografia (Kozinets, 2015Kozinets, R. V. (2015). Netnography: Redefined. London: Sage .). Tivemos o cuidado de seguir rigorosamente os direcionamentos do método netnográfico. Cuidamos para captar de forma crível a dimensão humana das interações observadas, de forma a evocar a ressonância e a verossimilhança do contexto empírico. Procedemos a uma análise de idas e vindas confirmatórias de nossas inferências, em um processo de reflexividade. Como se verá, procuramos descrever os resultados de forma clara e fidedigna, propiciando ao leitor uma clara instrução dos achados, bem como respeitando a práxis observada. Finalmente, a interpretação dos resultados da pesquisa foi teoricamente embasada.
Ainda, esclarecemos que os princípios éticos de nossa pesquisa seguem os direcionamentos de Kozinets (2009Kozinets, R. V. (2009). Netnography: Doing ethnographic research online. London: Sage., 2010) quanto ao comportamento do pesquisador em fóruns, contatos, interações com membros de comunidades virtuais. Para o autor, os dados obtidos na web devem ser livres, concebendo ao ethos investigado o status de democracia geral, quando as interações sociais observadas não inibem, coíbem ou proíbem participação dos usuários. Ao respeitarmos o anonimato dos membros, ao não interferirmos nas interações e ao fazermos uso de recursos disponíveis a todos os outros membros, atendemos ao cuidado com a publicidade, a invasão dos temas discutidos no fórum e a consequente privacidade dos membros.
6. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
Identificamos cinco categorias (C) que tratam de práticas fânicas do gênero musical indie, compostas a partir de 11 códigos (Cod) que as caracterizam. Essas categorias se relacionam entre si, indicando como as práticas do fandom são mutuamente influenciadas e afetadas. Elaboramos a Figura 6.1 para ilustrar tais relações.
As discussões sobre música indie (C1) revelam um processo dialógico, bem como diferenças de opiniões entre os fãs do indie. Em discussões que têm como tema central o gênero que os une, traçam entendimentos e trocam informações ou críticas moderadas sobre diversos aspectos do tema. As falas evocam as percepções individuais e coletivas que são mutuamente influenciadas pela exposição de ideias no fandom. A demarcação de diferenças e a busca por consenso entre consumidores são algo natural do consumo coletivo. É preferível discordar criticamente e apresentar a opinião pessoal sobre o produto que os une a alcançar um consenso de consumo (Lee & Cranage, 2012Lee, C. H., & Cranage, D. A. (2012). Toward understanding consumer processing of negative online word-of-mouth communication. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(3), 330-360.; West & Broniarczyk, 1998West, P. M., & Broniarczyk, S. M. (1998). Integrating multiple opinions: The role of aspiration level on consumer response to critic consensus. Journal of Consumer Research, 25(1), 38-51.). Nesse sentido, Shankar (2000Shankar, A. (2000). Lost in music? Subjective personal introspection and popular music consumption. Qualitative Market Research, 3(1), 27-37.) indica que expressar as percepções subjetivas é fundamental no consumo coletivo musical.
Como cerne da própria reunião comunal, a música indie gera debates (Cod01). Na comunidade, frequentemente existem fluxos de troca de comentários sobre a produção dos artistas do gênero. Principalmente de forma persuasiva, os fãs buscam convencer outros a consumir músicas ou artistas a partir de argumentos fundamentados no universo indie. Para além da exposição de aspectos objetivos (isto é, sonoridade, relevância cultural, álbuns vendidos), a exposição de ideias também traz percepções subjetivas (isto é, ponto de vista, relação pessoal com as músicas).
Complementarmente, impressões pessoais sobre o indie (Cod02) apontam como as percepções dos fãs sobre objetos indie (isto é, artistas, estética, sonoridade) são negociadas no fandom. Por meio de falas em que posicionam como significam o consumo do gênero musical indie, alguns fãs criam fluxos de assuntos. Esses, por sua vez, são retroalimentados por outros fãs, que acrescentam novas percepções de modo a enriquecer os debates.
No trecho a seguir, fãs discutem sobre comparações feitas entre duas bandas. As opiniões convergem, ainda que um aceite a comparação e outro, não.
- dashboard is compared to death cab a lot. it is what i consider a teeny bopper band, which isnt always so bad. they do have one song that i like “vindicated” i think.
- They don’t sound alike, the comparison is invalid.
- that may be true but either way they are compared, i think death cab is better and not as well. but i have read on several sites and they are compared as invalid as it may be4.
Tais discussões podem se desdobrar em debates acalorados e agressivos que posicionam, de uma forma tóxica, opiniões pessoais, gerando exaltações em conflitos sobre o indie (C2). Em interações que ultrapassam o nível de debate, alguns fãs são agressivos com outros para questionar sua fanidade e escolhas de consumo ligadas ao gênero musical indie. Por um lado, alguns fãs atacam outros pelo seu posicionamento e falas no fandom. Por outro, fãs também reagem de forma enérgica a essa agressividade. Hills (2013Hills, M. (2013). Twilight fans represented in commercial paratexts and inter-fandoms: Resisting and repurposing negative fan stereotypes. In A. Morey (Ed.), Genre, reception, and adaptation in the “Twilight” series (pp. 113-129). Aldershot, UK: Ashgate.) considera que a relação íntima com o objeto consumido os leva a desmerecer as escolhas do outro como forma de legitimar a sua própria.
Argumentações agressivas (Cod03) surgem no calor do debate e são vistas em comentários ríspidos, provocações, uso de palavrões e humilhações envolvendo o universo indie. Os fãs, em suas atividades na comunidade, nem sempre concordam em tudo. Por vezes, partem para provar seus pontos de vista de maneira enérgica, ultrapassando os limites da civilidade. Em um debate sobre a influência do mainstream na música indie, para sustentar seu argumento, um fã desmerece o gosto de outro de maneira agressiva:
You literally have no taste. None. There’s a record company marketing exec on acid frantically masturbating and pressing a button that sends a message to a satellite that bounces it down to your brain and gives you a shot of dopamine whenever you listen to any artist with “e” in their name. That is how you interpret music5.
Repreensões enérgicas (Cod04) são feitas a esse tipo de comportamento. São meios que alguns fãs encontram para tentar conter a escalada de agressividade, apresentando-se como baluartes da conduta entendida como adequada na comunidade. Apesar de buscarem o fim dos conflitos, acabam sendo influenciados pelo tom mais acalorado, rejeitando os fãs agressivos com falas igualmente fortes. No trecho a seguir, um fã repreende outro pela forma agressiva que viu em suas mensagens, mas termina lançando mão de insultos.
You’ve spammed the thread with stupid insults that had nothing to do with the topic. “Yes” would have been way easier to type. Allow me to make a suggestion... If you are unable to deal with opinions which differ from yours: go away6.
Esses debates (C1) exaltados (C2) geram repercussão na própria concepção de fanidade. Uma delas é a desacreditação da falsa fanidade indie (C3), que diz respeito à repulsa de alguns fãs acerca da capacidade de outros membros do fandom que demonstraram ser fãs de música indie. Partindo de uma normatização do que é ser fã de indie, alguns fãs apontam posicionamentos falhos e falta de informação sobre o gênero que coloca em xeque a possibilidade de outros membros poderem ser intitulados como fãs. O apego em demasia e a exigência de posicionamentos e participação durante a experiência de consumo caracterizam a fanidade como uma devoção de consumo. É uma característica que diferencia consumidores passivos e ativos (Ortiz et al., 2013Ortiz, M. H., Reynolds, K. E., & Franke, G. R. (2013). Measuring consumer devotion: Antecedents and consequences of passionate consumer behavior. Journal of Marketing Theory and Practice, 21(1), 7-30.; Syrjälä, 2016Syrjälä, H. (2016). Turning point of transformation: Consumer commu nities, identity projects and becoming a serious dog hobbyist. Journal of Business Research, 69(1), 177-190.). Souza-Leão e Costa (2018Souza-Leão, A. L. M. de, & Moura, B. M. (2018). Temos que pegar todos! Discursos identitários sobre o consumo de Pokemon GO no Brasil. Brazilian Journal of Marketing, 17(6), 895-913.) apontam a prática de se questionar a relação fânica por motivos superficiais ou de moda temporária (isto é, acusar de posers). Para Obiegbu, Larsen e Ellis (2019Obiegbu, C. J., Larsen, G., & Ellis, N. (2019). The critical music fan: The role of criticality in collective constructions of brand loyalty. Arts and the Market, 9(1), 65-80.), a prática é ainda mais emblemática entre consumidores de música: serve para demonstrar quem realmente é fiel aos artistas e não apenas conheceu as músicas por meio de ações midiáticas e mercadológicas.
A prática de apontar os equívocos e membros da comunidade (Cod05) reflete críticas sobre a falta de informação dos acusados dessa falha. O entendi mento é de que, para ser fã, os membros da comunidade deveriam ter um conhecimento aprofundado sobre o gênero e seus artistas. Em críticas a afirmações equivocadas sobre detalhes (por exemplo, roupas, músicas, discos, data de lançamentos, formação de bandas), questionam a fanidade de membros da comunidade ao indie. Como o universo cultural do indie foi construído de forma alternativa ao mainstream, as informações sobre o tema não são de fácil acesso, muitas vezes alimentadas e conhecidas apenas por fãs devotos que acompanham o gênero há anos.
Logo, as denúncias da superficialidade (Cod06) apontam para a falha de sustentação de um status de fã pela falta de um histórico coerente como tal. Em seus comentários, fãs acusam outros membros da comunidade de serem posers, indivíduos que fingem ser fãs, mas não possuem conhecimento ou experiência para tal. As afirmações são em tom de alerta, ao verificarem comentários de outros membros que emulam ter domínio de determinados temas, mas estão divulgando informações e detalhes falsos. As denúncias se embasam na própria vivência e relação com o gênero ou artista de alguns fãs para apontar membros que estão fazendo desserviços ao fandom.
Para ilustrar os códigos que rejeitam a postura de outros fãs, apresentamos um diálogo sobre o artista Elliott Smith e o uso de suas músicas no jogo Guitar Hero. Nele, um fã critica a postura de outros a partir da relação com o jogo, apontando como posers aqueles que cometem o erro de não utilizar a camisa correta relacionada ao artista. Tal afirmação revela o preciosismo em exigir um posicionamento mais assertivo de outros fãs. Em seu outro comentário, o fã retruca a exposição que o jogo trará ao artista: outros consumidores vão fingir que gostam de Elliott Smith, sem conhecer verdadeiramente o artista.
- Sonic Youth is a good band for these kinda games but not Elliott. I dont think it’ll be Needle in the Hay because it doesnt seem Guitar Hero worthy. I mean it was one of the first songs I learned to play on guitar. Im thinking something from Figure 8 or From a Basement.
- But, sir... I got one of the last Lilys T’s so... it would be highly unlikely that I’d find a poser wearing one. Also, those scene ***gots are going to be pretending to like Elliott Smith after this is out for a couple of months7.
Em movimento contrário, mas também derivado de discussões (C1) muitas vezes exaltadas (C2), existe uma desvalorização da fanidade indie (C4). Alguns fãs vão de encontro às contribuições do fandom, argumentando que ser indie é ir de encontro à opinião da maioria. Tal acontecimento é notado em práticas como a afirmação de uma individualidade em detrimento da coletividade, de que música é apenas entretenimento e de que a fanidade se baseia em uma simplicidade na fruição do produto midiático. Esse posicionamento tenta estabelecer uma autoridade de argumento oposta à que desacredita o que seria uma falsa fanidade (C3) por falta de maior envolvimento e nível de conhecimento. Assim, apesar de participarem do fandom, parte dos membros da comunidade virtual questiona a validade da fanidade, refletindo uma percepção social de que ser fã seja uma prática exagerada e sem utilidade (Booth, 2013Booth, P. (2013) Augmenting fan/academic dialogue: New directions in fan research. The Journal of Fandom Studies, 1(2), 119-137.; Souza-Leão & Moura, 2018Souza-Leão, A. L. M. de, & Moura, B. M. (2018). Temos que pegar todos! Discursos identitários sobre o consumo de Pokemon GO no Brasil. Brazilian Journal of Marketing, 17(6), 895-913.). Para Kozinets (1999Kozinets, R. V. (1999). E-tribalized marketing? The strategic implications of virtual communities of consumption. European Management Journal, 17(3), 252-264.), esse posicionamento pode ser atrelado a dois tipos de membros de uma comunidade de consumo: os turistas e os minglers. Nos dois casos, não apresentam a devoção ao consumo que Hills (2002Hills, M. (2002). Fan cultures. London: Routledge.) indica como fundamental a um fã.
A afirmação da individualidade (Cod07) coloca esse fã como divergente do consenso da maioria sobre posturas artísticas, produtos midiáticos ou até mesmo a vida pessoal dos artistas. Essa percepção está presente na forma como alguns fãs fazem questão de discordar da maioria do fandom, criticar bandas que são apoiadas na comunidade e exaltar suas opiniões pessoais (isto é, julgamento particular, detrimento do senso comum), acusando a existência de movimentos de manada do grupo em que estão inseridos.
Como desdobramento, esses consumidores afirmam que música é somente entretenimento (Cod08) e, assim, se opõem àqueles que a veem como algo além da fruição sonora. Em suas falas, desmerecem aqueles que consideram o consumo musical algo extraordinário, chegando a questionar qual a validade de ser fã. Criticam a produção de conteúdo em excesso ou a importância atribuída a objetos que classificam como mera diversão.
Por fim, eles também afirmam que a fruição de música deve ser descomplicada (Cod09), diferentemente do que faz a maioria da comunidade, que supervaloriza e torna demasiadamente complexa essa vivência. Argumentam que um conhecimento profundo sobre o gênero e seus artistas não contribui para uma melhor experiência do consumo de música.
Destacamos a fala de um fã que se manifesta de maneira contrária às opiniões entusiasmadas sobre um álbum da banda Arcade Fire. Além de comparar a obra com outras tantas, o fã rechaça a forma como o fandom costuma rejeitar opiniões divergentes.
Right so i’ll probably get flamed to hell for this because it seems if you don’t agree with popular opinion you’re ‘arrogant’ or ‘elitist’ but what the hell i’m past the point of caring what people think. Seriously i’ve seen so many normal rightminded people go nuts about this album declaring it the best thing ever, people who’s opinions & tastes I normally hold dear, wetting themselves over it like R Kelly at a primary school. Yet it’s one of the dullest things I’ve ever heard, there are already a million bands that sound like this lot, what are they doing to deserve such praise? 8
A partir desse comportamento, é possível verificar como alguns consumidores de indie também fazem pontuações negativas sobre o universo que acompanham, seja em relação aos seus fãs ou mesmo a artistas com os quais não se identificam, gerando um desabono do indie (C5). Chamados de antifãs, esses consumidores se posicionam contrariamente a práticas do fandom e aos produtos que consomem (Gray, 2003Gray, J. (2003). New audiences, new textualities. International Journal of Cultural Studies, 6(1), 64-81.; Duffett, 2013Duffett, M. (2013). Understanding fandom: An introduction to the study of media fan culture. London: Bloomsbury.). Para tecerem suas críticas, os antifãs, em alguns casos, chegam a se especializar no assunto a ser abordado, para que sua fala seja o mais acurada possível, revelando um paradoxal e intenso envolvimento com objeto de consumo depreciado (Gray, 2003; Hills, 2019Hills, M. (2019). Anti-fandom meets ante-fandom: Doctor Who dans’ textual dislike and “Idiorrythmic” fan experiences. In M. Click (Ed.) Anti-fandom: Dislike and hate in the digital age. New York: NYU Press .). É uma prática emblemática quando o consumo serve para expressar autenticidade e individualidade dos consumidores que, ao tentarem ser descolados (isto é, hipsters) e alcançar um prestígio social, acabam rejeitando tendências e gostos de outras pessoas (Michael, 2013Michael, J. (2013). It’s really not hip to be a hipster: Negotiating trends and authenticity in the cultural field. Journal of Consumer Culture , 15(2), 163-182.). Sheffield e Merlo (2010Sheffield, J., & Merlo, E. (2010). Biting back: twilight anti-fandom and the rhetoric of superiority. In M. A. Click, J. S. Aubrey, & E. Behm- Morawitz (Eds.), Bitten by twilight: youth culture, media, and the vampire franchise (pp. 207-222). New York: New York University Press .) chamam essa prática de uma retórica de superioridade que implica uma exibição de um status de elite dentro do fandom.
Em relação aos fãs, eles indicam características negativas no modo de fanidade (Cod10) indie. O modo típico de ser fã de indie é apresentado de modo esnobe na maneira de tratar os outros e os temas que os unem. O comentário a seguir apresenta essa percepção, sugerindo que se tenha perdido a acurácia do termo que denomina o gênero: “Every genre has sub genres - but so long as the kids ‘get’ what the word ‘indie’ actually means, that should eliminate any snobbery that sadly accompanies the word”9.
Já no que diz respeito a artistas e produções do gênero, esses antifãs fazem comentários que funcionam como apontamentos da baixa qualidade de produções (Cod11). É o caso de álbuns que são tidos pelos fãs como malfeitos, não possuindo um nível de qualidade já visto em outros trabalhos. No mesmo tom, fazem de alvo músicas que pecam pela falta de originalidade, sendo tachadas de versões mal-acabadas de outras canções e falam mal de trabalhos artísticos que não empolgam o fã, indicados como entediantes. Para ilustrar tal aspecto, apresentamos a fala de um fã que expressa uma crítica severa à evolução da banda The Strokes.
I am not that interested in what The Strokes can do, but their first album was an indication that they can take something tried and true, and at least make it fun to listen to. But after that they just went down more and more... getting more boring as they go. Angles is just a rock bottom product of mediocrity. I am sure even by their standards they are able to do much better, just a shame they never will10.
Os diferentes movimentos fânicos para validar suas verdades na comunidade virtual em que interagem (isto é, categorias) são tentativas de validar opiniões, eruditas e coletivas ou hedônicas e individuais, sobre o indie. Essas validações de opinião equivalem ao que Foucault (2010Foucault, M. (2010a). O sujeito e o poder. In H. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault: Uma trajetória filosófica (2a ed., pp. 273-295). Rio de Janeiro: Forense Universitária .a) denomina prática de um dizer verdadeiro: quando um aprendiz (isto é, fã) expõe ao seu mestre (isto é, fandom), numa relação de afeto mútuo (isto é, relações fânicas), seu conhecimento sobre determinado assunto a ser veridicado.
A relação de afeto mútuo e o sentimento de segurança permitem ao indivíduo propagar uma verdade de si sem limitação alguma. Essa falta de restrições possibilita ao aprendiz se aprimorar continuamente nas exposições de suas verdades ao mestre: é uma validação do conhecimento que alcançou em sua própria reflexão; um movimento em que a verdade de si não mais se limita a si, podendo se tornar um saber social. Esse movimento tanto avança quanto retoma saberes anteriores: só a partir da reflexão de si operada na parresia que nos é possibilitado conhecer a nós mesmos (Foucault, 2010Foucault, M. (2010a). O sujeito e o poder. In H. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault: Uma trajetória filosófica (2a ed., pp. 273-295). Rio de Janeiro: Forense Universitária .a).
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao retornarmos para a pergunta de pesquisa, tendo em vista os resultados apresentados, podemos concluir que as interações entre fãs do gênero musical indie os levam a operar uma parresia de ruptura com base nas diferentes percepções que têm sobre o gênero e a fanidade indie. Suas discussões (C1) sobre o assunto revelam diferenças de opiniões e comportamentos que ficam ainda mais visíveis quando assumem posturas exaltadas (C2). Essa cisão se revela em duas frentes: por um lado, fãs mais envolvidos com o universo criticam aqueles que não demonstram o mesmo comportamento, desacreditando-os como fãs (C3); por outro, esses outros fãs promovem um movimento semelhante, desvalorizando a própria fanidade indie (C4), ancorando-se em um discurso de fruição descompromissada para desabonar sua conduta e o próprio gênero (C5).
Essa ruptura revela uma disputa para se estabelecer o que seja a fani dade (isto é, subjetividade) em relação à música indie. Por um lado, vemos aqueles que se consideram verdadeiros fãs estabelecerem uma autoridade de argumento para se definirem como tal e excluírem dessa condição aqueles que não se encaixam nessa definição. Logo, ser fã de indie pressuporia altos padrões de expertise e envolvimento em relação ao gênero e aos seus artistas. Por outro lado, a estratégia daqueles que não se encaixam nessa ordem é desvalorizá-la, bem como o próprio gênero. Assim, apregoam uma fruição de música baseada em gosto pessoal e diversão. Vemos, portanto, uma parresia ancorada em fundamentos morais bastante distintos: de um lado, erudição e coletivismo; de outro, hedonismo e individualidade.
Observamos, portanto, que o cisma instaurado entre os fãs de música indie se estabelece em meio à colisão entre jogos de verdades que não conseguem dialogar. Parece-nos evidente que o primeiro grupo se apropria de uma narrativa fundante do próprio movimento indie para manter seu status quo em um momento em que o gênero se fragmentou em inúmeros subgêneros e passou a atrair a atenção de um grande volume de apreciadores de música. É possível compreender, com isso, que o que o segundo grupo esteja atacando não sejam a música indie e seus fãs propriamente ditos, mas a versão apresentada pelo primeiro grupo; por isso se articulam por meio de um jogo de verdade que vai ao encontro do que é apresentado como verdade estabelecida.
A parresia de ruptura observada se efetua em um jogo de demarcação de diferenças em que a constituição de uma subjetividade finda por se fundamentar mais na definição de uma outra subjetividade, que lhe parece ameaçadora. Portanto, vemos com muita mais força definições de alter-subjetividades do que delas mesmas: os fãs que se declaram de verdade preservam sua condição pela acusação de que os que não se comportam como eles são fãs falsos; os fãs acusados de não serem autênticos, por sua vez, acusam os primeiros de preciosismos inócuo. O que poderia ser compreendido como uma disputa entre fãs engajados e curtidores se evidencia, de um ponto de vista dessa alteridade, como uma dissenção entre alter-declarados hipsters e posers.
Essas construções revelam que, mesmo entre consumidores de produtos midiáticos, questões de estigma social - comportamento tipicamente imposto de fora para dentro da comunidade (ver Souza-Leão & Moura, 2018Souza-Leão, A. L. M. de, & Moura, B. M. (2018). Temos que pegar todos! Discursos identitários sobre o consumo de Pokemon GO no Brasil. Brazilian Journal of Marketing, 17(6), 895-913.; Gray, Sandvoss, & Harrington, 2017Gray, J., Sandvoss, C., & Harrington, C. L. (2017). Fandom: Identities and communities in a mediated world. New York: NYU Press.) - são articuladas. Por outro lado, isso demonstra a heterogeneidade presente nas relações de fãs, divergindo da noção de unicidade e contributividade fânica, bem como possibilita o entendimento de disputas interfandômicas (ver Hills, 2013Hills, M. (2013). Twilight fans represented in commercial paratexts and inter-fandoms: Resisting and repurposing negative fan stereotypes. In A. Morey (Ed.), Genre, reception, and adaptation in the “Twilight” series (pp. 113-129). Aldershot, UK: Ashgate.). O estudo também revela a existência da parresia em interações digitais, quando membros de comunidades virtuais se sentem tão seguros nesses espaços sociais que se permitem dizer e expor aquilo que concebem sobre o que une a comuni dade, em um exercício ético de dizer verdadeiro em práticas sociais que legitimam o ethos digital (ver Gilewicz & François, 2013Gilewicz, N., & François, A. (2013). Digital Parrhesia as a counterweight to Astroturfing. In Moe F. & Shawn A., Online credibility and digital ethos: Evaluating computer-mediated communications. Hershey, PA: Information Science Reference.). Além de sua contribuição teórica, tais aspectos revelam uma contribuição social do estudo, ao evidenciar a voz de um sujeito social pouco conhecido e, por vezes, estigmatizado, evidenciando uma complexidade em suas dinâmicas relacionais comum a diferentes arranjos sociais mais notórios e legitimados. Por fim, o estudo ainda apresenta como contribuição teórica para o campo da CCT uma abordagem foucaultiana, que, apesar de estar alinhada às discussões da área (por exemplo, Denegri-Knott & Tadajewski, 2017Denegri-Knott, J., & Tadajewski, M. (2017). Sanctioning value: The legal system, hyper-power and the legitimation of MP3. Marketing Theory, 17(2), 219-240.; Chen, 2018Chen, Z. T. (2018). Poetic prosumption of animation, comic, game and novel in a post-socialist China: A case of a popular video-sharing social media Bilibili as heterotopia. Journal of Consumer Culture. doi:10.1177/1469540 518787574
https://doi.org/10.1177/1469540 51878757...
; Mikkonen & Bajde, 2012Mikkonen, I., & Bajde, D. (2012). Happy Festivus! Parody as playful consumer resistance. Consumption Markets & Culture, 16(4), 311-337.), ainda é pouco explorada.
É válido ressaltar que a escolha do delineamento da pesquisa apresenta, simultaneamente, um limite e uma limitação, já que foi observada apenas uma das mais emblemáticas comunidades virtuais de fãs da música indie. Como limitação, exclui os fãs do indie que não se apropriam da tecnologia disponível (isto é, redes sociais, fóruns, blogs) para aprofundar sua relação com movimento musical; como limite, trata-se de uma escolha incidental, alinhada à própria problemática de pesquisa, que se debruça sobre os consumidores de textos midiático mais participativos (Jenkins, 2008Jenkins (2008). Convergence culture: Where old and new media collide. New York: New York University Press.).
Como oportunidades para futuras investigações, entendemos que pesquisas que se debrucem sobre outros fandoms da cultura pop poderiam ser úteis para a elaboração de uma teorização acerca de rupturas fânicas presentes na subjetivação dos fãs. De forma mais ampla, fazer uso das contribuições teóricas de Michel Foucault em estudos sobre a relação entre consumidores e lógicas de mercado também seria profícuo como desdobramento do que foi apresentado aqui.
-
1
Agradecemos à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) o apoio à pesquisa que deu origem a este estudo.
REFERENCES
- Bispo, M. S., & Godoy, A. S. (2012). A etnometodologia enquanto caminho teórico-metodológico para investigação da aprendizagem nas organizações. Revista de Administração Contemporânea, 16(5), 684-704.
- Booth, P. (2013) Augmenting fan/academic dialogue: New directions in fan research. The Journal of Fandom Studies, 1(2), 119-137.
- Bromwich, J. E. (2014). Independent music labels and young artists offer streaming, on their terms. The New York Times Recuperado de https://www.nytimes.com/2014/07/07/technology/independent-music-labels-and-young-artists-embrace-streaming-on-their-own-terms.html
» https://www.nytimes.com/2014/07/07/technology/independent-music-labels-and-young-artists-embrace-streaming-on-their-own-terms.html - Chen, Z. T. (2018). Poetic prosumption of animation, comic, game and novel in a post-socialist China: A case of a popular video-sharing social media Bilibili as heterotopia. Journal of Consumer Culture doi:10.1177/1469540 518787574
» https://doi.org/10.1177/1469540 518787574 - Coscarelli, J. (2017). How Mac DeMarco became the lovable laid-back prince of indie rock. The New York Times . Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/04/27/arts/music/mac-demarco-this-old-dog-interview.html
» https://www.nytimes.com/2017/04/27/arts/music/mac-demarco-this-old-dog-interview.html - Cova, B., & Cova, V. (2012). On the road to prosumption: Marketing discourse and the development of consumer competencies. Consumption Markets & Culture, 15(2), 149-168.
- Cova, B., & Dalli, D. (2009). Working consumers: The next step in marketing theory? Marketing Theory, 9(3), 315-339.
- Cummings, J. (2008). Trade mark registered: Sponsorship within the Australian Indie music festival scene. Continuum, 22(5), 675-685.
- Dale, P. (2008). It was easy, it was cheap, so what? Reconsidering the DIY principle of punk and indie music. Popular Music History, 3(2), 171-193.
- DaMatta, R. (1978). O ofício do etnólogo. In E. Nunes (Org.), A aventura sociológica Rio de Janeiro: Zahar.
- Deleuze, G. (2005). Foucault São Paulo: Brasiliense.
- Delwiche, A., & Henderson, J. (2012). The participatory cultures handbook New York: Routledge.
- Denegri-Knott, J., & Tadajewski, M. (2017). Sanctioning value: The legal system, hyper-power and the legitimation of MP3. Marketing Theory, 17(2), 219-240.
- Drew, R. (2011). Going home for all tomorrow’s parties. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 11(5), 446-452.
- Dreyfus, H., & Rabinow, P. (2010). Michel Foucault: Uma trajetória filosófica (2a ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Duffett, M. (2013). Understanding fandom: An introduction to the study of media fan culture London: Bloomsbury.
- Duffy, D. (2014). Situating men within local terrain: A sociological perspective on consumption practices. In J. W. Schouten, D. M. Martin, & R. Belk (Eds.), Consumer Culture Theory (pp. 81-97). Bingley, UK: Emerald.
- Fairchild, C. (1995). “Alternative”; music and the politics of cultural autonomy: The case of Fugazi and the D. C. Scene. Popular Music & Society, 19(1), 17-35.
- Firat, A., & Venkatesh, A. (1995). Liberatory postmodernism and the reenchantment of consumption. Journal of Consumer Research, 22(3), 239-267.
- Fiske, J. (1992). The cultural economy of fandom. In A. Lewis (Ed.), The adoring audience: Fan culture and popular media (pp. 30-49). New York: Routledge.
- Foucault, M. (2006). The history of sexuality (Vol. 1). London: Penguin.
- Foucault, M. (2010a). O sujeito e o poder. In H. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault: Uma trajetória filosófica (2a ed., pp. 273-295). Rio de Janeiro: Forense Universitária .
- Foucault, M. (2010b). A hermenêutica do sujeito: Curso no Collège de France (1981-1982) São Paulo: Martins Fontes.
- Foucault, M. (2011). The courage of truth New York: Springer.
- Foucault, M. (2012a). The history of sexuality (Vol. 2). New York: Vintage.
- Foucault, M. (2012b). The history of sexuality (Vol. 3). New York: Vintage .
- Foucault, M. (2013). Ditos e escritos (Vol. II). São Paulo: Forense Universitária.
- Foucault, M. (2017). Subjectivity and truth: Lectures at the Collège de France 1980-1981 London: Macmillan.
- Fuschillo, G. (2018). Fans, fandoms, or fanaticism? Journal of Consumer Culture, 20(3), 347-365.
- Gamble, J., & Gilmore, A. (2013). A new era of consumer marketing? An application of co-creational marketing in the music industry. European Journal of Marketing, 47(11-12), 1859-1888.
- Gilewicz, N., & François, A. (2013). Digital Parrhesia as a counterweight to Astroturfing. In Moe F. & Shawn A., Online credibility and digital ethos: Evaluating computer-mediated communications Hershey, PA: Information Science Reference.
- Gray, J. (2003). New audiences, new textualities. International Journal of Cultural Studies, 6(1), 64-81.
- Gray, J., Sandvoss, C., & Harrington, C. L. (2017). Fandom: Identities and communities in a mediated world New York: NYU Press.
- Grossberg, L. (1992). Is there a fan in the house? The affective sensibility of fandom. In L. Lewis (Ed.), The adoring audience (pp. 50-65). New York: Routledge .
- Guschwan, M. (2012) Fandom, brandom and the limits of participatory culture. Journal of Consumer Culture, 12(1), 19-40.
- Hesmondhalgh, D. (1999). Indie: The institutional politics and aesthetics of a popular music genre. Cultural Studies, 13(1), 34-61.
- Hills, M. (2002). Fan cultures London: Routledge.
- Hills, M. (2012). “Twilight” fans represented in commercial paratexts and inter-fandoms: Resisting and repurposing negative fan stereotypes. In Genre, reception, and adaptation in the Twilight series (pp. 113-131). Farnham: Ashgate.
- Hills, M. (2013). Twilight fans represented in commercial paratexts and inter-fandoms: Resisting and repurposing negative fan stereotypes. In A. Morey (Ed.), Genre, reception, and adaptation in the “Twilight” series (pp. 113-129). Aldershot, UK: Ashgate.
- Hills, M. (2019). Anti-fandom meets ante-fandom: Doctor Who dans’ textual dislike and “Idiorrythmic” fan experiences. In M. Click (Ed.) Anti-fandom: Dislike and hate in the digital age New York: NYU Press .
- International Federation of the Phonographic Industry (2017). Global statistics. Recuperado de http://www.ifpi.org/facts-and-stats.php
» http://www.ifpi.org/facts-and-stats.php - International Trade Administration, U.S. Department of Commerce (2017). 2017 Top Markets Report Media and Entertainment Sector Snapshot Recu perado de https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Top%20Markets%20Media% 20and%20Entertinment%202017.pdf
» https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Top%20Markets%20Media% 20and%20Entertinment%202017.pdf - Jenkins, H. (1992). Textual poachers: Television fans and participatory culture New York: Routledge .
- Jenkins, H. (2006). Fans, bloggers, and gamers: Exploring participatory culture New York: NYU Press .
- Jenkins (2008). Convergence culture: Where old and new media collide New York: New York University Press.
- Kedzior, R., & Allen, D. E. (2016). From liberation to control: Understanding the selfie experience. European Journal of Marketing, 50(9-10), 1893-1902.
- Kozinets, R. V. (1998). On netnography: Initial reflections on consumer research investigations of cyberculture. In J. Alba & W. Hutchinson. ACR North American Advances Provo: Associationg For Consumer Research, (pp. 366-371). Provo: Association for Consumer Research.
- Kozinets, R. V. (1999). E-tribalized marketing? The strategic implications of virtual communities of consumption. European Management Journal, 17(3), 252-264.
- Kozinets, R. V. (2001). Utopian enterprise: Articulating the meanings of Star Trek’s culture of consumption. Journal of Consumer Research, 28(1), 67-88.
- Kozinets, R. V. (2009). Netnography: Doing ethnographic research online London: Sage.
- Kozinets, R. V. (2010). Netnography London: Sage .
- Kozinets, R. V. (2015). Netnography: Redefined London: Sage .
- Langlois, G. (2013). Participatory culture and the new governance of communication: The paradox of participatory media. Television & New Media, 14(2), 91-105.
- Lee, C. H., & Cranage, D. A. (2012). Toward understanding consumer processing of negative online word-of-mouth communication. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(3), 330-360.
- Leguina, A., Arancibia-Carvajal, S., & Widdop, P. (2015). Musical preferences and technologies: Contemporary material and symbolic distinctions criticized. Journal of Consumer Culture, 17(2), 242-264.
- Magaudda, P. (2011). When materiality “bites back”: Digital music consumption practices in the age of dematerialization. Journal of Consumer Culture, 11(1), 15-36.
- McDonald, C. (2000). Exploring modal subversions in alternative music. Popular Music, 19(3), 355-363.
- Mead, W. (2009). The alternative rock scene: The stars, the fans, the music Berkeley Heights, NJ: Enslow.
- Meier, L., & Hesmondhalgh, D. (2014). Popular music, independence and the concept of the alternative in contemporary capitalism. In J. Bennet & N. Strange (Eds), Media independence (pp. 108-130). New York: Routledge .
- Michael, J. (2013). It’s really not hip to be a hipster: Negotiating trends and authenticity in the cultural field. Journal of Consumer Culture , 15(2), 163-182.
- Mikkonen, I., & Bajde, D. (2012). Happy Festivus! Parody as playful consumer resistance. Consumption Markets & Culture, 16(4), 311-337.
- Mikkonen, I., Moisander, J., & Firat, A. (2011). Cynical identity projects as consumer resistance: The Scrooge as a social critic? Consumption, Markets and Culture, 14(1), 99-116.
- Minowa, Y. (2012). Practicing Qi and consuming Ki: Folk epistemology and consumption rituals in Japan. Marketing Theory, 12(1), 27-44.
- Obiegbu, C. J., Larsen, G., & Ellis, N. (2019). The critical music fan: The role of criticality in collective constructions of brand loyalty. Arts and the Market, 9(1), 65-80.
- Ortiz, M. H., Reynolds, K. E., & Franke, G. R. (2013). Measuring consumer devotion: Antecedents and consequences of passionate consumer behavior. Journal of Marketing Theory and Practice, 21(1), 7-30.
- Ritzer, G. (2005). Enchanting a disenchanted world: Revolutionizing the means of consumption Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- Ritzer, G. (2008). The McDonaldization of society Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press .
- Ritzer, G. (2014). Prosumption: Evolution, revolution, or eternal return of the same? Journal of Consumer Culture , 14(1), 3-25.
- Ritzer, G., & Jurgenson, N. (2010). Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital “prosumer”. Journal of Consumer Culture , 10(1), 13-36.
- Sanneh, K. (2005). Nothing is certain but death and taxis Recuperado de: https://www.nytimes.com/2005/08/28/arts/music/nothing-is-certain-but-death-and-taxis.html?mtrref=www.google.com&gwh=92CED716C527BC71DAE3EE0C8A70464D&gwt=pay
» https://www.nytimes.com/2005/08/28/arts/music/nothing-is-certain-but-death-and-taxis.html?mtrref=www.google.com&gwh=92CED716C527BC71DAE3EE0C8A70464D&gwt=pay - Scaruffi, P. (2003). A history of rock music: 1951-2000 Bloomington: iUniverse.
- Shankar, A. (2000). Lost in music? Subjective personal introspection and popular music consumption. Qualitative Market Research, 3(1), 27-37.
- Sheffield, J., & Merlo, E. (2010). Biting back: twilight anti-fandom and the rhetoric of superiority. In M. A. Click, J. S. Aubrey, & E. Behm- Morawitz (Eds.), Bitten by twilight: youth culture, media, and the vampire franchise (pp. 207-222). New York: New York University Press .
- Sinclair, G., & Green, T. (2016). Download or stream? Steal or buy? Developing a typology of today’s music consumer. Journal of Consumer Behaviour, 15(1), 3-14.
- Sinclair, G., & Tinson, J. (2017). Psychological ownership and music streaming consumption. Journal of Business Research, 71, 1-9.
- Skancke, J. (2007). The history of indie rock Farmington Hills, MI: Lucent Books.
- Souza-Leão, A. L. M. de, & Costa, F. N. (2018). Agenciados pelo desejo: O consumo produtivo dos potterheads. Revista de Administração de Empresas, 58(1), 74-86.
- Souza-Leão, A. L. M. de, & Moura, B. M. (2018). Temos que pegar todos! Discursos identitários sobre o consumo de Pokemon GO no Brasil. Brazilian Journal of Marketing, 17(6), 895-913.
- Syrjälä, H. (2016). Turning point of transformation: Consumer commu nities, identity projects and becoming a serious dog hobbyist. Journal of Business Research, 69(1), 177-190.
- Waits, J. C. (2008). Does indie mean independence? Freedom and restraint in a late 1990s US college radio community. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 5(2), 83-96.
- West, P. M., & Broniarczyk, S. M. (1998). Integrating multiple opinions: The role of aspiration level on consumer response to critic consensus. Journal of Consumer Research, 25(1), 38-51.
- Wolcott, H. (1999). Ethnography: A way of seeing Oxford: Rowman Altamira.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Jun 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
14 Dez 2019 -
Aceito
01 Out 2020
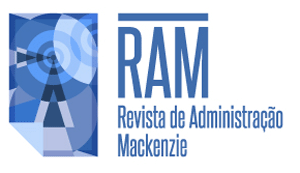

 Fonte: Elaborada pelos autores.
Fonte: Elaborada pelos autores.