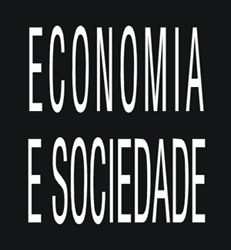Resumos
O artigo discute a crise atual, comparando concepções marxista e pós-keynesiana. A primeira seção examina as razões teóricas para a inerência das crises no capitalismo conforme as duas visões. A segunda mostra como e por que o neoliberalismo agravou a crise, ainda que inerente ao capitalismo. A terceira examina criticamente os limites das políticas atuais de enfrentamento da crise.
Crise financeira; Capital fictício; Marxismo; Pós-keynesianismo
The article discusses the current crisis, comparing Marxian and Post-Keynesian views. The first section examines the theoretical reasons why crises are inherent in the functioning of capitalism, according to each theory. The second shows why and how neoliberalism has caused the crisis to worsen, even though it is inherent to capitalism. The third section critically examines the limits of the current policies in addressing the crisis.
Financial Crisis; Fictitious capital; Marxism; Post-Keynesianism
Crédito, capital fictício, fragilidade financeira e crises: discussões teóricas, origens e formas de enfrentamento da crise atual
Credit, fictitious capital, financial fragility and crises: theoretical discussions, origins and ways of addressing the current financial crisis
Maria de Lourdes Rollemberg Mollo1 (1 ) A autora agradece a Alfredo Saad Filho e Joanílio Teixeira por comentários que melhoraram muito o trabalho, embora se responsabilize inteiramente pelas ideias aqui expostas. (
Professora do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e pesquisadora do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Brasília, DF, Brasil. E-mail: mlmollo@unb.br
RESUMO
O artigo discute a crise atual, comparando concepções marxista e pós-keynesiana. A primeira seção examina as razões teóricas para a inerência das crises no capitalismo conforme as duas visões. A segunda mostra como e por que o neoliberalismo agravou a crise, ainda que inerente ao capitalismo. A terceira examina criticamente os limites das políticas atuais de enfrentamento da crise.
Palavras-chave: Crise financeira; Capital fictício; Marxismo; Pós-keynesianismo.
ABSTRACT
The article discusses the current crisis, comparing Marxian and Post-Keynesian views. The first section examines the theoretical reasons why crises are inherent in the functioning of capitalism, according to each theory. The second shows why and how neoliberalism has caused the crisis to worsen, even though it is inherent to capitalism. The third section critically examines the limits of the current policies in addressing the crisis.
Keywords: Financial Crisis; Fictitious capital; Marxism; Post-Keynesianism.
JEL B51; B59; E44.
Introdução
A crise econômica atual abalou as convicções liberais conservadoras no poder autorregulador do mercado, levando mesmo alguns liberais a, pragmaticamente, intitularem-se keynesianos com a defesa da intervenção salvadora do Estado nas economias.
Não há, porém, consenso, mesmo de última hora, porque as prescrições de política econômica dependem de teorias que permitam inferir sobre a ocorrência de eventos como as crises e, desvendando suas razões, proponham formas de enfrentamento mais adequadas. Nesse sentido, as teorias ortodoxas liberais conservadoras não têm muito a dizer, uma vez que a crença nos preços livres e flexíveis como os melhores reguladores econômicos tornam a crise financeira atual e as anteriores, inexplicáveis. Afinal, não há mercados em que os preços sejam mais flexíveis que os financeiros e, apesar disso, foi neles que ela desencadeou-se.
Ampliam-se, no contexto, oportunidade e espaço para discutir teorias e ideias fora da ortodoxia e dela, críticas, de forma a entender a crise que se vive hoje, suas origens e agravantes e, assim, concluir sobre as formas de enfrentamento mais adequadas. Entre as teorias críticas da ortodoxia, costuma-se mencionar mais o pós-keynesianismo, pois seu conteúdo não ameaça o capitalismo, sendo, por isso, uma concepção mais próxima das visões dominantes2 2 ) As ideias de Keynes mais frequentemente mencionadas são as do início da carreira, próximas aos ortodoxos, desconhecendo-se, em geral, aquelas que rompem de fato com a economia neoclássica, as exploradas pelo pós-keynesianismo. ( . Muito, porém, foi dito e continua a ser escrito na concepção marxista sobre a crise, sua inerência na lógica capitalista, as razões mais profundas e agravantes conjunturais, tudo fundamental à apreensão da crise atual.
Discutir de forma mais ampla as visões marxista e pós-keynesiana, compará-las teoricamente e tirar conclusões sobre os antecedentes e a evolução da crise e o que esperar no futuro é o objetivo deste artigo. No primeiro item, serão abordadas as razões teóricas que tornam a crise inerente ao funcionamento do capitalismo, distinguindo marxistas e pós-keynesianos, No segundo, destacar-se-á como o neoliberalismo agravou a crise, apesar de sua inerência no capitalismo. No terceiro, a partir da discussão comparativa anterior nas duas abordagens, serão analisados os acertos, equívocos e limites das formas de enfrentamento que vêm sendo implementados. Algumas considerações finais encerram o artigo.
1 A inerência da crise: por quê?
Para Marx (1970, 1972, 1974), crise é algo inerente ao capitalismo, fruto do desenvolvimento de oposições e conflitos de interesse que caracterizam esse sistema, e em particular, provém da luta de classes, forjada em lucro que se faz pela exploração da classe trabalhadora pela capitalista e da maximização dele sob a pressão da concorrência, própria um conflito de interesses dentro da classe capitalista. Importa aqui, em particular, explorar a inerência da crise financeira, sua relação com a lógica própria do modo de produção capitalista a partir do crédito e do capital fictício. Ela é a forma particular de crise que pode ser produzida por si mesma como um fenômeno independente de tal forma a reagir somente indiretamente na indústria e no comércio. O pivô dessas crises deve ser encontrado no capital monetário e sua esfera de ação direta é então a esfera deste capital, bancos, bolsa de valores e finança (Marx, 1972, p. 138).
O tratamento da noção de capital fictício, na obra de Marx (1972, 1974), é surpreendentemente atual, para algo desenvolvido há cerca de um século e meio. O capital é dito fictício porque perde relação com a produção real em que o valor é gerado e ampliado de forma a reproduzi-lo como valor que se valoriza.
Dependente do desenvolvimento do crédito para se expandir, o capital fictício não é, no entanto, o próprio crédito, embora sejam associados por alguns marxistas (Nelson, 2008; Meacci, 1998).
Meacci (1998, p. 194), por exemplo, afirma que "... the money capital lent to (deposited at) a bank is in turn turned into nothing but a claim on the bank, and therefore again into fictitious capital".
Marx (1974), porém, define o capital fictício em contraposição ao real, mas como algo distinto do capital dinheiro de empréstimo ou capital portador de juros que constitui o crédito bancário. Enquanto o capital real, no processo de produção, por meio da exploração da força de trabalho, gera mais valia que garante sua própria expansão, o capital fictício é analisado como o que ocorre ao se desenvolver o sistema de crédito e perde relação com a produção real.
Quando as funções técnicas do dinheiro, no processo de circulação do capital produtivo, transformam-se em função autônoma de um capital particular, surge o capital financeiro que, ao estruturar-se nos bancos e demais instituições financeiras, permite amplo desenvolvimento do chamado sistema de crédito.
Uma soma de valor ou dinheiro, uma vez transformada em força de trabalho e meios de produção, dá origem, no processo de produção, a uma mais-valia. Esse dinheiro que se valoriza passa, então, a ser capital e seu valor de uso, o de gerar capital. Segundo Marx (1074, p. 392), a "qualidade de capital potencial" do dinheiro permite que ele se torne mercadoria de "gênero peculiar", o capital portador de juros. Conforme o próprio Marx (1974, p. 404), "emprestar dessa maneira é, portanto, a forma adequada de ceder valor como capital e não como dinheiro ou mercadoria".
É preciso passar pelo processo de produção para gerar valor e, assim, tornar-se capital, ou seja, dinheiro que se valoriza. "Em seu processo de circulação, o capital nunca é capital e sim, mercadoria ou dinheiro ..." (Marx, 1974, p. 397). Com o capital produtor de juros:
o dono do dinheiro, para valorizar seu dinheiro como capital, cede-o a terceiro, lança-o na circulação, faz dele a mercadoria capital; capital não só para si, mas também para os outros; é capital para quem o cede e a priori para o cessionário, é valor que possui o valor de uso de obter mais-valia, lucro....
É justamente a valorização do dinheiro nesse processo que permite o pagamento do juro ao cedente, o capitalista financeiro e o lucro de empresário ao que tomou o empréstimo para empregá-lo na produção.
O crédito, usado pelo capitalista industrial, potencializa a produção, apressando a reprodução do capital e aumentando sua escala. Permitirá, assim, a geração maior de mais-valia. A utilização de recursos de terceiros possibilita que o capitalista invista em meios de produção e contratação da força de trabalho antes de obter lucro suficiente para financiar com recursos próprios tal investimento. Isso justifica a afirmação de Marx (1972, p. 381) de que "capital produtor de juros só produz juros verdadeiramente na medida em que o dinheiro emprestado é efetivamente convertido em capital e um excedente produzido, do qual o juro é uma parte"
Se o dinheiro é empregado na produção e as mercadorias produzidas são vendidas, o crédito é pago e o capital se reproduz em maior escala e ritmo, permitindo que, da mais-valia aumentada, saiam os lucros de empresário e os juros do capital emprestado. Diz Marx, porém, que com o capital fictício as coisas são diferentes: "primeiro se transforma o dinheiro embolsado em juros e quando se tem os juros se acha em seguida (por cálculo de capitalização) o capital que o produziu" (Marx 1972, p. 464).
O processo de capitalização é descrito por Marx como decorrente do hábito já difundido do uso do crédito, potencializando a produção. Só essa prática social amplamente difundida permite que "toda renda monetária determinada e regular apareça como juro de um capital, derive ela ou não de um capital" (Marx, 1974 p. 534).
Assim, toda renda regular é capitalizada à taxa de juros vigente e a soma obtida é considerada capital, mesmo que não tenha sido convertida em meios de produção e força de trabalho, não gerando, portanto, valor novo. A esse não capital, Marx chama de capital fictício.
Ainda, segundo Marx (1974, p. 534),
a coisa é simples. Seja de 5% o juro médio anual. Nessas condições, soma de 500 libras renderia anualmente, se transformada em capital produtor de juros, 25 libras esterlinas. Assim, considera-se toda receita fixa anual de 25 libras esterlinas juro de um capital de 500 libras. Todavia, essa ideia é puramente ilusória, excetuado o caso em que a fonte das 25 libras seja diretamente transferível ou assuma forma em que se torne transferível.
Essa é a definição de Marx de capital fictício. Títulos que têm "movimento próprio", mas quando "se tornam invendáveis, desfaz-se essa aparência de capital" (Marx, 1974, p. 535).
Conforme destaca Brunhoff (1990), não há como gerar valor novo maior, porque ele não passa pelo processo de exploração, por isso o capital é dito fictício. Marx associa esse capital, em primeiro lugar, aos títulos da dívida pública,
porque a soma emprestada ao Estado não apenas não existe mais, mas ainda porque ela jamais foi destinada a ser despendida como capital, a ser investida, e seria apenas seu investimento como capital que teria podido fazer dela um valor suscetível de se conservar por si mesmo (Marx, 1972, p. 465).
Marx associa, também, o capital fictício às ações que se transformam em mercadorias cujo "valor de mercado se determina diversamente do valor nominal, sem que se altere o valor (embora se modifique a valorização do capital efetivo" (Marx, 1972, p. 467)3 3 ) Na edição francesa (Marx, 1970, p. 433), ao invés de capital efetivo, há capital real. ( .
O crédito, apesar de ser dívida e penhora sobre o futuro, uma vez despendido na produção, permite a obtenção de mais valia maior, reproduzindo o capital de forma ampliada, o que viabiliza seu pagamento. Diferente é, porém, a valorização de títulos como as ações, quando se distanciam dos valores reais que lhe deram origem e tanto mais quanto se distanciarem deles. Foley (2005, p. 45), com quem se está de acordo, diz que "loans to productive capitalists are 'real capital'.....The value of existing stock....is largely fictitious capital, and bears only a very loose relation to the value of the corporate assets that it legally represents." A perda de relação ocorre porque os valores das ações dependem de expectativas de dividendos capitalizados e lucros provenientes da mera venda a preços maiores das ações sem relação direta com a produção real.
O capital fictício é, pois, uma categoria da circulação, um caso claro de autonomia da circulação em que seu valor aparece, cresce ou cai conforme oferta e demanda, sem relação direta com a produção cujos valores-trabalho são gerados. Os valores fictícios ampliam-se com o uso dos valores das ações para caucionar empréstimos ou os chamados derivativos de crédito, ou seja, dívidas derivadas de dívidas. Isso também ocorre com os produtos financeiros compostos de dívidas negociados ao longo do crescimento da bolha imobiliária que desencadeou a crise. Sobre tal fato, Marx já falava em duplicação ou multiplicação do capital bancário, graças às diversas formas em que o mesmo capital ou crédito aparece em mãos diferentes (Marx, 1974).
O desenvolvimento do capital fictício na economia mundial contou, em particular, conforme resume bem Guttmann (2008), na segunda metade dos anos 1980, com os chamados junk bonds, ajudados pela onda de ofertas hostis de compras que opõem os interesses dos acionistas (buscando valorizar suas ações) e diretores. Oposição que levou à imposição da lógica da maximizar o valor de mercado das ações. No final dos anos 1990, a combinação de busca de ganhos com elevados riscos e lançamentos primários de ações, IPO (Initial Public Offering), assim como a revitalização da NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) criaram mistura potente para consolidação industrial centrada na internet. Finalmente, em meados de 2000, foi a vez das hipotecas imobiliárias e canais não tradicionais de securitização que inflaram o valor dos ativos financeiros.
Os ganhos especulativos ocorrem quando se espera a valorização dos títulos os quais são embolsados sempre que seus preços sobem. Para que tal valorização ocorra, contudo, é necessário renda maior, proveniente de lucros e salários gerados na produção para sustentar demandas e ampliar, então, preços. O próprio crédito, porém, ampliado e usado de forma a caucionar novas dívidas e compras de ativos financeiros, permitiu que a autonomia entre circulação e produção aumentasse ao longo dos últimos anos.
Como já analisava Marx em sua época, o processo de reprodução do capital, elástico por natureza, poderá ser tensionado ao extremo e a crise, adiada pela "demanda fictícia". Esta, por sua vez, será criada pela fluidez de pagamentos que o acesso a crédito permite e pela própria produção aumentada (Mollo, 1989, p. 127).
Zerbato (2001), analisando o processo de financeirização das economias, lembra que, quanto mais a engenharia financeira é sofisticada, maior é a liquidez e menor parece ser a aposta individual dos aplicadores nos ativos financeiros. Maior poderá ser, então, a divergência entre preços dos títulos e ações e os capitais reais que lhe deram origem. Para os aplicadores individuais no mercado financeiro, as compras de títulos e vendas rápidas a preços maiores permitem aliar liquidez e rentabilidade e ampliam o caráter especulativo das operações (Chesnais, 1996).
Guttmann (2008), contudo, chama ainda atenção para o fato de que, financiadas por crédito, tais operações ampliam muito a rentabilidade esperada.
Marx analisou, também, a separação entre propriedade e função do capital, ou seja, sua aplicação pelos não proprietários, como potencializadora do crescimento da especulação. Dizia ele:
se o sistema de crédito é o propulsor principal da superprodução e da especulação excessiva no comércio, é só porque o processo de reprodução, elástico por natureza, se distende até o limite extremo, o que sucede em virtude de grande parte do capital social ser aplicada por não-proprietários (sic) dele, que empreendem de maneira bem diversa do proprietário que opera considerando, receoso, os limites de seu capital (Marx, 1974, p. 510).
A autonomia entre circulação e produção que define o capital fictício, porém, não é mais que relativa. Seus limites encontram-se justamente no processo de geração das rendas que sustentam as compras de ativos. Elas precisam crescer para fornecerem a demanda necessária à manutenção da valorização fictícia do capital. Quando tais rendas (lucros e altos salários provenientes da produção) param de crescer ou crescem pouco, a demanda e o preço dos títulos e ações caem, mostrando todo o seu caráter fictício.
Na crise atual, os limites objetivos originam-se de uma produção que cresceu menos do que as finanças. Se os recursos aplicados nos mercados financeiros não voltam para investimento na produção, como ocorreu com o predomínio das operações financeiras sobre as produtivas na chamada financeirização, conforme Chesnais (1996 e 2004) e Epstein (2005), faltarão recursos para, aplicados nos mercados financeiros, manter a valorização dos títulos e os consequentes ganhos fictícios obtidos com eles. Essa foi a razão objetiva para a crise.
A propósito disso, diz Marx,
interest and rent, which anticipate surplus value pressupose that the general character of reproduction will remain the same. ....Secondly, it is presupposed more over that the specific relations of this mode of production remain the same during a certain period,... Thus the result of production crystallizes into a permanent and therefore prerequisite condition of production that is, it becomes a permanent attribute of the material conditions of production. It is crises that put an end to these apparent independence of the various elements of which the production processes continually counts and which it continually reproduces" (Marx, 1976, p. 518 , grifo nosso).
A relação da crise com o andamento normal do capitalismo, assim como a questão da separação entre o capitalista e o especulador na tarefa de investir são encontradas, também, nos trabalhos de Keynes (1970, 1983) e dos pós-keynesianos, em particular, Minsky (1977, 1982a, 1982b). São, contudo, argumentos distintos que conduzem essas análises.
Para Keynes (1983), o crédito amplia o investimento ao permitir a satisfação do chamado motivo financiamento, viabilizando a concretização das primeiras etapas dos investimentos. Os mercados financeiros são fundamentais para atrair a poupança para produtos financeiros com liquidez e rentabilidade distintas. Assim fazendo, acomoda a preferência pela liquidez dos poupadores e, ao mesmo tempo, permite a consolidação das dívidas dos investidores, desde que tal preferência seja pequena, viabilizando empréstimos aos investidores de médio e de longo prazo, prazos estes compatíveis com as maturações dos investimentos (Studart, 1995; Herman, 2003).
Keynes (1983) destaca a importância dos bancos e mercados financeiros para o processo de finance-investimento-poupança e funding e, em particular, dando liquidez aos investimentos. Em suas próprias palavras "há um incentivo para empenhar em nova transação o que poderia parecer uma soma extravagante, se essa transação pode ser liquidada na bolsa de valores com lucro imediato" (Keynes, 1970, p. 148). Chama a atenção para o seguinte:
que uma cotação alta para os títulos existentes supõe um aumento na eficiência marginal do tipo de capital correspondente e portanto tem o mesmo efeito que uma diminuição na taxa de juros (uma vez que o fluxo de investimento depende de uma comparação entre a eficiência marginal do capital e a taxa de juros) (Keynes, 1970, p. 149).
Keynes (1970, p. 149, 156) alerta também para a arbitrariedade da convenção que guia tais mercados, para sua "precariedade que cria uma parte não pequena do nosso problema contemporâneo de conseguir um volume suficiente de investimento" e a "influência excessiva e mesmo absurda" das flutuações diárias dos lucros nesses mercados. Isso ocorre em particular quando a propriedade e a gestão separam-se e "certas categorias de investimento são menos governadas pelas previsões genuínas dos empresários profissionais do que pela previsão média dos que operam na bolsa de valores, tal como se manifesta no preço das ações". Chama atenção, assim, para a possibilidade de predomínio da especulação definida como a "a atividade que consiste em prever a psicologia do mercado", sobre o empreendimento, "quando este se converte em borbulha no turbilhão especulativo".
De fato, a tônica internacional que gestou a crise estimulou a busca de ganhos rápidos e levou à preferência generalizada por ativos líquidos, punindo os investimentos produtivos. Daí, a preocupação de diferentes autores em destacar o baixo crescimento dos investimentos produtivos em desfavor dos financeiros o qual caracterizou a financeirização. Crotty (2005) atenta para o 'paradoxo neoliberal' a que isso levou. Para ele, a forma como as corporações não financeiras passaram a reagir à menor rentabilidade, aplicando no mercado financeiro, envolvendo-se em fraudes e rebaixando salários e benefícios dos trabalhadores, implicou em queda de demanda, comprometendo o próprio crescimento futuro da acumulação.
Quanto à idéia de inerência da crise, Minsky (1977, 1982a, 1982b) faz a melhor análise sobre o assunto do lado pós-keynesiano. Para ele, quando tudo caminha bem na economia, as perspectivas dos investidores são animadoras e sancionadas pelo otimismo do sistema bancário. As empresas tendem a endividar-se de forma exagerada e a estrutura financeira torna-se sem solidez, apresentando fragilidade definida pelo montante elevado de unidades especulativas e Ponzi, cujo grau de prudência do endividamento é pequeno.
Para Minsky (1977, 1982a, 1982b), há três tipos de unidades empresariais: i) as hedge, cuja necessidade de liquidez é pequena, porque as saídas de recursos para pagamentos de dívidas são facilmente cobertas pelas entradas de rendimentos esperadas com a atividade normal das empresas e elas não têm necessidade de refinanciar-se; ii) as unidades especulativas, cujas saídas monetárias em pagamento de dívidas superam, a curto prazo, as entradas esperadas e as empresas precisam refinanciar-se; iii) as empresas Ponzi, cujos pagamentos de dívidas superam as entradas de recursos em quase todos os períodos significativos, sendo o valor de seu investimento líquido negativo.
Dadas tais definições, a economia será mais frágil quanto maior for o número de unidades especulativas e Ponzi. Isso porque qualquer endurecimento das condições de empréstimos inviabiliza os refinanciamentos, transformando as unidades especulativas em Ponzi e exigindo que tanto as unidades hedge quanto as especulativas vendam ativos para pagar dívidas. Trata-se, pois, de uma razão subjetiva para a inerência da crise, uma vez que ela decorre do otimismo observado quando tudo anda bem na economia, fragilizando-a. O mesmo para o desencadeamento da crise, pois ele depende do pessimismo do sistema bancário ao endurecer as condições de empréstimos.
A piora nas condições de empréstimos ocorre, de fato, por razões subjetivas. Percebe-se isso bem quando considerado, conforme Mollo (1988 b), que Minsky (1977, 1982a, 1982b) deixa vago o porquê das perspectivas dos bancos serem diferentes das dos empresários, os quais acabam endurecendo as condições dos empréstimos, apesar de tais perspectivas serem convergentes durante a fase otimista de crescimento econômico. Se na fase otimista, os empréstimos, investimentos e a produção crescem, permitindo o pagamento dos créditos já tomados e novos investimentos, não é clara a razão pela qual os bancos tornam-se pessimistas de repente e endurecem as condições de refinanciamento. Segundo Keynes, "o enfraquecimento do crédito é suficiente para levar a uma crise" (Keynes, 1970, p. 155).
Esse enfraquecimento, como descreve muito bem Minsky (1977, 1982a, 1982b), desencadeia o processo deflacionário que ocorre na crise atual. Perdas financeiras e dificuldade de crédito para rolar dívidas levam à venda generalizada de ativos e os preços, de modo geral, caem. Empreendimentos com dívidas sob controle também se tornam especulativos ou Ponzi, mesmo que não haja negócios fraudulentos. Assim, independentemente das fraudes, é o objetivo de se ter lucro máximo que leva ao aparecimento de negócios muito alavancados, fato típico da fragilização das estruturas financeiras dentro do desenvolvimento normal do capitalismo inerente a ele. Não se trata, portanto, de irresponsabilidade pessoal como querem os defensores do mercado4 4 ) Observe-se, a esse respeito, que as unidades Ponzi são assim chamadas em referência a um especulador cujas operações financeiras do tipo pirâmide são fraudulentas. Aqui, porém, a fraude é consequência de uma lógica especulativa que tende a aprofundar-se no capitalismo, não sendo um fator exógeno que provoca as crises, como é o caso nas concepções ortodoxas. ( .
Como já destacava Minsky (1982a, p. 26), "os bancos e outras instituições financeiras são mercadores de débitos". Comercializam seus débitos com detentores de ativos e financiam vários tipos de atividades. A troca de depósitos, que são obrigações de curto prazo, por empréstimos, ou seja, financiamentos de prazo maior ou longo prazo, constitui o negócio dos bancos. Assim, segundo Minsky (1982a, p. 26) "os bancos e outras instituições financeiras são estimuladas a induzir financiamentos especulativos e Ponzi".
O caráter mais subjetivo da inerência da crise financeira para pós-keynesianos aparece aqui, com mais clareza. A fragilização financeira ocorre uma vez que "a estrutura financeira torna-se mais suscetível a crises, mesmo porque os banqueiros e homens de negócios extrapolam o êxito no cumprimento das obrigações financeiras e reduzem a proteção contra a crise financeira" (Minsky, 1982a, p. 26).
Assim, é o otimismo de empresários e bancos que leva à fragilização financeira da economia e ela transforma-se em crise quando os banqueiros, ainda por motivos subjetivos, reveem suas estimativas de ganhos e endurecem as condições de crédito5 5 ) Para uma descrição do papel dos bancos racionando crédito como estratégia de sobrevivência, ver Silva (2008). Ainda assim, é possível verificar um conteúdo subjetivo grande no que desencadeia e no desenrolar da crise. ( .
Para Marx e os marxistas, ao contrário, a crise surge porque o crédito, atendendo ao afã capitalista de acumular para maximizar lucros, tensiona a acumulação ao extremo e, assim fazendo, penhora o futuro. Manter, porém, valorizações contando com o futuro depende de rendas geradas na produção, para comprar os papéis na circulação. Assim, a autonomia da produção referente à circulação é somente relativa ou limitada, colocando termo ao desenvolvimento do capital fictício. Quando faltam tais rendas provenientes de lucros e salários altos gerados na produção, os papéis não são comprados, depreciam-se e o valor fictício dos títulos desaba, desencadeando objetivamente a crise.
No caso da financeirização atual, o desenvolvimento do capital fictício durou muito porque a globalização financeira ligou os mercados de crédito do mundo inteiro Ampliou, também, suas bases de recursos a serem aplicados pontualmente em poucos mercados desenvolvidos e, em bem menor proporção, em alguns mercados emergentes. Isso permitiu valorizar bastante e durante muito tempo, ficticiamente, os papéis. Adiante, haverá mais detalhes sobre essa lógica ao desenvolver as razões ligadas ao neoliberalismo que impulsionaram o capital fictício e estão, por isso, na base da crise atual.
A maior subjetividade na concepção pós-keynesiana para o aparecimento da crise encontra-se relacionada à teoria do valor. Mesmo que se deixe de lado a teoria do valor-utilidade, apreendendo a tentativa pós-keynesiana mais atual de desenvolver uma teoria do valor ligada à preferência pela liquidez, ela continua subjetiva, como é possível verificar na frase de Wray (1992, p.304-305):
Liquidity preference theory is (...) a theory of asset prices or a theory of value for the whole spectrum of assets, including those on the balance sheets of banks. When liquidity preference rises, asset prices adjust to restore equality among expected returns (the 'marginal efficiencies of each). Prices of the most illiquid assets will fall the most, while prices of liquid assets may not fall (and those of the most liquid assets, such as treasure bills, might even rise). In summary, falling liquidity preference occurs in conjunction with rising prices of illiquid assets and with rising money demand, and is met by expansion of the money supply as spending rises and physical assets are produced. Asymmetrically, rising liquidity preference is associated with falling demand and spending (and with reduced output of real assets), and will cause interest rates to rise (and asset prices, to fall) in the face of an inelastic money supply.
Na concepção marxista, porém, a teoria do valor é essencialmente objetiva, baseada no tempo de trabalho, mesmo que Marx (1970, 1972, 1974) conceba a possibilidade de autonomia relativa dos preços na circulação, referente ao valor gerado no processo produtivo. Assim, o que causa a crise é a ausência de rendas para sustentar a demanda por ativos financeiros, iniciando a espiral deflacionária. A lógica de maximização do lucro no processo de acumulação explica o desenvolvimento do crédito no capitalismo, potencializando esse processo. Ao mesmo tempo, porém, permite o aparecimento e o desenvolvimento do capital fictício, resultado da tentativa de o capital desvencilhar-se dos limites impostos pela produção para desenvolver-se e ampliar lucros. A valorização na circulação, porém, tem seu desenvolvimento limitado pelas rendas provenientes da produção. A crise mostra exatamente tais limites.
A esse respeito, é possível dizer que, tanto na concepção marxista quanto na pós-keynesiana, o que move o capitalista no processo de acumulação de capital é a rentabilidade. A ênfase dos pós-keynesianos, contudo, está na rentabilidade esperada do capital e o que se torna importante em seu comportamento é o que, subjetivamente, os agentes esperam no futuro. Assim, a crise, para iniciar-se, depende muito do otimismo ou pessimismo dos investidores e dos bancos.
Para Marx e os marxistas, todavia, a posição do capitalista como tal e seu objetivo de maximizar lucros, potencializando a acumulação de capital, é o que principalmente conduz ao desenvolvimento do crédito e, com ele, do capital fictício. Por outro lado, ao analisarem a crise, importa o que objetivamente falta, em termos de renda e demanda, pois interrompe o desenvolvimento, até então, do capital fictício e desencadeia a deflação.
Para explicar a crise, no argumento pós-keynesiano, destaca-se o que subjetivamente irá acontecer e, no marxista, é o que já ocorreu no passado ou está ocorrendo no processo de exploração e concorrência. Nesse sentido, o argumento marxista explica melhor o desencadear da crise, levando à perda de confiança, enquanto o pós-keynesiano traduz bem os encadeamentos da crise financeira e a transmissão para a acumulação real, uma vez que essa confiança foi perdida.
Isso não significa, porém, que Marx e os marxistas não assumam razões subjetivas ao analisarem as crises concretas em andamento. Ao contrário, será visto adiante, Marx mencionando razões subjetivas para o agravamento das crises como a preferência absoluta pela retenção de dinheiro. São, no entanto, comportamentos vistos como decorrentes de problemas já existentes no processo de acumulação de capital, que agravam as crises, embora não sejam suas causas primeiras.
2 O neoliberalismo e o desenvolvimento da especulação e do capital fictício
Embora a crise seja inerente ao capitalismo, a forma financeira tomada por ela, caracterizada pelo desenvolvimento do capital fictício ou especulativo, ou ainda, chamada mais recentemente por financeirização das economias, foi, em particular, estimulada pelo neoliberalismo que dominou na economia mundial desde o final dos anos 1970. Daí, a crítica ao neoliberalismo tanto por marxistas quanto pós-keynesianos desde há muito.
Observe-se, porém, que a análise marxista, há muito tempo afirma que o neoliberalismo não surgiu por acaso, mas como forma de desvencilhar o capital dos limites impostos pelas regulamentações do Estado do Bem-Estar que vigorou no Pós-Guerra, período dito de compromisso com as classes assalariadas e de repressão da finança (Duménil; Lévy, 2004).
Em particular, essas regulamentações, ao sustentarem salários diretos e indiretos que permitissem a demanda de massa, caracterizando o fordismo e ao limitarem a taxa de juros em situação inflacionária, reduziram a rentabilidade do capital e a possibilidade de avanços da mesma, levando a pressões por mudanças. Não por acaso, o mercado de eurodólares "será a primeira base de operação internacional do capital portador de juros" (Chesnais, 2004).
A tendência a desvencilhar-se das amarras que as normas regulamentares estatais representavam leva à inovação financeira, no caso, de um mercado de dólares fora do controle americano e aplicações europeias em uma moeda, o dólar, cuja gestão está fora da alçada dos vários países europeus. Não por acaso, também o fato emblemático do início do período neoliberal é o aumento, pelo Federal Reserve, da taxa de juros americana, em 1979 (Duménil; Lévy, 2004), marcando o término da chamada repressão financeira.
A partir daí, seguiram-se diferentes formas de liberalização dos mercados com liberdade para o trânsito de mercadorias e serviços, abertura dos movimentos de capitais, liberalização dos câmbios, descompartimentalização ou dessegmentação e desintermediação dos sistemas bancários, desregulamentação generalizada, privatizações e desestatização das economias, caracterizando o que se chama de globalização como o neoliberalismo na prática6 6 ) Observe-se que a retirada do poder regulamentador dos Estados não significa que eles desaparecem, até porque foi necessário que os Estados, começando pelos mais poderosos, admitissem e estimulassem as liberalizações. Por outro lado, a formação de mercados financeiros liberalizados que define a globalização financeira serviu tanto aos que centralizavam a poupança, quanto aos governos, no financiamento das dívidas públicas (Chesnais, 2005). ( . Todos esses processos funcionaram no sentido de estimular o crescimento da especulação em desfavor da produção e, por isso, acham-se na base da crise atual.
A falta de regulamentação dos mercados acirrou a concorrência e esta pressionou por lucros rápidos, passíveis de serem obtidos em operações especulativas, ao contrário dos lucros obtidos em investimentos produtivos, em geral, muito mais demorados. Como ressalta Crotty (2005), os preços dos ativos financeiros cresceram pressionados pela demanda ao mesmo tempo em que o crescimento das economias, como um todo, estagnava. A queda do crescimento, por um lado, deve-se ao aumento das taxas de juros e o desestímulo ao lançamento de ações, privilegiando-se os ganhos especulativos com a recompra das mesmas (Duménil; Lévy, 2004).
Os recursos disponíveis para aplicações financeiras foram viabilizados, conforme já mencionado, pela junção dos mercados de crédito e injeção de recursos em poucos mercados, mas também, muito ampliados com o desmonte das previdências públicas. De fato, esse desmonte liberou recursos vultosos que formaram e/ou alimentaram os fundos de pensão e os fundos mútuos, não por acaso fundos institucionais de importância especial na globalização financeira (Sauviat, 2004). A lógica privada de tais fundos os conduz a buscar ganhos rápidos para mostrar eficiência e atrair clientes. Assim, ao invés de aplicarem em papéis de longo prazo, como convinha ao provimento de pensões a que se destinam, acabam também envolvidos na lógica especulativa (Parenteau, 2005).
A esse respeito, Farnetti (1996) destacou a contradição entre recursos dos trabalhadores que os prejudicam quando, os fundos nos quais eles aplicam, ao seguirem uma lógica especulativa, provocam instabilidade e crises. Tais crises punem, em primeiro lugar e em maior proporção, os trabalhadores, especialmente, os menos qualificados e mais pobres. Aliás, isso dá razão a Brunhoff (1982), para quem a gestão da força de trabalho, por meio das previdências e seguridade social, é papel do Estado, uma vez que, nas mãos dos próprios trabalhadores, põe em risco o lucro, fortalecendo movimentos sindicais. Já, nas mãos dos capitalistas, por perseguirem uma lógica de lucro, os fundos previdenciários deixam de cumprir seu papel, que é o de garantir a manutenção do exército industrial de reserva. A busca de lucro pelos próprios trabalhadores, com os fundos de pensão privados, pune-os como classe, quando as aplicações especulativas são responsáveis por desemprego na esfera produtiva ou pelas crises financeiras.
Como mostra a análise de Sauviat (2004), os consumidores americanos foram estimulados a operar nas bolsas em vista da transferência para os assalariados do risco e custo das aposentadorias, levando ao desenvolvimento dos fundos mútuos americanos. A elevação da taxa de juros em regime de baixa inflação, o desenvolvimento da Bolsa e a liberalização dos mercados ampliaram muito as oportunidades de aplicações. Isso, como mostra Parenteau (2005), inicia o processo e a lógica de alavancagem (ou desenvolvimento do capital fictício) e justifica a longa duração do processo. Devido aos primeiros ganhos, os consumidores americanos apostaram mais, inclusive com base em créditos obtidos, estimulados ainda por análises e informações gerais obtidas via internet. Os fundos hedge, embora com maiores informações sobre os negócios reais que lastreavam os títulos, ao operarem no mercado financeiro, preferiram adivinhar a opinião comum antes dos demais ao invés de usarem tais informações ou "fundamentos". Buscavam, assim, ganhar com os crescimentos dos valores dos títulos acima de seus valores 'reais', seguindo os demais ou, conforme Parenteau (2005, p. 122), optando por ride the way. Afinal, se todos erram, não há punição. Isso os estimulava a arriscar mais na lógica mimética especulativa. O processo de aplicações especulativas amplia-se ainda com as operações dos fundos institucionais já citados.
Para Parenteau (2005), a entrada dos fundos de pensão na lógica especulativa relacionou-se com uma tentativa de regulamentação, usando a própria lógica do mercado. Isso porque o Employment Retirement Income Security Act (ERISA), tentando evitar práticas abusivas desses fundos, impunha multa aos diretores. Buscando cobrir-se contra perdas e insucessos, sempre passíveis de ocorrência, contratavam-se consultores especialistas para indicarem empresas de gestão dos fundos financeiros em um processo de transferência de risco.
Tal comportamento espalhou a tônica especulativa e permitiu que a mesma tomasse uma proporção enorme e durasse muito tempo. O efeito indesejado das medidas reguladoras colocava, particularmente em cheque, a lógica de mercado, uma vez que a forma de regulação escolhida, dentro da tônica neoliberal, buscava justamente respeitar essa lógica. Daí porque, no ERISA, foram estabelecidas punições pecuniárias ao invés de fiscalização das operações e regulamentação estrita, determinando o tipo de aplicação de recursos possível para os fundos de pensão. Aplicam-se mecanismos de mercado, uma vez que o Estado é considerado um alocador de recursos ineficiente, mas, assim fazendo, produziram-se círculos viciosos de especulação acima descritos.
A liberalização generalizada dos mercados de câmbio e de capital também estimulou muito a especulação. Tal liberalização, por si só, já a estimula, porque as flutuações cambiais são usadas para obtenção de ganhos especulativos, comprando uma moeda na baixa para vendê-la na alta. Com a abertura ao movimento de capitais tem-se o que Aglietta (1986) chamou de "mistura explosiva", pois grandes montantes de recursos podem entrar e sair rapidamente dos países, ampliando ainda mais as flutuações e a especulação.
A tentativa de reduzir tais flutuações, impedindo a saída brusca de grande volume de capitais, pressiona os países a elevarem a taxa de juros e, assim fazendo, colocarem risco suas políticas internas. Tais políticas tornam-se dependentes dos mercados externos e restringem crescimento e emprego. Isso é particularmente importante para explicar a maior vulnerabilidade dos países menos desenvolvidos ou periféricos, decorrente de assimetrias monetária e financeira entre esses e os mais desenvolvidos ou países centrais. Prates (2005, p. 282) alerta para os problemas e instabilidades dos países periféricos, cujas moedas, hierarquicamente inferiores às dos países mais desenvolvidos, funcionam mal como reserva de valor. Passam a ser, particularmente, sujeitos a movimentos de fuga nos momentos de incerteza tão comuns no mundo liberalizado. Isso e seu elevado prêmio de risco comprometem a independência de suas políticas monetárias. Do ponto de vista financeiro, a assimetria entre países centrais e periféricos explicita-se em fluxos financeiros para os últimos que dependem de fatores ligados à dinâmica externa fora de seu controle. Derivam, ainda, "da inserção marginal dos países emergentes nos fluxos de capitais globais" uma vez que a venda de moedas e ativos financeiros emitidos por eles tem efeitos marginais sobre a rentabilidade dos portfólios dos investidores globais, enquanto os efeitos potencialmente instabilizadores sobre os mercados de câmbio e capitais emergentes são significativos frente ao pequeno tamanho de tais mercados.
Assim, as variações de entradas e saídas de capitais representam pouco para os países desenvolvidos de onde os capitais saem e para onde retornam e muito para os mercados dos países receptores que enfrentam, então, grandes flutuações ao longo dos ciclos de liquidez nos mercados internacionais, tendo seu crescimento sido moldado e abalado por tais ciclos (Amado; Resende, 2007).
São essas flutuações acentuadas de câmbio que também atraem os especuladores e ampliam o peso dos investimentos especulativos relativamente aos voltados à produção real. Uma vez desencadeada a crise, porém, sua transmissão para as economias dos países periféricos dá-se mais pelos impactos da queda de demanda externa e da entrada de capitais especulativos, afetando o câmbio, do que pela cadeia de crédito, por ser pequeno com relação à produção e tanto mais quanto menor for a proporção. Assim, a economia doméstica pode reagir mais facilmente7 7 ) No caso do Brasil, a crise freou o crescimento e o emprego, mas o impacto foi reduzido não apenas porque a participação do crédito é pequena com relação à produção, mas também porque a ameaça da crise mundial tirou poder do chamado novo consenso de política monetária de caráter neoliberal e permitiu que as taxas de juros caíssem, assim como levou a um papel mais ativo do governo na política fiscal. Finalmente, as políticas de elevação do salário mínimo e das transferências de rendas sustentaram a demanda. ( .
A dessegmentação do sistema bancário verificou-se no mundo todo com a transformação generalizada dos bancos comerciais, de investimento, desenvolvimento etc. em bancos universais ou múltiplos, cumprindo várias funções ao mesmo tempo. Essa dessegmentação dificulta a fiscalização sobre o sistema bancário que passa a ter possibilidades amplas de ganhar em vários mercados com operações especulativas. Como observa Guttmann (2008), a informatização dos mercados financeiros aumenta muito a habilidade do sistema para inovar e, como já dizia Minsky (1957), em seus primeiros trabalhos, a inovação surge na busca para escapar do controle das autoridades monetárias e maximizar lucros.
A liberalização aumenta também a especulação e o risco do sistema porque os bancos, mais informados sobre a situação dos tomadores de crédito, passam a concorrer com os mercados financeiros menos informados, segundo Aglietta (1995). Além disso, a liberalização, com a concorrência acirrada, torna a informação a ser obtida mais difícil e cara, facilitando o aparecimento de operações muito arriscadas.
Todos os fatores analisados ao longo de muitos anos pelos críticos do neoliberalismo levaram a um crescimento da especulação ou do capital fictício enorme. A referência aos estudos heterodoxos, neste artigo, permite perceber que, ao contrário do esperado pelos economistas ortodoxos do mainstream, os teóricos heterodoxos marxistas e pós-keynesianos, ao analisarem criticamente o processo de financeirização das economias, anteciparam os problemas que conduziram à crise atual. Na análise do que provocou a crise, o destaque dos trabalhos está no crescimento menor do investimento e da produção real, quando comparados ao crescimento da finança. É isso que define o próprio processo de financeirização das economias e mostra bem o que, objetivamente, está na base da crise: o descolamento entre a finança e a acumulação produtiva, dando razão aos argumentos marxistas. Em tal sentido, a causa primeira é a redução da valorização dos títulos com as rendas provenientes da produção crescendo pouco. Quanto ao encadeamento da crise, a preferência pela liquidez ampliada com a maior instabilidade da economia liberalizada e a perda de confiança do sistema financeiro em geral e do sistema produtivo depois dele são muito bem descritas pelos argumentos de Minsky (1982a, 1982b).
Os custos sociais do neoliberalismo, mesmo antes da crise, foram incalculáveis. Ela pune os que perderam com o neoliberalismo, ou seja, os trabalhadores, no início, com o fim do chamado "compromisso keynesiano", conforme Duménil e Lèvy (2004). Em seguida, com a concorrência acirrada, a busca de redução de custos acentuou-se em particular sobre os salários, dada a dominação do capital financeiro sobre o produtivo, que aumentava as taxas de juros e, de forma a compensar tais custos, pressionava para a redução dos salários, explicitando um dos fatores que levam a financeirização a ser excludente, de acordo com Salama (1996). As exigências de rendimentos elevados dos investidores institucionais, dentro da lógica que privilegia o acionista, são ajustadas por meio da queda da massa salarial (Plihon, 1999).
Além disso, a pressão da concorrência leva ao progresso tecnológico acentuado, conduzindo ao desemprego tecnológico, enquanto o crescimento contido da produção real constitui-se outro fator que contribui para a pequena capacidade de absorção do mercado de trabalho. Caem, assim, as participações dos salários no total das rendas de diversos países, conforme relatado por Epstein e Jayadev (2005). Os salários que caem não são apenas os diretos, mas os indiretos, com o desmonte das previdências públicas e, nas privadas, com a transferência gradativa dos riscos para os trabalhadores (Sauviat, 2005).
Para Salama (2005), a pressão da concorrência em países menos desenvolvidos exigiria elevação substancial da taxa de investimento para fornecer os bens equivalentes aos importados. Na ausência de taxas de investimento e crescimento elevadas e, em vista das condições financeiras contracionistas, a valorização do capital faz-se pela piora das condições de exploração com aumentos da mais-valia absoluta, intensificando o trabalho por meio de redução dos tempos mortos de trabalho (trabalhador polivalente), trabalho informal, precarização dos empregos etc.
Do ponto de vista da organização dos trabalhadores, Epstein e Jayadev (2005) mostram que os ganhos dos rentistas ao longo da financeirização das economias foram maiores quanto menor era o poder de organização dos trabalhadores, o que, dados os danos dos aumentos das taxas de juros para os trabalhadores, mostrou que a solidariedade deles funcionou como elemento de resistência importante em sua relação com o capital.
Ainda quanto à organização dos trabalhadores, porém, é preciso destacar estudos mostrando que, além de serem resultado de processo de redução de salários indiretos e de transferência de riscos para o trabalhador, o sistema de fundos de pensão funcionou como uma forma de disciplinar os assalariados, conforme Sauviat (2005), envolvendo alguns segmentos, cujos rendimentos parcialmente dependiam da bolsa na defesa da lógica de valorização acionária, contrária à lógica do investimento produtivo, segmentando o mercado de trabalho e aumentando as desigualdades. Mesmo os sindicatos saíram em defesa da lógica acionária, enfraquecendo o que havia de direitos adquiridos pelos trabalhadores.
Se as perdas dos trabalhadores foram substanciais com o neoliberalismo, ainda piores têm sido os ônus uma vez desencadeada a crise financeira. O impacto sobre a economia real destas perdas tem-se tornado devastador e, por enquanto, incalculável. As perdas no mercado financeiro que, objetivamente, refletem valores fictícios, afetam muito a economia real ligada pelo crédito. Por um lado, elas significam de per se quedas de demanda, parcialmente destinadas à produção real, por outro, dívidas não cobertas com consequentes quebras no sistema bancário e, provocando restrições de crédito. Estas, por um lado, obrigam os devedores à venda de ativos, levando à onda deflacionária (Minsky, 1982a, 1982b).
Ademais, as perdas nos mercados financeiros interrompem investimentos e giro dos negócios, ampliando o desemprego e levando ao cancelamento de encomendas de máquinas, matérias-primas e outros insumos. Novamente, outra onda de desemprego, em círculos viciosos, cujo fim é imprevisível. Perdem nesse processo, em particular, os trabalhadores menos qualificados e de baixa renda, com menos reservas para que se mantenham, uma vez desencadeada a crise.
As formas de enfrentamento de tal crise têm sido várias, nem todas defendidas com o mesmo vigor por marxistas e pós-keynesianos, pelas diferenças teóricas aqui apontadas. É o que veremos no próximo item.
3 As formas de enfrentamento da crise e seus limites
Várias têm sido as formas de enfrentamento propostas e adotadas para a crise e cumpre aqui comentá-las não apenas para mostrar a relação com a análise teórica feita anteriormente, mas para destacar maior ou menor relação com o pensamento neoliberal e seus limites como solução dentro do modo de produção capitalista.
Uma vez desencadeada a crise, também são os marxistas e os pós-keynesianos que podem explicar a preferência absoluta pelo dinheiro, nas palavras de Marx (1972, 1974), ou a preferência pela liquidez, para Keynes (1970) e os pós-keynesianos. Nas duas concepções, a importância da moeda no capitalismo aparece com toda a força e explicita-se, em particular, em relação às crises. No caso de Marx (1972, 1974) e dos marxistas, porém, essa busca de retenção da moeda é consequência da crise e busca do poder social que o dinheiro representa na sociedade, observado mais sofregamente na crise em vista da falta de segurança que ela mostra. No caso de Keynes e pós-keynesianos, é causa da crise ao inibir investimento e crescimento (Mollo, 1988a).
De qualquer forma, durante a crise, há concordância entre as duas concepções quanto à busca generalizada pela retenção de dinheiro, o que conduz inevitavelmente à queda das vendas, interrupção da concessão de crédito e queda brusca e prolongada dos preços das mercadorias. Como destaca Marx (1972, p. 516), "o dinheiro aparece de repente diante da mercadoria como meio de pagamento único e verdadeiro modo de existência do valor. Daí, a depreciação geral das mercadorias, a dificuldade e mesmo impossibilidade de convertê-las em dinheiro.
A deflação de preços não faz mais do que mostrar que a crise é de superprodução com valores fictícios a serem depreciados, cumprindo, de forma brutal, a lei do valor. Isso significa que limites da autonomia observada entre os valores fictícios, formados na circulação e processo de produção gerando rendimentos reais que mantêm sua demanda, sustentando a valorização, estabelecem-se de forma brutal. Faltam rendas (lucros e salários) do processo produtivo debilitado. Falta, objetivamente, demanda para sustentar as valorizações fictícias.
Assim, Marx diz que toda crise aparece como crise de crédito e dinheiro, porque se mostra na dificuldade de conversão de títulos em dinheiro. Diz ele:
Mas essas letras representam, na maioria dos casos, compras e vendas reais cuja expansão ultrapassa de longe as exigências da sociedade, o que constitui em última análise a razão de toda a crise. Ademais, massa enorme dessas letras representa especulações puras que desmoronam à luz do dia ou especulações ... malsucedidas; finalmente, capitais mercadorias que se depreciaram ou ficaram mesmo invendáveis... (Marx, 1974, p. 563)8 8 ) Nos Grundrisse Marx também explicita essa idéia de crise impondo limites de forma brutal, dizendo que "é absolutamente necessário que os elementos separados pela força, que em essência vão juntos, se manifestem por meio de explosões violentas como separação de algo que, essencialmente anda junto. A unidade se estabelece pela violência "(G., p. 84). Se o crédito surge por pressão da lógica de maximização de lucro e desenvolve o capital fictício procurando se desvencilhar dos limites da produção real, é a crise que vem mostrar o caráter limitado desta autonomia (Mollo, 1989). .
Keynes (1970) vê uma preferência pela liquidez que produz a crise. Ela decorre da falta de confiança nas expectativas dos agentes diante da incerteza, ou falta de otimismo e confiança nas previsões dos agentes econômicos sobre o que podem receber no futuro como rentabilidade do capital que investem hoje. A preferência pela liquidez inibe o investimento e o crescimento e, nesse sentido, causa a crise.
Observe-se, que também a preferência pela liquidez é mais subjetiva para Keynes e pós-keynesianos porque depende do que esperam acontecer no futuro. Ao contrário da percepção marxista, em que o ocorrido no passado e o que está ocorrendo no presente, objetivamente, é que conduzem à busca pelo poder social que a moeda representa no capitalismo.
De forma a tratar tal preferência pela moeda ou liquidez, a primeira medida de enfrentamento da crise no mundo todo foi a injeção de liquidez pelos Bancos Centrais. Ela vem para impedir, conforme bem analisou Minsky (1982a, 1982b), que uma crise de liquidez transforme-se em crise de insolvência generalizada. Nesse sentido, os Bancos Centrais exercem seu papel de emprestador em última instância, de forma a acalmar os bancos e forçar a baixa da taxa de juros, permitindo que maior número de investidores potenciais, as expectativas de rentabilidade dos investimentos superem as taxas de juros e o processo de investimento prossiga e, com ele, o crescimento da renda e do emprego.
Procura-se, assim, interromper o processo de deflação de preços dos ativos, vistos anteriormente o qual caracteriza a crise. Sobre esse aspecto, Aglietta (1995) destaca que, com a queda geral dos preços dos ativos os bancos, apesar de mais informados do que o mercado financeiro, não podem mais discriminar bons e maus tomadores de crédito o que justifica que contraiam este último de forma generalizada. Daí, a importância de facilitar-lhes a liquidez para se acalmarem. Ao facilitar e melhorar as condições de oferta de crédito, as autoridades monetárias impedem que problemas de liquidez transformem-se em insolvência generalizada. Tal tipo de injeção de liquidez serviu de socorro, de fato, em diversas crises recentes.
Tanto Marx (1972, 1974) quanto Keynes (1970) percebiam, em sua época, os limites desses tipos de solução. Marx alertava, dizendo que:
todo esse sistema artificial de extensão forçada do processo de reprodução não saberia naturalmente ser colocado em pé porque ... o Banco da Inglaterra dá aos especuladores em papel moeda emitido por ele o capital que lhes falta para comprar a totalidade das mercadorias depreciadas (Marx, 1972, p. 490).
Também, Keynes (1970) via a chamada armadilha da liquidez que tornava a politica monetária inefetiva. Em momentos de grande incerteza e desconfiança, qualquer liquidez recebida é retida, não se destinando ao investimento ou à criação de postos de trabalho e renda que reverteriam a situação e é justamente o que vem ocorrendo com as medidas mais recentes de injeção de liquidez ou grande parte delas.
Tal análise, feita por Keynes (1970), faz com que ele proponha uma participação ativa e discricionária do Estado para criar sem objetivo de lucro renda e emprego e, assim, reverter o círculo vicioso da deflação de ativos. Esse tipo de sugestão, porém, como é possível ver com os impedimentos impostos ao Estado para definir investimentos e ações dos bancos e empresas que recebem seus recursos, em particular nos EUA, o neoliberalismo resiste a aceitar.
O próprio Keynes (1970) afirmou que a preferência pela liquidez é resultado das percepções subjetivas sobre o que esperar do futuro em termos de ganhos, podendo tornar inócuas injeções de liquidez para estímulo à iniciativa privada, porque é possível a liquidez ser toda retida. Isso se mostrou frequente e geral após as primeiras injeções de liquidez no mundo todo, levando os governos a se voltarem para as próprias empresas com problemas, injetando nelas diretamente a liquidez, mas também obtendo pouco sucesso.
O objetivo anunciado de impedir o desemprego e, se possível, aumentar o número de postos de trabalho disponíveis, não foi cumprido a contento, seja porque a crise em andamento levava a outras falências e demissões, seja porque a preferência pela liquidez dos beneficiados fazia com que não destinassem a liquidez injetada a gastos, investimentos e aumento de emprego.
O socorro nas formas de enfrentamento atuais nunca é pensado para os prejudicados, porque a defesa da propriedade privada não o permite mesmo que permita salvar bancos. Assim, não se empresta para os moradores das habitações hipotecadas. A razão é o temor de deixar o sistema de mercado. A crença nos mercados divulgada e defendida de forma dominante impede a percepção de seu insucesso. Daí, a proposta de enfrentar a crise, financiando pacotes quando os créditos podres ou as dívidas entrariam e, dessa forma, seriam precificados pelos mercados. Difícil aceitar que o mesmo mercado que precificou tão mal e provocou a crise possa ser chamado, novamente, a regular as economias.
A pretensão dos marxistas ao preferirem medidas diretas não é salvar o capitalismo, mas reduzir para os trabalhadores e dentre eles os de renda mais baixa o ônus da crise. Preferem, então, que o emprego e a renda sejam poupados. Assim, mesmo desacreditando no capitalismo e buscando mudanças substanciais da economia e da sociedade, escolhem medidas que atinjam diretamente os trabalhadores, os quais nenhuma responsabilidade tiveram quanto à crise e são responsáveis pela produção, embora dela, excluídos. Nesse sentido, para reduzir-lhes os ônus da crise recente, melhor seria que os empréstimos fossem diretamente dados aos moradores das casas hipotecadas e devedores do sistema bancário. Fosse isso feito, o poder de reversão do ciclo vicioso seria realizado por interrupção da queda dos preços das habitações, aumento do consumo e, então, do investimento e emprego.
Também, seria o caso com a criação de empregos e renda generalizados, com os recursos empregados na injeção de liquidez. Isso, porém, o mercado e seus defensores não permitem. É preocupante não apenas porque torna impossível reverter os círculos viciosos de ampliação do desemprego, queda de demanda, expectativas desfavoráveis, quedas de investimento e mais desemprego..., mas ainda porque a crise passa a punir exatamente os que menos participaram das fases de bonança. Dá razão tal fato a Marx (1970, 1972, 1974) quando, ao desvendar o lado contraditório e opressor do capitalismo, mostra que os mais prejudicados são sempre os trabalhadores, apesar de responsáveis pela geração de valor e enriquecimento no capitalismo.
Outra forma de enfrentamento tentada é a redução de impostos na esperança de que se reduza o desemprego e aumente os postos de trabalho novos criados. Também, essa medida não é segura em termos de resultado e, ao reduzir o poder de gasto dos governos, elimina seu poder de atuação anticíclica, fragilizando suas finanças.
Observe-se, porém, que todas as soluções consideradas mais radicais pelos neoliberais são ainda limitadas, porque procuram reaver o chamado compromisso keynesiano em vigor no imediato pós-guerra. Este, todavia, já mencionamos, não desapareceu por acaso, mas por pressão da lógica capitalista de lucro e lucro máximo. Assim, os problemas enfrentados no passado pelo compromisso keynesiano permanecem apontando, por si só, seus próprios limites e mostrando que é preciso avançar, na crise, na busca de soluções que sejam, de fato, transformadoras.
Considerações finais
Houve, ao longo deste artigo, visões heterodoxas que, de diversas maneiras e por meio de diferentes análises apreenderam as características da chamada financeirização das economias e, assim fazendo, anunciaram a crise atual e seus desdobramentos. Foi vista, ainda, a sustentação teórica dessas visões nas noções de Marx (1974) e Keynes (1970) sobre o desenvolvimento das ideias quanto ao capital fictício ou o especulativo, a partir de noções distintas, mas igualmente interessadas em mostrar a crise como algo inerente ao capitalismo. Analisou-se que, apesar de inerente ao funcionamento do capitalismo, o capital fictício e/ou a especulação podem ser desenvolvidos particularmente com o neoliberalismo, que esteve então estreitamente ligado a seu aparecimento.
O acirramento da concorrência, com a liberalização, levou à busca de lucros rápidos, especulativos. A transformação dos bancos em universais dificultou a fiscalização e a regulação do sistema bancário, permitindo o desenvolvimento de inovações financeiras de risco cada vez maior. A necessidade de transferir tal risco provocou aparecimento de produtos financeiros complexos que o escondiam. A liberalização do câmbio ampliou suas flutuações e o movimento liberalizado de capitais potencializou-as, aumentando as possibilidades de ganhos especulativos com o comércio de moedas. Taxas de juros altas em fase de inflação baixa estimularam as aplicações financeiras, enquanto o desmantelamento do sistema público de previdência, por sua vez, jogou nos fundos de pensão privados enorme massa de recursos, justificando o papel importante que tiveram nos mercados e financerização das economias. Enquanto se prolongava esse mimetismo especulativo, os recursos dedicados ao investimento produtivo e à acumulação de capital real mostravam crescimento sempre menor, ampliando o descolamento da circulação com relação à produção, o qual define o caráter fictício do capital em desenvolvimento.
Na concepção pós-keynesiana, a crise decorre da incerteza que permeia as decisões econômicas no capitalismo, incerteza esta provocada pelo futuro desconhecido e descentralização das decisões sem que se possa antever o resultado líquido delas. Tal situação conduz a uma preferência pela liquidez que, seja da parte dos bancos ao endurecerem as condições de empréstimos, seja dos investidores, inibe o investimento e leva à queda da renda e do emprego. Atribuída à incerteza e à perda de confiança dos agentes econômicos, em particular bancos e investidores, a concepção keynesiana ajuda, sobretudo, a entender o encaminhamento da crise, uma vez iniciada.
O neoliberalismo deu origem, na concepção pós-keynesiana, ao aparecimento de inovações financeiras cada vez mais arriscadas, alavancando muito a economia e fragilizando-a. Da mesma forma, porém, que Minsky (1982a, 1982b) não deixa claro a razão pela qual os bancos endurecem o crédito, divergindo dos investidores quanto às rentabilidades esperadas, quando, até então, compartilhavam do mesmo otimismo, fica obscuro o motivo da preferência pela liquidez desses bancos ao desencadearem o processo deflacionário, não concedendo crédito ou endurecendo as condições para sua obtenção. Nesse sentido, considera-se que o corte de crédito por parte dos bancos explica bem o encadeamento da crise, embora diga pouco sobre sua razão primeira ou sobre o que a desencadeia.
Já, para os marxistas, não é a incerteza subjetiva que provoca a crise, mas problemas objetivos colocados por uma lógica de lucro baseada na exploração de uma classe pela outra e premida pela concorrência entre capitalistas. A busca de lucro máximo estimula o desenvolvimento do crédito e este, o desenvolvimento do capital fictício que reflete o movimento do capital, buscando desvencilhar-se de barreiras e limites para obtenção de lucros. A junção dos mercados de crédito ao longo da globalização financeira representa uma massa enorme de recursos aplicados, sobretudo, em poucos mercados financeiros desenvolvidos e, em menor medida, em mercados emergentes. Isso dá fôlego mais prolongado ao desenvolvimento do capital fictício, que pode então se desenvolver durante muito tempo. Ao longo do período, porém, a aplicação de recursos em ativos financeiros especulativos funciona como punção no sentido de inibir a acumulação de capital real ou o crescimento da atividade produtiva, de onde saem rendas (lucros e salários altos) que sustentam a valorização fictícia nos mercados financeiros. Assim, chega-se às primeiras dificuldades de valorização que desencadeiam vendas significativas de ativos e iniciam a crise.
Atribuída à incerteza e ao neoliberalismo, é possível evitar as crises, segundo os pós-keynesianos, com o retorno à ação reguladora do Estado o qual, embora não possa eliminar a incerteza, irá melhor administrá-la por meio da centralização de informações. Principalmente, não agirá como os demais participantes da economia, por motivos e decisões econômicas afetados pela moeda, mas, com o objetivo de regulação econômica. Assim, não precisa participar do chamado cálculo econômico.
Para os marxistas, porém, a solução que passa pelo Estado é limitada. Esses limites mostraram-se no próprio aparecimento e desenvolvimento do neoliberalismo, que não foi mais do que uma reação à regulação do período pós-Segunda Guerra Mundial. Tais limites vêm-se explicitando na resistência em aceitar um papel mais ativo, discricionário e distributivo do Estado nas formas de enfrentamento atuais, que mostram como o pensamento neoliberal ainda é dominante.
Sem dúvida, a regulação estatal fornece soluções transitórias que melhoram a posição da classe trabalhadora na relação capital-trabalho, razão pela qual é necessário continuar defendendo-as. São, porém, soluções limitadas, requerendo alternativas mais transformadoras.
Trabalho recebido em 17 de dezembro de 2009 e aprovado em 11 de novembro de 2010.
- AMADO, A. M.; RESENDE, M. F. C. Liquidez internacional e ciclo reflexo: algumas observações para a América Latina. Revista de Economia Política, v. 27, n. 1 (105), p. 41-59, jan./mar. 2007.
- AGLIETTA, M. La fin des devises clés: essai sur la monnaie internationale. Paris: La Découverte, 1986.
- ________. Macroéconomie financière. Paris: La Découverte, 1995.
- BRUNHOFF, S. État et capital. Paris: Maspero, 1982.
- ________. Fictitious capital. In: EATWELL, J.; MILGATE, M.; NEWMAN, P. (Ed.). Marxian economics The New Palgrave Dictionary. New York/London: Macmillan, 1990.
- CHESNAIS, F. (Ed.). La mondialisation financière gênese, coûts et enjeux. Paris: Syros, 1996.
- ________. A finança mundializada. São Paulo: Boitempo, 2004.
- CROTTY, J. The neoliberal paradox: the impact of destructive product market competition and 'modern' financial markets on nonfinancial corporation performance in the neoliberal era. In: EPSTEIN, G. A. (Ed.). Financialization and the world economy. Cheltenham, UK: Northhampton; MA, USA: Edward Elgar, 2005.
- DUMÉNIL, G.; LÉVY, D. O neoliberalismo sob a hegemonia norte-americana. In: CHESNAIS, F. (Org.). A finança mundializada São Paulo: Boitempo [1996], 2004.
- EPSTEIN, G. A. (Ed.). Financialization and the world economy. Cheltenham, UK: Northhampton; MA, USA: Edward Elgar, 2005.
- ________; JAYADEV, A. The rise of rentier incomes in OECD countries: financialization, Central Bank policy and labor solidarity. In: G. A. EPSTEIN (Ed.), Financialization and the World Economy, Cheltenham, UK . Northhampton, MA, USA: Edward Elgar, 2005.
- FARNETTI, R. Le role des fonds de pension et d'investissement collectives anglo-saxons dans l'essor de la finance globalisée. In: CHESNAIS, F. (Ed.). La mondialisation financière gênese, coûts et enjeux. Paris: Syros, 1996.
- FOLEY, D. Marx's theory of money in historical perspective. In: MOSELEY, F. (Ed). Marx's theory of money Modern appraisals. Houndmills, Basingstoke: Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- GUTTMANN, R. A primer on finance-led capitalism and its crisis. Revue de la Regulation, n. 3-4, 2008. Disponível em: http://regulation.revues.org/index5843.html
- HERMANN, J. Financiamento de longo prazo: revisão do debate e propostas para o Brasil. In: SICSÚ, J.; OREIRO, J. L.; PAULA, L. F. R. de (Ed.). Agenda Brasil: políticas econômicas para o crescimento com estabilidade de preços. Barueri-SP: Manole, 2003.
- KEYNES, J. M. Teoria geral do emprego, do juro e do dinheiro. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1970.
- ________. The collected writings of John Maynard Keynes (especialmente o v. XIII e escritos pós-Teoria Geral). London: Macmillan; Cambridge University Press, 1983.
- MARX, K. Theories de la plus value Paris: Editions Sociales, 1976.
- _________. Capital London: Lawrence & Wishart, 1970. v. I.
- _________. Capital London: Lawrence & Wishart, 1972. v. III.
- _________. O Capital, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974. Livro Terceiro, v. V.
- _________. Manuscrits de 1857-1858 ("Grundrisse"). Paris: Editions Sociales, 1980.
- MEACCI, F. Fictitious capital and crises. In: BELLOFIORE, R. (Ed.). Marxian Economics A reappraisal. London/New York: MacMillan/St. Martin's Press, 1998.
- MINSKY, H. Central Bank and money market changes. Quarterly Journal of Economics, v. 71, n. 2, May 1957.
- ________. A theory of systemic fragility. In: ALTMAN; SAMETZ (Ed.). Financial crises John Wiley & Sons, 1977.
- ________. The financial instability hypothesis: capitalist process and the behavior of the economy. In: KINDLEBERGER; LAFFARGUE (Ed.). Financial crises Cambridge, 1982a.
- MINSKY, H. Inflation, recession and economic policy Armonk, New York: M. E. Sharpe, 1982b.
- MOLLO, M. L. R. Moeda e taxa de juros em Keynes e Marx: observações sobre a preferência pela liquidez. Estudos Econômicos, Instituto de Pesquisas Econômicas, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 5-28, 1988a.
- ________. Instabilidade do capitalismo, incerteza e papel das autoridades monetárias: uma leitura de Minsky. Revista de Economia Política, v. 8, n. 1, jan./mar. 1988b.
- ________. Monnaie, valeur et capital fictif. Thèse (Doctorat)Université de Paris X, Nanterre, Paris, 1989.
- NELSON, A. Fictitious capital and real compacts. Radical Notes, 15 Oct. 2008.
- PARENTEAU, R. W. The late 1990's US bubble: finacialization in the extreme. In: EPSTEIN, G. A. (Ed.). Financialization and the world economy Cheltenham, UK: Northhampton; MA, USA: Edward Elgar, 2005.
- PLIHON, D. A economia de fundos próprios: um novo regime de acumulação financeira. Economia e Sociedade, Campinas, n. 13, p. 41-56, dez. 1999.
- PRATES, D. As assimetrias do sistema monetário e financeiro internacional. Revista de Economia Contemporânea, v. 9, n. 2, maio/ago. 1999.
- SALAMA, P. La financiarisation excluante: les leçons des économies latino-américaines. In: CHESNAIS, F. (Ed.). La mondialisation financière gênese, coûts et enjeux. Paris: Syros, 1996.
- SAUVIAT, C. Os fundos de pensão e os fundos mútuos: principais atores da finança mundializada e do poder acionário. In: Chesnais, F. (Ed.). A finança mundializada. São Paulo: Boitempo, 2004.
- SILVA, T. F. M. R. Uma análise sistêmica para o papel dos bancos e das firmas no desenvolvimento do ciclo Minskyano. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 13, 2008. João Pessoa, PB: SEP, 2008. http://www.sep.org.br Acesso em: 20 jul. 2011.
- STUDART, R. Investment finance in economic development. London: Routledge, 1995.
- WRAY, R. Commercial banks, Central Bank, endogenous money. Journal of Post Keynesian Economics, v. 14, n. 3, Spring 1992.
- ZERBATO, M. L'instabilité financière, forme de la crise du capitalisme fianciarisé. In: HUSSON; JOHSUA; TOUSSAINT; ZERBATO. Crises structurelles et financières du capitalisme au 20e. Siècle. Paris: Sillepse, 2001.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
12 Jan 2012 -
Data do Fascículo
Dez 2011
Histórico
-
Recebido
17 Dez 2009 -
Aceito
11 Nov 2010